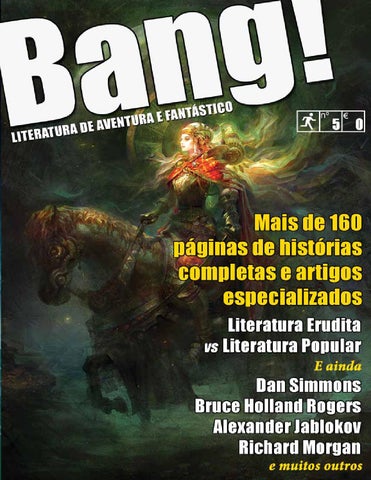revista BANG! [ 1 ]
Bang! 5 Índice [ficção]
[não ficção]
Eu Sou um Carrasco
04 Telmo Marçal
Senhor Bentley e os Velhos Ágata Ramos Simões O Esplendor das Ruínas
09
12 Vasco Luís Curado
Iniciação António de Macedo Dois Contos de...
Murmúrios das Profundezas Banda Desenhada
Colecção Bang! Terceiro Trimestre de 2008
16
A Ficção, por Henry James e Roberts Louis Stevenson
22 Dan Simmons
18 Bruce Holland Rogers
Literatura Erudita VS. Literatura Popular António de Macedo, David Soares, João Seixas
66
À Descoberta do Fórum Fantástico
158
«O Optimismo é algo muito difícil de manter!» Entrevista a Richard Morgan
160
Quem Quer Escrever para Sempre
A Sombra Deslizante
08
14
Anel da Memória Alexander Jablokov
A «Dama Margaret» Keith Roberts
Publique o Seu Conto na Revista Bang!
85 João Barreiros 113
137 Robert E. Howard 173
5 Estrelas Crítica a “Carbono Alterado”
Muito mais do que Murmúrios Rui Ramos 5 Estrelas Crítica a “Os Leões de Al-Rassan
43
168 João Seixas
170
181 Safaa Dib revista BANG! [ 2 ]
[editorial]
Eu Nobel, tu Nobel, ele Nobel Luís Corte Real «Não há que temer experiências novas na literatura. Há mundos por descobrir. Há grandes autores para conhecer. Do outro lado. Deste lado.»
O
tempo é relativo, dizem. E a periodicidade da da revista Bang! tem provado isso mesmo: rapidamente os três meses entre dois números se transformam em quatro ou cinco. Mas vamos tentar compensar os nossos leitores com tamanho e qualidade. O número 5 da revista Bang! oferece mais de 180 páginas de ficção (sempre histórias completas, acabaram-se os excertos), artigos, críticas e entrevistas aos melhores escritores a que conseguirmos deitar a mão. om A Sombra Deslizante temos o prazer de dar a conhecer um pioneiro do Sword & Sorcery, o incontornável Robert E. Howard. Continua a ser lido e a empolgar setenta anos depois. Quantos escritores do seu tempo se podem gabar do mesmo? Keith Roberts, autor daquele que é considerado um dos melhores romances de fc de sempre, estreia-se na Bang! com A «Dama Margaret». Bruce Holland Rogers oferece-nos dois pequenos e deliciosos contos e mostra-nos que a arte da ficção curta tem as suas próprias regras. Os autores portugueses também marcam presença: Telmo Marçal com ironia, Ágata Ramos Simões com a brejeirice do Sr. Bentley, Vasco Luís Curado com as suas histórias psicológicas, António de Macedo com o seu background esotérico, e João Barreiros com a última parte do seu tríptico explicativo do futuro da literatura e do presente da Educação em Portugal. a não ficção temos um artigo sublime de Dan Simmons sobre Henry James e Robert Louis Stevenson, uma apresentação do Fórum Fantástico (começa já dia 2 de Outubro), uma entrevista a um dos melhores escritores de fc da última década: o cí-
C
N
revista BANG! [ 3 ]
nico e noir Richard Morgan, e ainda uma extensa tertúlia de David Soares, João Seixas e António de Macedo, sobre Literatura Erudita vs. Literatura Popular. Com tudo o que de bullshit isso acarreta. é precisamente sobre bullshit e editoras que procuram envernizar-se de prestígio que termino. Haverá coisa mais fácil do que gerir uma editora que publica autores nobilados? Basta ir à internet e consultar a lista com os vencedores do prémio. Muitos nunca foram traduzidos para português, ou se o foram, terão bastantes obras por traduzir. E já agora fazer ofertas pelos vencedores do Booker, Goncourt e Femina. E pelos finalistas também, afinal, pode-se sempre pôr na capa que foi finalista dum prémio de que ninguém pode dizer mal. E pronto, temos uma editora de prestígio. Que nem precisa de ler os livros que publica, afinal, alguém já os leu e disse que eram bons. Nem precisa de descobrir os autores, também já alguém o fez. E o marketing está garantido pelos media. Como é tão mais difícil apostar em excelentes autores que são discriminados porque estão associados a géneros alternativos. E publicar livros maravilhosos que são alvo de preconceito porque vão para lá da realidade e se embrenham no fantástico de que a crítica actualmente parece ter tanto nojo, aversão, medo. eço aos leitores que abandonem o rebanho. Experimentem virar as costas aos críticos que pastoreiam. Não há que temer experiências novas na literatura. Há mundos por descobrir. Há grandes autores para conhecer. Do outro lado. Deste lado. BANG!
E
P
Luís Corte Real é editor do Grupo Saída de Emergência. Depois de quase dez anos a trabalhar em publicidade, apercebeu-se que a vida é curta e decidiu trabalhar no que gosta: livros. BANG!
[ficção]
Eu Sou um Carrasco Telmo Marçal «Mas agora também já não importa. Deram-me um bom anestésico. Não me dói nada. E está quase a chegar a minha vez de entrar para o palco das execuções. Estou um bocadinho descomposto, mas vou fazer os possíveis para não parecer mal, quando me virem logo à noite nas televisões.»
E
u sou um carrasco. Não um daqueles importantes, que fazem as execuções em directo dos traidores mais mediáticos, mas tão-somente um funcionário cumpridor, zeloso e anónimo. Desempenho a minha missão na terceira esquadra do bairro Sul que, como sabem, é o ninho dilecto de tudo quanto é malfeitores e sediciosos na nossa bela cidade. Só no meu piso, lá na esquadra, faço parelha com mais uns trinta da mesma profissão. Já lá vão para mais de dez anos desde que me iniciei neste mister. E apesar de nunca ter estado sob as luzes da ribalta, tenho para mim que consegui atingir um estatuto muito respeitável. Justifico esta pontinha de vaidade com o facto de, ainda não há três meses, me terem designado um gabinete privado, com tudo quanto há de melhor para o desempenho da arte. Até afiançaram que ficava à vontade para requisitar qualquer equipamento especial de que viesse a sentir precisão. A rotina do dia a dia é ocupada quase sempre por encomendas das equipas de investigação. E já não foram tão poucos como isso, os elogios que recebi dos Senhores Comissários, pela presteza e desenvoltura com que despacho os trabalhos, por mais bicudos que se adivinhem. De quando em vez, e ultimamente com crescente regularidade, até me vêm parar às mãos alguns casos especiais, do género que costuma ser tratado no último piso, por colegas mais credenciados.
Faz hoje três dias que fui confrontado com uma dessas situações, ou pelo menos assim me pareceu na altura. Acabara de tratar o primeiro da lista e estava já na fase das lavagens. Não sei se era por o terem deixado descansar demais – os tipos do turno da noite às vezes desleixam-se um bocado na preparação – mas o facto é que aquele cabrão vinha cheio de ronha e de teimosia. Consequentemente a sessão foi um pouco mais aparatosa do que é habitual, quando se trata de vergar simples meliantes. A sala ficou que era uma vergonha, com sangue espalhado pelas paredes, as ferramentas todas desarrumadas e até bocadinhos de dentes tive de andar a catar pelo chão. Resmungo sempre um bocado na fase das limpezas, mas só para espairecer. Sei muito bem que, de acordo com a tabela de antiguidade, ainda tenho de esperar dias anos antes de me ser atribuído um ajudante em permanência para os trabalhos menores. Enquanto me afadigava de esfregona em riste, fui surpreendido por umas insistentes pancadas na porta. Transformei o meu resmungo num ronco bem audível, recordando com maus modos quais eram as regras da casa: - Um quarto de hora entre cada sessão, suas bestas. Esperem aí à porta e é se querem. Fiquei muito contrariado por não me ligarem nenhuma. A porta abriu-se devagarinho e pegado à mão que ousara rodar a maçaneta vinha revista BANG! [ 4 ]
um tenentezito das forças regulares, que ainda por cima mostrou cara de enjoado perante o cenário. Quando relanceei os olhos para o fulminar, dei conta que o corredor estava apinhado por mais uns quantos em uniforme, muito juntinhos à volta de um desgraçado todo desfraldado. Bem, com estes parvinhos quase imberbes não precisava de me coibir de gritar, por isso azucrinei-lhes a cabeça um bocado. - Mas afinal o que vem a ser esta merda? Pensam que podem entrar por aqui adentro de qualquer maneira? Eu sou um profissional dos serviços de segurança, tenho um cargo de elevada responsabilidade. E há regulamentos a cumprir, meus senhores. Esperam aí que já vão ver o que a casa gasta... – e assim por diante até me fartar. Quando acabei de desabafar, o senhor tenente estava pela cor dos tomates maduros. Sem se atrever a articular palavra limitou-se a levantar uma sobrancelha e a estender um papel azul, daqueles que costumam trazer apostas as ordens de serviço da hierarquia interna. Perante a cor do papelucho fiquei um bocadinho arrependido dos meus modos desbragados; por isso quando o retirei das manápulas do tenente escancarei um sorriso simpático, para lhe começar a amolecer qualquer ressentimento. «Máxima urgência – o prisioneiro VFE645XDRH deve ser interrogado imediatamente. A confissão, depois de devidamente assinada, deve ser entregue ao Magistrado Farlg Untus ao princípio da tarde.» - Ora vamos lá a entrar para despacharmos isto, meus caros senhores – convidei eu, acrescentando uma pequena vénia de humildade em benefício do oficial, enquanto diligenciava para arredar a tralha de cima da marquesa. O tenente afastou-se para o lado e os quatro soldados que sustinham o esbracejar do homenzinho amontoaram-se no meio da sala. Para ganhar o tempo necessário a acabar de compor a barafunda, pedi-lhes para irem despindo o interessado e para o instalarem devidamente. Mas os anjinhos não se entenderam com os fechos da bancada, pelo que até isso sobrou para os meus cuidados. Quanrevista BANG! [ 5 ]
do me preparava para pôr toda aquela gente a desandar ocorreu-me uma coisa: - E então onde é que raio está o processo do homem? - Que processo? – perguntou o tenente, deixando a voz libertar-se da boca pela primeira vez. «Realmente!», consternei-me para mim próprio. «Um caso importante e mandam tropas regulares; tem que se explicar tudo a estes imbecis». E foi o que fiz, com toda a calma possível. - O processo que acompanha o prisioneiro; a pasta onde estão os elementos e as informações que preciso para o meu trabalho. Eu faço um resumo: o documento onde está explicado quais as confissões que a hierarquia pretende obter no decorrer da sessão. Quedaram-se por instantes a olhar abespinhados uns para os outros, até que alguém foi momentaneamente bafejado por um rasgozinho de inteligência. - Ah! Os documentos. Sabe, meu tenente, deve ser aquela pasta preta que deixámos na carrinha. - Então vai lá buscá-la meu parvalhão, e depressa – gritou o chefe dos tropas para aliviar o nervoso. – Será que tenho de pensar em tudo? Uma excursão ao estacionamento na cave, àquela hora, com todos os postos de controlo a funcionar, era aventura para demorar uma meia hora das grandes. Muito polidamente gastei um bocadinho de vocabulário a conseguir que o resto da maralha tomasse lugar no corredor, sossegadinhos, e fechei-lhes a porta na cara com um suspiro de alívio. Estava decidido a ir adiantando os preliminares enquanto o outro andasse à cata da papelada. Depois logo se fariam os ajustes mais convenientes, consoante o necessário. - Então, então meu rapaz! – larguei à laia de cumprimento para o prisioneiro, que me fitava com uns olhos muito aparvalhados. – Parece que andámos a asneirar, não foi? Deixa estar que não tarda muito a ficar tudo resolvido. Não é que mal virei costas, a fim de prepa-
rar os instrumentos, lhe deu para desatar aos berros? Despejou-me em cima a conversa do costume: que se tinham enganado, que estava inocente, que me faria cobras e lagartos, etc., etc. Pus-lhe logo uma mordaça; não estava com cabeça para aturar gritarias. Naquela fase já era um luxo ele conseguir acenar sim ou não. Não me alonguei muito no exame preliminar: apalpei-lhe o fígado, verifiquei se tinha lesões, espreitei para dentro dos ouvidos, apliquei-lhe o estetoscópio, testei os reflexos – estava tudo bem. Podia apertar o rapaz um bocado que não havia de se ir abaixo às primeiras. Mal lhe mostrei o primeiro ferro aguçado, um dos pequeninos, para enfiar por baixo das unhas, começou a tremer e a suar muito. Por experiência e instinto fiquei de imediato ciente que tinha nas mãos um dos fracotes, um tipo sem grande carácter. Melhor para mim. Despachava a coisa num instante e ainda tinha tempo de apanhar o bar aberto para um cafezinho a meio da manhã. Só para ir entretendo espetei-lhe uma unha ao de leve, e depois desenhei umas marcazitas artísticas na sola dos pés, com a ponta em brasa. Finalmente chegou o soldadeco de giro metido a agente, com o processo tão bem agarrado que tive de lho arrancar das mãos. Sim senhor! Podia até nem dar ares disso, mas aquele rapazinho da marquesa era um belo malandrete. Rezavam os autos que fora apanhado em manobras de altíssima traição. Comia à farta da gamela do inimigo e de tão agradecido não se poupava a esforços em estratagemas para derrubar as estruturas sociais. Era pau para toda a obra, desde sabotagem para desmoralizar os combatentes até tentativa de assassínio de dirigentes. E o melhor do molho de papelada eram as quatro últimas páginas: uma confissão já redigida com todos os pormenores. Adoro quando a nossa gente do escritório se aplica. Não faltava nada: circunstâncias, motivações, datas, nomes, enfim... tudo quanto um bom carrasco pode desejar. Podia-me aplicar de coração na minha arte, sem queimar tempo em ninharias da burocracia. Tudo se torna mais complicado quando somos nós a recolher e a redigir os de-
poimentos, muitas vezes só com o instinto para nos orientar. A partir de certa altura os sujeitos já não dizem coisa com coisa e é uma dor de cabeça dar alguma coerência à salganhada. Num caso como este bastava persuadir o visado a assinar tudo muito direitinho e depois compô-lo um bocado para ler o depoimento resumido perante as câmaras. Mirei o tipo e até fiquei com a ideia que o intróito podia ter sido suficiente para os meus intentos. Mas joguei pelo seguro. Apliquei-lhe uma porrada na articulação do joelho e esperei que acabasse de se contorcer. Depois recitei-lhe umas partes salteadas do texto da confissão e sacudi os ombros interrogativamente: - Então? Estamos prontos para assinar a papelada? O que acabei de dizer corresponde à verdade verdadinha? Ele quis dizer qualquer coisa, mas pela expressão ainda o achei muito hesitante. Dei uma passada em direcção ao controlo remoto das maquinetas de perfurar mas mudei de ideias. Naquela manhã estava tomado de nostalgia pelos métodos tradicionais. Usei a serra manual para lhe cortar o dedo pequenino do pé direito, e guardei-o numa caixinha apropriada, não fosse alguém vir depois pedir uma recordação. Quando me voltei a inclinar sobre a mesa de trabalho achei o indivíduo com melhor cara. Tinha perdido as cores das bochechas e o olhar estava a ficar baço. Mal o brindei com um sorriso começou a abanar a cabeça a toda a velocidade, para cima e para baixo, muito convicto. O movimento de assentimento dos músculos do pescoço acompanhou toda a ladainha que tive de voltar a repetir, acerca das razões que o faziam convidado aos meus humildes aposentos. Quando findei a prédica tinha a boca tão seca que fui forçado a puxar pela garrafinha do licor, para uma golada medicinal. - Ora então muito bem – disse logo a seguir ao arroto. – Agora fica quieto um bocado enquanto te dou esta injecção para paralisar temporariamente os membros inferiores. Só depois é que te solto; com escumalha da tua laia não posso revista BANG! [ 6 ]
correr riscos. Vais ver que ficas um bocadinho melhor das dores. Quando lhe retirei a mordaça pareceu-me que fazia tenções de recomeçar com a lengalenga. Tive de franzir a testa e dar-lhe um toque ao de leve com as ponteiras dos electrochoques. Foi quanto bastou. Saltou da marquesa e ficou estendido a um canto, sem tossir nem mugir. Depois de ter todas as folhas rubricadas e três ou quatro takes do depoimento para os técnicos de acusação escolherem as melhores partes, carreguei no botão para chamar alguém que me carregasse o tipo dali para fora. Chegaram no preciso instante em que eu terminava o preenchimento das cruzinhas no impresso do relatório da sessão. Quem assomou à porta foi um colega veterano, um velho conhecido ali do serviço, que me costuma pedir para assistir às sessões quando a coisa mete raparigas jeitosas. Mal entrou, acompanhado por um ajudante estagiário, passei-lhe o processo para as mãos. Informei-o que dali a dois ou três minutos o prisioneiro já se havia de ter de pé e apontei ostensivamente para o esconderijo da garrafa. Ao ajudante destinei pior sorte: cabia-lhe dar um mangueirada de água tépida no paciente e depois enfiar-lhe umas roupinhas. - Não pões nada no pé do gajo? – perguntou o meu compincha. – Vai cagar o corredor todo de sangue. - Está bem! – aquiesci eu, e dei mais uma ordem ao novato: - Trá-lo aqui que é para lhe pôr uma pomada na pata. Quando o rapazito ergueu o sujeito nos braços e o aproximou da marquesa, ouviu-se um estrondo logo seguido de um tilintar. O meu dilecto colega perdera de súbito a força nos dedos e tanto a garrafa medicinal como os nossos cálices cristalinos se tinham estraçalhado no chão. Muito atónito, assisti de boca calada ao curto trajecto que fez em câmara lenta na direcção do paciente, e ao repentino gelar dos movimentos quando ficou a menos de dez centímetros da cara deste. - Então pá! – atirei-lhe eu sem me aguentar mais. – Nunca tinhas visto um traidor sair daqui tão bem tratado, hem? revista BANG! [ 7 ]
O colega começou a balbuciar umas coisas entredentes, mas eu não percebi nada. - Porra homem! Aclara lá a garganta. Fala mais alto. - Garlus – disse-me ele então, – este é o novo director dos guardas internos! É o meu chefe. Tenho a certeza. - Estás é a ficar maluquinho – respondi-lhe eu, muito agastado com a atitude parva do homem. – Puxa lá por ele que já vais ver o que te diz. Bem, e o que o prisioneiro lhe disse não era realmente nada daquilo que eu estava à espera. Foi mais ou menos assim: - Guarda Yurnus! Tire-me imediatamente as algemas e leve-me para a enfermaria. – E depois virou-se para mim, com um ar diabólico e a ranger os dentes: - Estás bem fodido. Pronto, foi assim que tudo se passou! Eu sou apenas um carrasco. Pertenço a uma família com uma grande tradição no serviço público. Já o meu pai era carrasco e a minha mãe fez toda a carreira como zeladora dos Bons Costumes. Só ela denunciou mais de duzentos cidadãos, por graves indícios de comportamento sedicioso. Tenho até um irmão que conseguiu estudar para Acusador. Podem pensar o que entenderem, mas eu no íntimo continuo a considerar que me limitei a cumprir o meu dever. É claro que não foi nada disso que me viram jurar no depoimento da confissão. Até à memória do meu avô pedi desculpa, que um herói condecorado ao serviço da Causa não é merecedor de ser ascendente de neto tão execrável. Acabei agora mesmo de rever na televisão a montagem integral do meu depoimento. Até não me saí nada mal, para um tipo com o olho furado por um prego e a quem tinha sido arrancado a sangue frio o braço esquerdo. Profissionalmente falando, achei que no meu caso o carrasco levou demasiado longe as fantasias. Ainda antes de me esmigalhar os dedos já eu tinha gritado mais de dez vezes que confessava tudo. E não tinha perícia nenhuma a manobrar o equipamento: furou em duas ocasiões o plástico da bancada, sem que a broca sequer me raspasse no tronco.
Mas o que é que querem? Os nervos são traiçoeiros. Sempre defendi que um carrasco não deve trabalhar sob pressão. Imaginem por exemplo que a mão treme, e que em vez de um buraco na barriga, para aquele número clássico de tirar os intestinos, a lâmina rompe o pulmão ou acerta numa veia importante... Pode ficar em risco toda a operação; o paciente safa-se à grande sem ter tempo de desembuchar as vergonhas. O que aconteceu na minha sessão foi que o tal Senhor Director fez questão de supervisionar tudo pessoalmente. Por mais que eu concordasse com as alíneas dos autos, dava sempre ordem para prosseguir os trabalhos. O raio do homem não tem sentido de humor nenhum. Não conseguiu encaixar que algum dos amigalhaços lhe pregou uma partida de mau gosto e eu é que paguei as favas. Mas agora também já não importa. Deram-me um bom anestésico. Não me dói nada. E está quase a chegar a minha vez de entrar para o palco das execuções. Estou um bocadinho descomposto, mas vou fazer os possíveis para não parecer mal, quando me virem logo à noite nas televisões. BANG!
O tipo que se esconde por trás do pseudónimo Telmo Marçal faz-se passar por um vulgar pai de família, pequeno-burguês, afável e bem comportado. Para lhe toparmos a manha é preciso apanhá-lo pela calada da noite, agarrado ao computador, que é quando escrevinha as suas barbaridades descabeladas e subversivas. Os que lhe editam os devaneios também não estão isentos de culpa. Se não existissem esses fanzines, e-zines, blogues, revistas… nunca lhe tinha dado na veneta armar-se em escritor. Foi assim que tudo começou, em 2003, no Hyperdrive. Seguiu-se o Dragão Quântico, o Hyperdrivezine, o sítio Neolivros, a Scarium, o Tecnofantasia, o Phantastes, o Somnium e a Nova. Até participou na antologia “Por Universos Nunca Dantes Navegados”, e agora já vai na BANG, imaginem. (Será que não arranjavam nada melhor para publicar?) BANG!
[convite]
Publique o seu conto na revista Bang! A
revista Bang! está à procura de novas vozes na literatura fantástica. Envie-nos o seu conto (de horror, ficção-científica, fantasia, história alternativa, realismo mágico, etc) e, se for escolhido para publicação, para além da glória eterna ao imortalizar-se nas páginas da única revista de literatura fantástica em Portugal, ainda recebe 3 livros grátis na sua caixa de correio. São eles: • Os Ossos do Arco-Íris de David Soares; • Sr. Bentley, o Enraba-Passarinhos de Ágata Simões; • Fragmentos de uma Conspiração de José Lopes; Um grande livro de horror, um grande livro de humor e um thriller bem português serão suficientes para tirar cá para fora o que de mais fantástico há em si?
Os contos candidatos devem ser submetidos para joaog@saidadeemergencia.com, tendo o email o seguinte título “submissão de conto para revista Bang!” E agora, boa inspiração! BANG! revista BANG! [ 8 ]
[ficção]
Senhor Bentley e os Velhos Ágata Ramos Simões O Sr. Bentley, personagem tão vil quanto deliciosa, está de volta às paginas da revista Bang! Esperemos que gostem... e que tenham vómitos.
O
senhor Bentley (que é uma besta), casadinho de fresco com uma aristocrata belga (oh la lá), nem sempre pára em casa. A mulher até prefere. Não é que a queira deixar. Ele até gosta da tipa: tem vontade de se ajoelhar e orar-lhe com os olhos em alvo, fazendo um mimoso beicinho com os lábios e sussurrando cânticos pagãos esquecidos - quem o ouvisse julgaria estar a debitar o Pai-Nosso. Infelizmente a bela da esposa não admite o comportamento e vai ele a genuflectir-se, no início do gesto, ela põe-lhe o pé de salto baixo no rabo, empurra-o para o chão, onde ele fica de cu para o are orelha em contacto com o solo, como se escutasse o lento aproximar dos elefantes. Após uma saraivada de insultos belgas o senhor Bentley retira-se como um cachorrinho obediente e vai, feliz da vida, para a rua. Procurar criancinhas. A quem escarrar. Sobretudo petizes irrequietos. Dos que se mexem e gritam muito. Os que, com a sua voz de querubim, estilhaçam cristal a um quilómetro de distância. Os quietinhos, moscas mortas, a esses também gosta de cuspir, mas dá menos gozo, têm a moleza dos bovinos, serão os encornados de amanhã. Hoje, por exemplo, vai sem guarda-chuva porque não é dia de usá-lo, a Bee levou-o para a escola. Às vezes o chapéu, aborrecido das brincadeiras dos meninos (puxam-lhe o pano e as varetas e agarram-se ao cabo, os pequenos monstrinhos arranham-no
revista BANG! [ 9 ]
todo), escapulia-se da sala de aula, à socapa, todo fechado, e ia ter com o senhor Bentley. Bentley ao menos era mais divertido. Tinham aventuras. Com Bee passava o raio do dia inteiro fechado na escola, às vezes na sala de aula, a ronronar quietamente aos pés de Bee, às vezes estupidamente pendurado à entrada com os outros chapéus e casacos e gorros. Mas hoje o senhor Bentley leva apenas o chapéu-de-coco que também possui a habilidade do voo. Infelizmente o chapéu-de-coco só sabe dormir. Está o dia inteiro ferrado no sono. Costumava ressonar de modo que o senhor Bentley foi ao médico que lhe receitou uns comprimidos e o problema resolveu-se. Às vezes o chapéu acorda e desata a voar por todo o lado, excitado como um cachorrinho que visita o jardim. ´Tadinho do senhor Bentley - tem de correr atrás dele feito um louco e já é velho, é velhinho, as pernas não aguentam maratonas. Lá ia ele a tentar deitar a mão ao magano, que cirandava de um lado para o outro numa velocidade de colibri dopado. - Sacana, anda cá! - e saltava, pulava, mudava de direcção, esticando os braços o mais que podia. - Um gajo sem chapéu não é gajo! - gritava furibundo e tornava a correr. Até que enfim o apanhava.
Suado, enfiava-o no crânio e atava-o com um lenço que cobria chapéu e queixos. O chapéu-de-coco refilava: - Bzz? Bzz-bzz! Bzz-bzz-brr!?! Mas o senhor Bentley não lhe dava ouvidos. - Nove mil quinhentas e setenta e seeeeis! É a taluda, senhores, é a taluda! - entoou depois de ter cuspido a outro fedelho. Acertou-lhe em cheio no olhinhos. O puto não protestou e estava na idade de pôr tudo na boca. Espalhou a mistela repelente nos dedos e ia levá-la à boca quando a avó, enojada e furiosa, o impediu e limpou. - Paneleiro de uma figa! - disse para Bentley com o punho levantado. - Olha uma comunista... - murmurou sorridente enquanto se afastava o mais possível e se colava às paredes. Hoje era prudente ser observador do mundo, ir ter com amigos, escutar. Sem guarda-chuva não podia cometer as habituais patifarias e escapulir-se em seguida. Foi ter com os Velhos, o fino e o da papada. Muito ele gosta de os ver em acção! - Mas que nojo... - diz de repente o senhor Bentley quando passa por uma equipa televisiva que faz a cobertura do ProcessoPedofilar (e subitâneo vem à mente o sublime slogan para qualquer campanha autárquica: VamosPedofilarLisboa! Venha, Cidadão, desopile e Pedófile também!) Arrepia-se ao ossos: - Nojice... - diz ele - criancinhas, puhá - parece que lhe subiu o fel à boca. Pergunta-se: como podem tocar nessas criaturinhas infectas, nesses vermes ranhosos?! Estão pejadinhos de doenças, micróbios, vírus. E a inocência! Sobretudo é a inocência que os polui - diz Bentley de olhito arregalado e desenhando um gesto melodramático com o braço erguido em ângulo recto e a mão como se fosse apanhar a laranja da árvore. E de repente vê o Político Que Não foi Acusado e o Outro Político Que não Foi Acusado e o Magistrado Que Não Foi Acusado E Um Gajo Qualquer Que Não Foi Acusado e Outro Gajo, semelhante à maralha, Que Não Foi Acusado - vê
esses tipos todos com uma grave serenidade de quem compreende a Impermanência da Vida e da Morte, de quem é um Buda Vivo e Iluminado. Vê e decide gritar como que a fazer de conta. Que se importa. Mas dentro de um homem iluminado só habita o Universo e a Pla-Ci-Dez. - Um pedófilo que não fornique os filhos e netos não é pedófilo! - ó, a vozinha de cigano, a vozinha de vendedor de feira! - Só as criancinhas desprotegidas?! Restaurador Olex resolve a situação! Caro pedófilo, companheiro, amigo, camarada: use Restaurador Olex a Bem da Nação! Restaura a verdadeira natureza do seu natural instinto. Com o Restaurador Olex - ó vozinha de apresentador de têvê dos anos cinquenta! - poderá Finalmente fornicar qualquer criancinha que lhe apareça à frente! Mesmo os seus, sobretudo os seus, antes de mais os seus! No conforto da sua casa - a voz aligeira, suaviza - na santa paz da sua real natureza enfim realizada. Um silenciozinho de morte. As câmaras apontadas à varanda onde Bentley se empoleirava e agarrava tremelicante ao chapéu-joaninha. Antes de levantar voo disse na direcção de uma câmara: - E depois, sabes, pá, é de graça. Hi, hi, hi. Allez-hop! - Lá vem o parvalhão... - anuncia serenamente o Velho da papada quando Bentley aterra com a suavidade de uma pluma no terraço do antigo ediífio lisboeta. - Este gajo não nos deslarga... - acrescenta de olhos mortiços o Velho fino. Fino como um cordel. - Fossemos nós da matéria do que não tem matéria! - sauda Bentley num vozeirão (sem megafone. A esposa escondeu-o). - E ainda por cima vem com filosofias! - enerva-se o da papada. - O demónio do velho, só filosofias! - Seria talvez conveniente chamar a criadita francesa...- sugere amenamente o fino. - Ah não! Isso não admito! Ficam os dois ali revista BANG! [ 10 ]
a conversar, conversar, a filosofar até altas horas da noite! - diz ele a revirar-se na cadeira como se tivesse uma pulga no rabo. - O Tao... o Tao...- entoa Bentley de olhos enlevados e as pontas dos dedos a tocarem-se levemente num ritmo lento e compassado. - É terminar a malfadada conversa agora! - diz o da papada com um murro na mesa que fez saltar as chávenas e o açucareiro. - O que propõe? - pergunta o fino chegando-se à frente. - Diga à criadita para trazer o estupor. Ele sai e regressa. Senta-se. Segundo depois surge um belíssimo par de pernas, encimado por um tronco bem delineado num traje negro de criada minúsculo, com uma cabeça perlada de caracóis de boneca de porcelana. Pela trela traz um homem dos seus vinte e cinco anos, sem cabelo, com cruzes suásticas tatuadas nos bícepes. Caçaram-no numa manifestação anti-gay e pontapearam-no de imediato, antes de o trazerem para o Covil, com uma força inaudita para dois cidadãos séniors. Talvez tivesse sido o treino militar austero que lhes providenciou a vitalidade na velhice. Bentley ponderou ir atrás da criadita, mas limitou-se a segui-la com os olhos gulosos de velho sátiro. Com pena viu as pernas e o rabiosque arrebitado desaparecer pela porta. Antes de se fechar vislumbrou um livro grosso entreaberto. Ah, Wittgenstein. Anda a lê-lo. Entre filosofia e divertimento o seu coração balança, indeciso. Sentou-se no solo (os Velhos jamais o convidam a sentar-se com ele), a apreciar o espectáculo. Dois velhos militares a darem uma carga de porrada a um neo-nazi jovenzeco, com menos de metade da idade deles e musculadíssimo! Porém - incapaz de se defender. - Estupor - disse o da papada e pregou-lhe um pontapé no estômago. - Estupor - disse o fino e espetou-lhe um pontapé nas costas. revista BANG! [ 11 ]
- Estupor - (o da papada.) E novo pontapé. - Estupor - (o fino) e mais outro. - Estupor. - Estupor. - Estupor. São um relógio a marcar horas. Relógio suíço. - Estupor. - Estupor. - Estupor. - Estupor. - Cabrão. E de súbito perdem o ritmo. - Porque disse isso? - perguntou o fino. Este encolheu os ombros e confessou que se tinha chateado. Olharam ambos para o monte de carne encolhido a contorcer-se no chão. O senhor Bentley recorda a manifestação anti-gay onde os Velhos o caçaram: viu-os ao longe com uma enorme rede de apanhar borboletas e outra de pesca. Ficou à espreita, curioso (até um homem iluminado é vitima de curiosidades...). - Cházinho? - diz o fino. - Cházinho - concorda o da papada. Bentley alçou dali para fora, as garras presas na orla do chapéu-de-coco volante. Ao longe avistara alguém parecido, parecidíssimo!, com Miss Joyce. (Graças a Deus não era ela.) BANG!
Ágata Ramos Simões gosta de livros estranhos, esquisitos. Tem por hábito tomar banho. Tem [teve] um gato que não é [era] dela. Fala de si na terceira pessoa. Gosta da Britney Spears. Do Brad Pitt. Tem ódio mortal a Angeline Jolie por causa do Brad Pitt. Gosta do som e cheiro da chuva. Gosta do som e do cheiro do mar. Pode estar muito tempo, alheada, a olhar para o vazio, sem fazer nada. Não gosta que a chateiem. Detesta que apareçam sem avisar. Tem um grande sentido de justiça. É mais casmurra do que sei lá o quê. Já mencionei que adora o Brad Pitt? Devia ler mais. E escrever também. É autora do romance Sr. Bentley, O Enraba-Passarinhos, publicado pela Saída de Emergência, e colaboradora frequente da revista Bang! BANG!
[ficção]
O Esplendor das Ruínas Vasco Luís Curado «Abraçamo-nos com força, Sara e eu. O silvo aumenta vertiginosamente, é quase ensurdecedor. Vai cair ali mesmo! Vai cair agora! Estamos preparados.»
A
guerra, que dura há já alguns anos, habituou-nos aos bombardeamentos aéreos, às sirenes que nos chamam para os abrigos, à rotina, sucessora da angústia, de esperar nos abrigos que o bombardeamento acabe. Nas últimas semanas o inimigo, certamente empenhado em acelerar o fim da guerra, aumentou a intensidade e a frequência dos bombardeamentos. Cada vez mais é difícil despertarmos a cidade dos escombros, porque novo ataque se abate sobre nós antes que tenhamos tempo de desobstruir uma rua, reconstruir uma casa, enterrar os mortos. Tornou-se frequente o inimigo bombardear ruínas, transformar os escombros e o entulho em fragmentos ainda mais pequenos e esboroados do que já estavam. Vemos, com orgulho, que as ruínas são dignas da nossa cidade, antiga capital de império, fustigada pelas bombas e os mísseis do inimigo. A catedral gótica, privada do tecto e dos vitrais, estende para os céus sombrios as suas paredes, como mãos erguidas a querer tocar o alto e o infinito, agora, mais do que nunca, próxima de uma elevação divina. Os nossos sapatos rotos e sujos de lama pisam o que resta dos frescos e das pinturas valiosas que antes costumávamos ver lá em cima, só tocadas pelo olhar reverente e submisso daquele que visitasse a catedral. Um palácio histórico, cheio de riquezas, pode agora estar confundido com casas vizinhas.
As ruínas, na sua própria aniquilação, desprezam as fronteiras: condensam e misturam o sagrado e o profano, o alto e o baixo, o torto e o direito, o limpo e o sujo, o belo e o feio, embora nelas, devido a essa mesma condensação de formas, ângulos, estruturas, tudo se torne belo. Pisando o ferro retorcido, contornando buracos, resgatamos peças várias: moedas romanas, sarcófagos de ouro, múmias novamente trazidas à luz do dia. Das ruínas do Museu de Egiptologia trouxemos para a luz, pela segunda vez, mais do que um faraó ressuscitado. Somos arqueólogos da nossa própria cidade, e os tesouros de civilizações antigas, que dantes víamos atrás de vitrinas brilhantes ou apenas em postais ilustrados, recuperamo-los agora do subsolo e do entulho. As crianças, sujas, esfomeadas, órfãs, ajudam-nos, porque podem chegar aonde nós não podemos. Eu e a Sara, a minha namorada, dizemos às criancinhas: “Um doce por cada fragmento de louça!” E elas trazem o que encontram, rindo, transportam nas mãos pedaços de porcelana chinesa, cristais, azulejos finos. Chega a ser comovente ver, no meio do negrume em que se tornou a cidade, aquelas mãozitas sujas e trémulas trazerem peças tão frágeis. Descobrimos que as crianças partem ainda mais as peças que encontram, de propósito, para obterem mais fragmentos e, portanto, receberem mais doces. Mas não nos importamos; não lhes ralhamos por isso. revista BANG! [ 12 ]
A alegria de rever aqueles fragmentos, por pequenos que sejam, é o mais importante. Na imensa ruína que é a cidade, tudo se condensa. Os objectos que, esgaravatando e remexendo, resgatamos, convivem uns com os outros sem que os cataloguemos ou classifiquemos rigorosamente. Dezenas de crucifixos, cravejados de diamantes, foram colocados numa prateleira poeirenta do sapateiro da nossa rua, ao lado das botas velhas que aguardam conserto. Foi o próprio sapateiro que os pôs ali, e quando soubemos que ele estava a coleccionar esses crucifixos, que tinham pertencido ao tesouro de uma das mais notáveis igrejas da cidade, ajudámo-lo. Dizíamos uns aos outros: “Todos os crucifixos que encontrarmos, entregamos ao sapateiro.” E a colecção aumentava, irradiando brilho no tugúrio escuro que era a sua oficina. Depois, quando uma bomba devastou o prédio de três andares, soterrando a oficina, tivemos de recuperar novamente os seus crucifixos e as suas botas, que encontrámos confundidos, ainda mais danificados do que antes, mas conservando muito do esplendor antigo. Foi a melhor homenagem que podíamos fazer ao defunto sapateiro, devolver à vida os seus queridos objectos. Não enterrámos o sapateiro; deixámo-lo enterrado. Não havia espaço para enterrar todos os mortos e, além disso, queremos dedicar mais tempo a procurar objectos entre os escombros. Amanhã podemos ser nós a morrer, sem maravilharmos os nossos olhos com as riquezas de outras eras. Não é forçado dizer que os mortos já estão, por assim dizer, enterrados. As casas que eram as deles, quando vivos, tornam-se muitas vezes os seus sepulcros. E se as bombas e as derrocadas matam e, no mesmo acto, enterram os mortos, numa notável economia de esforços, também trazem para a superfície os mortos antigos: túmulos de reis e rainhas saltam para o ar livre, não sendo raro que os restos mortais fiquem a céu aberto. Levei para casa o crânio de um imperador do século XIV. Arrancaram tiaras e diademas aos esqueletos e ao pó. Nesta arqueologia diária, eu e a Sara sorevista BANG! [ 13 ]
mos dos mais activos. Desde que descobrimos aquilo que as ruínas podem oferecer, as mesmas ruínas que mataram os nossos entes queridos, os belos olhos da Sara perderam a expressão de tristeza incontível e adquiriram um brilho semelhante às jóias escavadas. Esquecemo-nos de chorar os mortos, porque as ruínas são um manancial inesgotável de História viva, onde, paradoxalmente, os mortos recuperam uma vida nova e nos entretêm com tesouros já não distantes, intocáveis, mas misturados com o nosso quotidiano. Não há distância entre nós e aquilo que desenterramos. Caídas as paredes dos museus, estilhaçadas as vitrinas, expostas as caves blindadas que encerravam riquezas, os tesouros são-nos acessíveis e tornam-se, mesmo, objectos utilitários. Um vizinho meu levou para casa tapeçarias valiosíssimas porque precisava de qualquer coisa com que se tapar nas noites frias. Vi pessoas vestidas com paramentos de cardeais e papas porque precisavam de roupas. Crianças brincam com armaduras medievais. Vi uma mãe procurar comida no entulho com a filha de cinco anos e que tendo encontrado uma caixa cheia de bonecas de porcelana, que pertenceram a uma princesa, deu-as à filha. E vi um homem na rua a assar um chouriço espetado numa adaga árabe enfeitada com pedras preciosas. A Sara pode vestir a roupa que uma cantora famosa usou na sua ópera preferida e ofereceu a um museu, calçando ao mesmo tempo as socas de uma camponesa medieval e pondo na cabeça um diadema etrusco. Um dia, depois de um bombardeamento, fiz-lhe uma surpresa. Vesti-a com peças de várias épocas e lugares, vesti eu próprio a farda de gala de um Czar e levei-a a passear num coche do século XVIII, feito de madeira pintada a ouro. O coche era puxado por velhos cavalos coxos e semi-cegos que encontrei perdidos no meio da cidade devastada. Não há distância nem diferença entre nós e estes objectos. Nós, com as roupas rotas e os cabelos cheios de poeira e estuque, somos parte das ruínas da cidade. Manipulando objectos confundidos e danificados, não delapidamos tesouros
mas participamos na vida quotidiana das ruínas. Surpreendidos por um ataque aéreo sem termos tido tempo de fugir para um abrigo, perdidos no meio do fumo e do pó, vendo paredes ruírem à nossa volta como se já não tivessem vontade de estar em pé, prédios a desintegrarem-se, o solo a levantar-se como um mar revolto, eu e a Sara tropeçámos nos túmulos de reis merovíngios; estão nas ruínas do único sector que estava intacto de um museu. Não há tempo a perder. Quem sabe se a próxima bomba tornará a esconder estas maravilhas. Começámos a enfeitar-nos com as jóias, coroámo-nos a nós próprios no meio do tumulto cego. Coloquei no rosto uma máscara de ouro e ofereci a Sara os mais belos brincos, colares e pulseiras. A tempestade de fogo continua a atroar no espaço à nossa volta. A qualquer momento, a parede periclitante, atrás da qual estamos, pode cair-nos em cima. À pressa, procuramos mais coisas. Ouvimos um silvo que, caído lá dos ares, vem para perto de nós, e é sem dúvida uma bomba. Vai cair mesmo no outro lado do paredão e provocar a sua derrocada sobre nós. Mas que belo holocausto! Que esplêndida emulação! Vamos jazer soterrados num sono cheio de sonhos dourados, resplandecentes, e pode ser que um próximo bombardeamento devolva os nossos corpos à superfície, magníficos nas suas vestes e máscaras de ouro, como imperadores ressuscitados. Abraçamo-nos com força, Sara e eu. O silvo aumenta vertiginosamente, é quase ensurdecedor. Vai cair ali mesmo! Vai cair agora! Estamos preparados. BANG!
Vasco Curado nasceu em 1971. Publicou, no domínio da ficção, o livro de contos “A Casa da Loucura” (Ausência, 1999) e o romance “O Senhor Ambíguo” (Escritor, 2001). Psicólogo clínico, publicou uma tese de mestrado em Psicopatologia, “Sonho, Delírio e Linguagem” (Fim de Século, 2000).BANG!
[ficção]
Iniciação António de Macedo «Tantas palavras para quê? Toda a gente sabe que o excesso de sapiência cega o entendimento para a fatal simplicidade das coisas.»
N
enhum dos Discípulos adivinhava qual era a prova seguinte. Dir-se-ia, aliás, que nem sequer sabiam que uma prova os aguardava. Apesar da longa ascese, do domínio sobre os sentimentos e os desejos, da imposta indiferença adestrada por anos de treino e meditação, não conseguiram evitar um íntimo tremor — ainda que ligeiro e indefinido, mas bem real e embaraçante —, ao contemplarem o interior do Palácio. Maravilharam-se porque o Palácio foi para eles uma visão tão imprevista como gloriosa, e sobretudo desconcertante: «Mas quem — interrogaram-se os Discípulos — se lembraria de chamar Palácio àquilo?» Não havia paredes, apenas cachos de Anjos feitos de nevoeiro a emergirem, como arpões, de cortinas de água despenhando-se da altura de montanhas; corpos vivos de muitos animais sem nome estremeciam e atapetavam um chão inexistente; descargas eléctricas ziguezagueavam e faziam brotar frutos iguais em forma e tamanho a crianças recém-nascidas que estouravam como bolhas de sabão e desapareciam, espalhando revoadas de demónios gargalhantes em todas as direcções; por sua vez as gargalhadas expeliam turbilhões de mólhos de palha e moedas de ferro que obscureciam os ares… E os Discípulos descobriram, com surprerevista BANG! [ 14 ]
sa e algum desdém, que afinal se encontravam dentro duma cabana miserável cheia de buracos no colmo por onde entrava a chuva, e rendilhada de frinchas nas tábuas desconjuntadas das paredes por onde assobiava o vento. O Mestre erguia-se à frente deles envergando uma túnica grosseira, já muito usada e rota. Tinha nas mãos uma taça de boca larga, de platina, de cujo interior voavam pássaros continuamente, espalhando-se pela cabana em voos tresloucados e ensurdecendo com uma insuportável chilreada quem se encontrasse no exíguo aposento. Porém, quando os Discípulos concentraram a atenção nas Mãos do Mestre verificaram que ele segurava uma Rosa, em vez duma taça donde jorravam pássaros chilreantes. Fez-se silêncio na Cabana, ou no Palácio, ou no Tabernáculo. O sorriso do Mestre revelava tanta benevolência, tanto conhecimento e tanto amor que os Discípulos sentiram concentrar-se nos seus corações a enormíssima quantidade de paz e tolerância que pairam no mundo e que os humanos quotidianamente deitam fora, como cascas de amendoins. A força da felicidade que os inundou foi tamanha que caíram de joelhos diante do Mestre. O Mestre apresentou-lhes a Rosa, cuja corola de belos tons contrastava com o caule escuro cruzado por duas folhas divergentes, de um verde de chama — uma corola sobre uma cruz —, e deixou que a examinassem longamente. — O que há de mais notável na Rosa? — perguntou por fim o Mestre. O primeiro Discípulo, um velho muito velho de comprida barba branca, tão comprida que tivera de lhe dar vários nós para não tropeçar nela, prostrou-se e disse: — Oh Mestre, o mais notável na Rosa é a forma. Nela se concentram as Coroas e as Espirais do universo, a Magia das nebulosas e das galáxias, os Labirintos que tanto enlouquerevista BANG! [ 15 ]
cem como redimem. Na forma imbricada da Rosa, no Número místico das suas pétalas e na beleza incomparável das suas proporções reside o segredo da infinita Grandiosidade Cósmica! — Oh Mestre! — contrapôs o segundo Discípulo ao ser-lhe feita a mesma pergunta —, o mais notável na Rosa é o perfume! O orvalho matinal, impregnando a terra, gera a prima materia ; deste acto de amor exala-se o Perfume Primordial de toda a criação. Por sua vez a fragrância dos oceanos, em contacto com a terra, sobe às nuvens, daí desce às florestas e une-se como doçura salgada ao Perfume Primordial: eis o segredo da Núpcia Alquímica, ou Mística Gestação, de tudo quanto vive. O inebriante aroma da Rosa é a quintessência subtilizada desse Mistério! — Oh Mestre! — disse por sua vez o terceiro Discípulo —, o que de mais notável há na Rosa é a cor. O branco e o vermelho em todas as suas gradações, desde as lágrimas de prata à pedra de ouro-rubi, o Divino Sangue refulgindo sobre o Túmulo nacarado do Redentor, a chuva de sémen Celestial e o leite virginal da DeusaTerra, misturando-se no sobrenatural cadinho do Grande Amor Sagrado, condensam num Brilho Único o inviolável Enigma da Eternidade; a cor aveludada da Rosa, em qualquer dos seus matizes, confere, a quem o saiba decifrar, o dom da Imortalidade. O Discípulo seguinte dissertou sobre a Beleza da Rosa, um outro sobre a delicada volúpia do seu Nome feminino, um outro sobre a incomparável doçura da sua Fragilidade, outro ainda sobre a sua misteriosa Leveza, e assim por diante. Quando chegou a vez do último Discípulo (um corcunda de olhar febril que se mantivera afastado e silencioso enquanto os outros discorriam) o Mestre sorriu, exactamente com o mesmo sorriso perfeito com que sorrira a todos os outros, e perguntou uma vez mais: — O que há de mais notável na Rosa? — Os espinhos — respondeu o corcunda sem hesitar. O Mestre ofereceu-lhe a Rosa transcenden-
[informação]
te e disse, inclinando a cabeça com reverência: — Guarda-a. Tu é que sabes.
Q
uando o Mestre repetiu esta história na classe seguinte, para o segundo recrutamento de candidatos, o candidato mais novo murmurou à parte, desiludido: — Tantas palavras para quê? Toda a gente sabe que o excesso de sapiência cega o entendimento para a fatal simplicidade das coisas.
BANG!
Colecção Bang! Apresentação do terceiro trimestre de 2008 Nomes consagrados da ficção científica, autores premiados da fantasia, criadores incontornáveis do horror... o terceiro trimestre deste ano oferece um pouco de tudo, incluindo duas edições especiais.
Escritor, cineasta e prof. universitário, nasceu em Lisboa em 1931. Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade Clássica e a Escola Superior de BA de Lisboa onde se formou em Arquitectura em 1958. Inclui na sua extensa filmografia dezenas de documentários, programas televisivos e filmes de intervenção, bem como onze longas-metragens de ficção. Paralelamente, especializou-se na investigação e estudo das religiões comparadas, de esoterologia, de história da filosofia e da estética audiovisual, e das formas literárias e fílmicas de «speculative fiction», temas que tem abordado em inúmeros colóquios e conferências, e em diversas publicações. Tem leccionado em diversas instituições de ensino desde 1971. Iniciou em 2005 um doutoramento em Sociologia da Cultura pela mesma Faculdade. Foi homenageado pelo 30.º Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, em Setembro de 2001, pela relevância da sua carreira e pelo contributo prestado à cultura cinematográfica portuguesa.e. BANG!
O Prestígio [Edição Especial] Christopher Priest Edição com capa exclusiva, tiragem limitada e o verdadeiro nome da obra na capa (adeus à edição tie-in do filme!) O Prestígio é uma história de segredos obsessivos e curiosidades insaciáveis. Actuando nas luxuosas salas de espectáculos vitorianas, dois jovens mágicos entram num feudo amargo e cruel, cujos efeitos podem ser ainda sentidos pelas respectivas famílias mais de um século depois. Os dois homens assombram a vida um do outro, levados ao extremo pelo mistério de uma espantosa ilusão que ambos fazem em palco. O segredo da magia é simples, mas para os antagorevista BANG! [ 16 ]
nistas o verdadeiro mistério é outro, pois ambos os homens têm mais a esconder do que apenas os truques da sua ilusão. Publicação dia 21 de Julho.
Os Leões de Al-Rassan
“Penso que o autor que mais me influenciou como escritor foi Richard Matheson. Livros como Eu Sou a Lenda foram uma inspiração para mim.” – Stephen King Robert Neville é o último homem vivo na Terra... mas não está sozinho. Todos os outros homens, mulheres e crianças transformaram-se em vampiros e estão sequiosos pelo sangue de Neville. De dia, ele é o predador, caçando os mortos vivos pelas ruínas abandonadas da civilização. De noite, Neville barrica-se em casa e reza para que chegue a manhã. Durante quanto tempo pode um homem sobreviver num mundo de vampiros? Publicação dia 11 de Agosto
Guy Gavriel Kay “Uma aventura elegantemente escrita e bem trabalhada... tão rápida e ritmada como pensativa” — San Francisco Chronicle “Brilhante e profundamente comovente… um romance épico dramático.” — The Edmonton Journal Inspirado na História da Península Ibéria, Os Leões de AlRassan é uma épica e comovente história sobre amor, lealdades divididas e aquilo que acontece aos homens e mulheres quando crenças apaixonadas conspiram para refazer – ou destruir – o mundo. Lar de três culturas muito diversas, Al-Rassan é uma terra de beleza sedutora e história violenta. A paz entre Jaddites, Asharites e Kindath é precária e frágil; assim como é a sempre presente sombra que divide os povos mas, ao mesmo tempo, consegue juntar indivíduos extraordinários. Ammar ibn Khairan – poeta, diplomata e soldado, Rodrigo Belmonte – um famoso líder militar, e Jehane bet Ishak – uma física brilhante. Três figuras cuja vida se irá cruzar devido a uma série de eventos marcantes que levam Al-Rassan ao limiar da guerra. Publicação dia 11 de Agosto
Eu Sou a Lenda [Edição Especial] Richard Matheson Edição com capa exclusiva, tiragem limitada e contos inéditos. revista BANG! [ 17 ]
A Tormenta de Espadas George R. R. Martin O quinto volume da melhor saga de fantasia dos últimos cinquenta anos! Os Sete Reinos estremecem quando os temíveis selvagens do lado de lá da Muralha se aproximam, numa maré interminável de homens, gigantes e terríveis bestas. Jon Snow, o Bastardo de Winterfell, encontra-se entre eles, debatendo-se com a sua consciência e o papel que é forçado a desempenhar. Todo o território continua a ferro e fogo. Robb Stark, o Jovem Lobo, vence todas as suas batalhas, mas será ele capaz de vencer as mais subtis, que não se travam pela espada? A sua irmã Arya continua em fuga e procura chegar a Correrrio, mas mesmo alguém tão desembaraçado como ela terá dificuldade em ultrapassar os obstáculos que se aproximam. Na corte de Joffrey, em Porto Real, Tyrion luta pela vida, depois de ter sido gravemente ferido na Batalha da Água Negra, e Sansa, livre do compromisso com o rapaz cruel que ocupa o Trono de Ferro, tem de lidar com as consequências de ser segunda na linha de sucessão de Winterfell, uma vez que Bran e Rickon se julgam mortos. No Leste, Daenerys Targaryen navega na direcção das terras da sua infância, mas antes terá de aportar às cidades dos esclavagistas, que despreza. Mas a menina indefesa transformou-se numa mulher poderosa. Quem sabe quanto tempo falta para se transformar numa conquistadora impiedosa? Publicação dia 11 de Agosto
[ficção]
[tradução de Luís Rodrigues]
Dois contos de...
Bruce Holland Rogers Os Melhores Contos de H. P. Lovecraft Howard Phillips Lovecraft “Uma obra tão importante como a de Edgar Allan Poe ou Tolkien.” -Robert Bloch “Lovecraft é um autor perturbante. Criador de um mundo cósmico de terror cuja única saída é a insanidade.” -Clibe Barker Terceiro volume da obra completa de Lovecraft. Com organização do Prof. José Manuel Lopes, da Universidade Lusófona, Os Melhores Contos de Howard Phillips Lovecraft - Volume 3, traz até junto do público nacional alguns dos contos mais emblemáticos deste escritor marcante da literatura fantástica, como por exemplo Para lá das Fronteiras do Sono, A Casa Maldita, Os Gatos de Ulthar, e a fabulosa novela Nas Montanhas da Loucura. Publicação dia 18 de Agosto
«E assim tem sido desde então. A qualquer noite, com a cabeça cheia de recados, o menino morto pode bater a qualquer janela para lembrar alguém—para te lembrar a ti, quem sabe—de um amor que sobrevive à memória, de um amor que não carece de nomes.»
O menino morto à tua janela
N E não perca no próximo número da revista Bang!, as sinopses dos lançamentos da Colecção Bang! até ao final do ano: Pavana, Keith Roberts Lisboa Triunfante, David Soares A Glória dos Traidores, George R. R. Martin O Clube de Hemingway, Dan Simmons Sebastian, Anne Bishop Tangled Webs, Anne Bishop
um país distante onde as cidades tinham nomes improváveis, uma mulher contemplou a figura inerte do seu bebé recém-nascido e recusou-se a ver o mesmo que a parteira. Era o seu filho. Trouxera-o ao mundo em agonia, e agora ele tinha de mamar. Encostou-lhe os lábios ao seio. — Mas ele está morto! — disse a parteira. — Não — mentiu a mãe. — Ainda agora o senti mamar. — A sua mentira era como leite para o bebé, que na realidade estava morto, mas abria agora os olhos e pontapeava com as pernas. — Está a ver? E obrigou a parteira a chamar o pai para conhecer o seu filho. O menino morto nunca chegou a mamar no seio da mãe. Nunca bebeu água, nem provou comida de nenhuma espécie, e por isso, claro, nunca cresceu. Mas o pai, que tinha jeito para coisas mecânicas, revista BANG! [ 18 ]
construiu uma armação para o esticar, para que, com o passar dos anos, pudesse ser da altura das outras crianças. Tendo visto seis Invernos, os pais mandaram-no para a escola. Embora fosse da altura dos restantes alunos, o menino morto era uma coisa estranha de se ver. A cabeça calva era quase do tamanho certo, mas o resto do corpo era delgado, como uma tira de couro, e seco como um pau. Tentava compensar a fealdade com diligência, e ficava acordado até tarde a ensaiar as letras e os números. A sua voz era como o restolhar de folhas secas. Por ser tão difícil escutá-lo, a professora obrigava os outros alunos a prender a respiração sempre que ele dava uma resposta. Ela chamava-o muitas vezes ao quadro, e ele estava sempre correcto. Como é natural, as outras crianças desprezavam-no. Por vezes, os rufias faziam-lhe esperas à saída da escola, mas bater-lhe, mesmo com paus, nunca lhe causava dano. Nem chegava sequer a gritar. Certo dia de vento, os rufias roubaram um novelo de cordel da secretária da professora e, depois da escola, prenderam o menino morto ao chão com os braços esticados em forma de cruz. Enfiaram-lhe um pau pela manga esquerda da camisa até sair pela direita. Esticaram-lhe as abas da camisa até aos tornozelos, ataram tudo no sítio, prenderam o novelo de cordel à casa de um botão, e lançaram-no ao ar. Para grande alegria sua, o menino morto fazia um papagaio excelente. Só os alegrava mais ver que, devido ao peso da sua cabeça, voava de pernas para o ar. Quando se fartaram de ver o menino morto voar, largaram o cordel. O menino morto não voltou ao solo, como um vulgar papagaio de papel. Pairou. Era capaz de se guiar um pouco, embora estivesse sobretudo à mercê dos ventos. E não conseguia descer. Na verdade, o vento impelia-o cada vez mais para o alto. Pôs-se o Sol, e o menino morto continuou a ser levado pelo vento. Nasceu a Lua, e ao luar viu sucederem-se prados e florestas. Viu cordilheiras passar por baixo de si, oceanos e continentes. Por fim, os ventos acalmaram, e depois cessaram, e ele aterrou a pairar no chão de um estranho país. O chão estava despido. A Lua e as estrelas tinham desaparecido do céu. revista BANG! [ 19 ]
O ar parecia cinzento e encoberto. O menino morto inclinou-se para o lado e abanou-se até o pau lhe cair da camisa. Enrolou o cordel que tinha puxado atrás de si e esperou pelo nascer do Sol. Com o alongar das horas, viu apenas o mesmo ar pardacento. Começou por isso a vaguear. Encontrou um homem muito parecido consigo, uma cabeça calva a encimar membros como cabedal. — Onde estou? — perguntou o menino morto. O homem olhou o ar cinzento em redor. — Onde? — perguntou. A sua voz, tal como a do menino morto, parecia o sussurro de folhas mortas. Da névoa, surgiu uma mulher. Também a sua cabeça era calva, e o corpo ressequido. — Isto! — disse em voz rouca, tocando a camisa do menino morto. — Eu lembro-me disto! — Puxou pela manga. — Tinha uma coisa destas! — Roupa? — perguntou o menino morto. — Roupa! — gritou a mulher. — É isso! Outras pessoas encarquilhadas surgiram do ar cinzento. Juntaram-se para ver o estranho menino morto que envergava roupa. O menino morto sabia agora onde estava. — É a terra dos mortos. — Porque tens tu roupa? — perguntou a morta. — Chegamos aqui sem nada! Porque tens tu roupa? — Sempre estive morto — disse o menino — mas passei seis anos com os vivos. — Seis anos! — disse um dos mortos. — E só agora te juntaste a nós? — Conheces a minha mulher? — perguntou um morto. — Ela ainda está entre os vivos? — Dá-me novidades do meu filho! — E que é feito da minha irmã? Os mortos aproximaram-se mais. Disse o menino morto: — Como se chama a tua irmã? Mas os mortos não se conseguiram lembrar dos nomes dos seus entes queridos. Não se lembravam sequer dos próprios nomes. De igual maneira, os nomes dos lugares onde tinham vivido, os números dos seus anos, as modas e costumes das suas épocas, tudo isso tinham esquecido.
— Bom — disse o menino morto — na cidade em que nasci havia uma viúva. Se calhar era a tua mulher. E sabia de um rapaz cuja mãe tinha morrido, e uma velha que podia ter sido a tua irmã. — Vais voltar? — Claro que não — disse outra pessoa morta. — Nunca ninguém volta. — Acho que sou capaz — disse o menino morto. Explicou-lhes o seu voo. — Mal sopre o vento… — O vento nunca sopra aqui — disse um homem falecido há tão pouco que ainda recordava o vento. — Então corram com o meu cordel. — Isso resulta? — Dá um recado ao meu marido! — disse uma morta. — Diz à minha mulher que tenho saudades dela! — disse um morto. — Diz à minha irmã que não a esqueci! — Diz ao meu namorado que ainda o adoro! Deram-lhe os seus recados, sem saber se os seus entes queridos continuavam vivos. Na verdade, dois amantes falecidos bem podiam estar lado a lado na terra dos mortos, passando mensagens um ao outro através do menino. Ainda assim, memorizou-as a todas. Os mortos recolocaram-lhe então o pau nas mangas da camisa, ataram tudo no sítio e desenrolaram o cordel. Correndo tanto quanto as pernas encarquilhadas lhes permitiram correr, lançaram o menino de volta ao céu, soltaram o cordel e ficaram a vê-lo afastar-se com o seu olhar morto. O menino pairou muito tempo sobre o cinzento da morte até que, por fim, uma aragem o levantou, e um sopro de vento o levantou ainda mais, e uma rajada o levou até onde podia ver a Lua e as estrelas. Lá em baixo, viu o luar espelhado no oceano. Ao longe, erguiam-se os picos das montanhas. O menino morto aterrou numa aldeola. Não conhecia ninguém ali, mas foi à primeira casa que encontrou e bateu na persiana do quarto. Disse à mulher que lhe abriu a janela: — Um recado da terra dos mortos — e transmitiu-lhe uma das mensagens. A mulher chorou e, em troca, deu-lhe outro recado. Casa a casa, entregou as mensagens. Casa a
casa, reuniu mensagens para dar aos mortos. Pela manhã, encontrou uns rapazes para o pôr a voar, para o devolver à mercê do vento, para assim levar estas novas mensagens de regresso à terra dos mortos. E assim tem sido desde então. A qualquer noite, com a cabeça cheia de recados, o menino morto pode bater a qualquer janela para lembrar alguém—para te lembrar a ti, quem sabe—de um amor que sobrevive à memória, de um amor que não carece de nomes. O Rei Duende
Q
uando era pequeno, o meu pai contava-me histórias ao deitar, e a minha mãe perguntava-lhe de outra divisão: — Não lhe estás a ler o poema, pois não? — É o preferido dele! — respondia o meu pai com um piscar de olho. Não sabia muito bem por que achava o meu pai que o poema do Rei Duende era o meu preferido. Todas as noites, depois de o ouvir, ficava muito tempo acordado, atento à escuridão. Acordava frequentemente numa choradeira durante a noite, e a minha mãe vinha para me abraçar. Ainda assim, todas as noites depois da última história, o meu pai abria o livro de poemas infantis e lia baixinho os versos sobre os espiões do Rei Duende: A Lua é um olho para o Rei Duende Ver como te estás a portar. E se amuas, choras, berras ou gritas As aranhas vão-lhe contar... A maior parte do poema era dedicada aos meninos que se comportavam mal e ao que lhes acontecia quando o Rei Duende se apercebia disso. Um rapazinho desaparecia chaminé acima, apanhado por uma abominação negra. Uma menina era puxada para o fundo de um poço. E depois havia a Annie. A pequena Annie partia os pratos Ao jantar, era endiabrada. Os pais mandaram-na para a cama. Ai dela! Teve a sorte traçada. O Rei Duende tem pés de areia revista BANG! [ 20 ]
E nunca faz um som. E quando a Mãe desfez a cama, Eis o que ela encontrou: Uma bola de cabelo encarquilhada, Um dente, uma unha e um osso. Mais nada restava da Annie A não ser, talvez, um soluço. O livro tinha uma figura do Rei Duende. Sentava-se, sorridente, no seu trono no bosque. A não ser pelo amarelo dos dentes e dos olhos, era feito de elementos da floresta—ramos, erva, areia, lama e folhas secas. Era difícil perceber onde acabava o bosque e começava o Rei Duende. Certa noite, faltou a luz no nosso bairro mesmo antes da hora de ir dormir. Eu já estava de pijama, e o meu pai levava-me ao colo para o quarto. Não havia luz para me contar uma história, porém declamou de memória o poema:
Bruce Holland Rogers nasceu em Tucson (Arizona, USA), em pleno deserto de Sonora, em 1958. Especializou-se na escrita de curtíssimas histórias, que lhe valeram inúmeros prémios, entre os quais o Pushcart Prize, dois Nebula Awards, o Bram Stoker Award, dois World Fantasy Awards, e nomeações para o Edgar Allan Poe Award e o Premio Ignotus, em Espanha. Vive actualmente entre o Oregon e Londres.
BANG!
A Lua é um olho para o Rei Duende Ver como te estás a portar. E se amuas, choras, berras ou gritas As aranhas vão-lhe contar... A lua tinha surgido à janela. Àquela luz mortiça, tudo o que podia ver eram as córneas nos olhos do meu pai e os dentes a brilhar. E quando a Mãe desfez a cama, Eis o que ela encontrou: Enquanto declamava o poema, foi esboçando um sorriso cada vez mais largo. Os dentes adquiriram luz própria, e os olhos tornaram-se enormes. O resto do corpo desvaneceu-se até eu deixar de perceber onde acabava a escuridão e começava o meu pai. Concluiu o poema, depois afagou-me o cabelo e disse o que sempre dizia quando me deixava a sós com as palavras do poema a pairar no ar negro. — Porta-te bem — disse ele. — Porta-te muito, muito bem. BANG! [contos integrantes da antologia Pequenos Mistérios] revista BANG! [ 21 ]
Pequenos Mistérios Bruce Holland Rogers Mestre da prosa concisa, rica e envolvente, o autor apresenta-se com esta colectânea de quarenta contos inesquecíveis, que lhe valeu o muito cobiçado World Fantasy Award em 2006 (na categoria de “Colectâneas”), no mesmo ano em que Haruki Murakami venceu na categoria de “Romance” por Kafka on the Shore. No prefácio, escrito exclusivamente para esta edição, Jeff VanderMeer (autor de A transformação de Martin Lake) escreve: “invejo todos aqueles que se deparam com este livro pela primeira vez”. Mais informações na página da editora: www.livrosdeareia.com
[tradução de Luís Filipe Silva]
[ensaio]
A ficção, por Henry James e Robert Louis Stevenson Dan Simmons Dan Simmons, um dos maiores escritores de literatura fantástica, oferece-nos um ensaio que dá que pensar... e que também dá origem à tertúlia que desenvolvemos a partir da página 43. “Não há géneros, apenas talentos” - Jean-François Revel, Le Voleur Dans La Maison Vide
O
ano de 2007 terminou relativamente bem para mim, em termos literários e de carreira literária. É verdade, acabei o ano envolvido num combate mortal com o meu extenso romance Drood – adiando o prazo até 1 de Fevereiro de 2008, e rolando no chão em luta com este livro difícilimo, aos chutos e pontapés, enquanto Drood e eu tentávamos acabar um com o outro; pela minha parte, insistia em que ele teria de nascer e teria de ser brilhante, ou estrangularia o #%%$&$&$ com as minhas próprias mãos. Até aqui, nada de novo. Mas precisamente no final do ano, quer meu agente quer o meu editor da Little, Brown, começaram ambos a enviar-me notícias sobre o meu romance The Terror, o qual tinha sido publicado em edição de bolso no início do ano e cuja versão em trade paperback saíra para as livrarias em princípios de Dezembro. A edição de livro de bolso ia já na terceira tiragem. Boas notícias, portanto. Mais interessante ainda foi a informação da USA Today de que The Terror constava da lista dos
dez títulos considerados pelo jornal como sendo os mais interessantes de 2007. Fantástico! Depois a Book Sense indicou-me que The Terror encontrava-se em 12º lugar na lista anual de livros mais vendidos por livreiros independentes. Perfeito! E a Entertainment Weekly colocou The Terror na sua lista dos Dez Melhores. Óptimo! E Stephen King incluiu, evidentemente, The Terror nas suas recomendações pessoais a respeito dos dez livros mais assustadores de 2007, nessa mesma edição da Entertainment Weekly. Obrigado, Steve! E a Amazon.com listou The Terror em primeiro lugar dos seus Top 10 – Fixe! – na secção de Ficção Científica e Horror. FC/Horror. Bem. . . isso é que já não é tão bom. Não quero, com esta afirmação, mostrar-me elitista. Sou autor de FC e Horror. O meu único e solitário Prémio Hugo (pelo romance Hyperion) é um dos meus galardões mais apreciados. As casinhas assombradas de cerâmica, representando os prémios que a associação dos Horror Writers of America me atribuiu, observam-me neste preciso momento enquanto escrevo estas palavras, e os meus «Howies» revista BANG! [ 22 ]
– designação do Prémio Mundial de Fantasia, uma edição limitada de bustos de H. P. Lovecraft pela mão do fabuloso cartonista Graham Wilson – também me sorriem, à sua maneira «Ilha da Páscoa». Gosto de todos eles e dos géneros que representam. Contudo, The Terror, embora contenha definitivamente elementos do fantástico e do horrendo, não se trata de FC de modo algum, e sim, 80% romance histórico e 20% fantasia/horror. No mesmo dia em que fiquei a saber da lista de FC/Horror da Amazon.com, entrei numa livraria da cadeia Borders e notei que The Terror estava enfiado nas prateleiras da secção de Literatura Geral; pensei para comigo – Pronto, assim está bem – antes de perceber que a loja acabara de alterar o sistema de arrumação nas prateleiras, mas não efectuara ainda a mudança das designações das secções. The Terror encontrava-se na secção de Romances de Horror e nem sequer um exemplar podia ser encontrado sob a etiqueta de Literatura Geral. Jean Auel e os seus Caçadores de Mamutes era ostentada nesta última secção, mas The Terror, com toda a pesquisa cuidada histórica que tem por base... Merde! Scheisse! Sim, Virginia, nós, escritores, somos uma espécie picuinhas e patética. Pronto, depois da pequena birra, parei para pensar porque é que este tipo de assuntos é tão importante para nós, escritores. Parei para reflectir porque é que tenho tanto orgulho em que Hyperion, Ilium, Olympos, Worlds Enough & Time e alguns dos meus outros livros se encontrem na secção de FC, e particularmente satisfeito por ver Carrion Comfort, Children of the Night, Summer of Night, e outros, na secção de Horror, mas contudo me sinta incomodado quando encontro os meus outros romances – The Crook Factory, por exemplo (uma história sobre a presença de Hemingway em Cuba, em 1942, e o papel que desempenhou enquanto espião) ou Phases of Gravity ou The Terror erradamente emprateleirados, tendo ainda como consequência o facto de que nunca serão descobertos pelos leitores de literatura geral. Algo que percebi há muito: no que toca a computadores e empregados de loja, assim que ficamos conhecidos como autores de FC ou Horror, seremos sempre autores de FC e Horror. revista BANG! [ 23 ]
E porque me incomoda isto? Bem, uma loja que esconda os livros dos leitores que poderiam apreciá-los incomoda qualquer autor, mas de onde vem esta profunda irritação em ser-se classificado, encostado a um género, e afastado da secção de Literatura? É tudo por causa do ego? É um sentimento de inferioridade? Inveja mesquinha? Pensando nisto enquanto transladava disfarçadamente alguns exemplares de The Terror para as estantes de Literatura, de forma a que repousasse junto de gigantes literários como Danielle Steele, lembrei-me, não pela primeira vez (e certamente que não pela última), de algo que George R. R. Martin me disse no Verão de 1981, aquando da minha participação no Workshop, de uma semana, dos Escritores de Milford destinado a autores profissionais (uma singular excepção prestada à minha pessoa, pois ainda não tinha sequer publicado o meu primeiro livro). Alguns dos verdadeiros autores ali presentes (Connie Willis encontrava-se lá, em início de carreira, bem como Edward Bryant e George R. R. Martin, que se tinha iniciado na FC e recentemente se transferira para o género do horror, o qual voltara a tornar-se popular nos inícios dos anos 80) debatiam o familiar argumento de que «ninguém nos respeita», ao qual certas pessoas dentro do género acabam por sucumbir. (Eu não, obviamente – nessa época, em que ainda não publicara nada, teria vendido a minha avó aos árabes se me fizesse ser publicado em que género fosse.) «Parece-me que a ficção se dividiu nestas duas formas de pensar com Henry James e Robert Louis Stevenson», afirmava George Martin nesse dia de Estio de 1981. «Antes deles, não se podia falar verdadeiramente em géneros. Mas actualmente, ou se é descendente de James... um autor sério... ou um descendente de Stevenson, um mero autor de género.» Essa afirmação ficou-me no espírito. Mais tarde, conduzi uma breve pesquisa para ficar a saber se Henry James e Robert Louis Stevenson se conheciam, e, em caso afirmativo, o que pensavam um do outro e das respectivas obras. E uma vez que um
dos géneros em que me movo é a Ficção Científica, melhor retratada por FC do que pela epítote execrável de «sci-fi» que os não-leitores do género nos estampam na testa, para a finalidade deste ensaio irei incluir H. G. Wells também ao barulho enquanto representante desta, enquanto Robert Louis Stevenson poderá representar a aventura e a ficção imaginativa de todos os tipos. Conhecia Henry James estes homens? O que pensavam uns dos outros? Talvez ainda mais importante, o que pensavam eles dos tipos de escrita que os colegas produziam?
«Se o Sr. James nunca participou numa aventura em busca de tesouros enterrados», escreveu, «poderá então ser demonstrado que nunca foi verdadeiramente criança.»
H
enry James conheceu Robert Louis Stevenson em 1879, pouco depois de James ter publicado o romance extremamente popular e influente Daisy Miller. Então, a Treasure Island de Stevenson encontrava-se ainda distante quatro anos no futuro, e The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, bem como Kidnapped, a sete anos de distância. Não foi um começo particularmente auspicioso para o relacionamento. Amigos de Stevenson afirmam que este terá voltado do breve encontro com uma opinião pouco favorável a respeito de Henry James. Por seu lado, James referiu-se assim a um amigo sobre Robert Louis Stevenson: «. . . uma pessoa agradável, mas um boémio sem colarinho e em grande medida (embora de forma inofensiva) um pedante.» A falta de admiração mútua poderia ter-se tornado num desprezo explícito – poucos homens eram tão díspares em personalidade quanto Stevenson, boémio, tísico, irrequieto, aventureiro, incomodado pelos espaços urbanos, e James, muito ciente da distinção entre as classes, preciso, rotundo, saudável, urbano e por vezes efeminado – se, em 1884, Henry James não tivesse sentido a necessidade de responder a um ensaio chamado «Fiction as One of
the Fine Arts» («Ficção como uma das Belas Artes») da autoria de um romancista vitoriano de sucesso, hoje completamente esquecido, de nome Walter Besant. Besant argumentava que a escrita devia pertencer à categoria das restantes belas artes, e que todos os romances deviam possuir um «propósito moral consciente». Também urgia fortemente que todos os escritores apenas abordassem o que realmente conheciam, e que os autores das classes inferiores se abstivessem de escrever sobre personagens do mundo da alta sociedade ou de outros locais que o autor pouco conheceria e nos quais, nem ele nem os seus personagens seriam desejados. Henry James rejeitou quase todos os teoremas de Besant e respondeu nas páginas da Longman’s Magazine com o seu ensaio definitivo, «A Arte da Ficção», uma obra que, se não poder ser considerada como o manifesto de todos os «autores sérios» dos séculos XX e XXI, tornou-se de certa forma o pater familias contra o qual a ficção moderna é impelida a revoltar-se. James argumentava no ensaio que qualquer ficção nasce da experiência mas não se encontra circunscrita por esta: «A experiência nunca é limitada, mas também nunca é completa; é uma sensibilidade imensa, uma espécie de teia de aranha imensa feita dos mais finos fios de seda suspensos na câmara da consciência, prendendo toda e qualquer partícula que atravesse o ar na sua malha. É a essência da atmosfera do espírito; e quando o espírito é imaginativo – muito mais se pertencer a um génio – assume os mais ligeiros indícios de vida, converte as pulsações do ar em revelações.» Entre os leitores deste ensaio encontrava-se Robert Louis Stevenson, então em convalescença em Bournemouth. O autor da Treasure Island não discordava da citação de Henry James atrás citada, mas James prosseguia com a afirmação de que, embora o romance não se igualasse à vida, deveria mesmo assim reproduzir «a ilusão da vida». James afirmava ainda que a qualidade mais admirável e esplêndida do romance enquanto formato era a sua «… persorevista BANG! [ 24 ]
nalidade extensa e livre com uma correspondência imensa e rica à da vida.» James usara a recém-publicada Treasure Island para expandir este argumento. Ainda que elogiasse a qualidade da escrita e o brilhantismo da criatividade do conto de Stevenson, James demonstrava o modo como violava os limites da ficção realista... «Em tempo fui criança», escreveu James, «mas nunca participei em aventuras em busca de tesouros enterrados.» Stevenson retorquiu a James num ensaio-resposta intitulado «Uma Admoestação Humilde.» «Se o Sr. James nunca participou numa aventura em busca de tesouros enterrados», escreveu, «poderá então ser demonstrado que nunca foi verdadeiramente criança.» R.L.S. continuava, refutando o ímpeto do argumento de James a respeito da emulação da vida pela arte. O segredo da arte, afirmava, é que não tenciona «competir com a vida». Dizia Stevenson que a vida «…é monstruosa, infinita, ilógica, abrupta e pungente», enquanto que uma obra de arte «deverá ser elegante, finita, contida em si mesma, racional, fluída e castrada». Aquele termo final, «castrada», foi – receio – bastante preciso ao descrever tanta da dita «ficção séria e literária» da segunda metade do século XX e deste curto começo de século. Tornou-se quase numa certeza que, para ser respeitada, uma obra de ficção contemporânea terá ser pequena em escala, vazia de aventura e de visões grandiosas, de âmbito deliberadamente modesto, e com um certo tom introspectivo de natureza feminina. John Updike mencionou em tempos a necessidade de ser-se «pequeno e de escrita densa o suficiente» para se conseguir aparecer no The New Yorker. «Nada poderá ser mais deplorável», acrescentava Robert Louis Stevenson na sua «admoestação humilde» a Henry James, «do que abandonar as vissicitudes da vida e encontrar refúgio num estúdio cuja temperatura se encontra regulada.» Mas era precisamente num tal estúdio de temperatura regulada, em Bournemouth, que Stevenson procurava recuperar da sua querela recente com o que (pensamos hoje) seria quase certamente revista BANG! [ 25 ]
tuberculose. Não muito longe de Bournemouth, Alice, irmã de Henry James, também se encontrava em convalescença. Alice chegara recentemente dos Estados Unidos, pretendendo convalescer em Inglaterra, e não nas Américas; era uma mulher que dedicara a juventude à tarefa da invalidez e de ir morrendo aos poucos, embora não lhe encontrassem um problema físico naquela idade (quando um caroço cancerígeno no peito foi descoberto anos mais tarde, Alice chegou a mostrar-se contente por finalmente estar na posse de um diagnóstico físico que se enquadrava no seu particular estilo de morrer). Mas como o melhor (ou pelo menos, o mais exaustivo) biógrafo de Henry James, Leon Edel, escreveu a respeito desse ano de 1884... «Foram assim declaradas em público, no decurso deste ano, três perspectives distintas sobre o romance; a de Besant referia-se à perspectiva do escriba popular e bem intencionado, o “fazedor” de ficção popular; James argumentou que o romance devia ser uma obra de arte com o objectivo de re-criar a realidade; e Stevenson, a partir da sua própria fórmula, advogou a criatividade pura». Creio que é justo dizer, passados 114 anos, que estes três polos magnéticos distintos ainda dividem o mundo dos romances e os romancistas. Contudo, não se instalou nenhum antagonismo entre James e Stevenson porque, a seguir ao debate animado nas páginas da Longman, o primeiro escreveria ao segundo, revelando o seu encanto «perante a leitura de tudo o que [Stevenson] escreve. É um luxo, nesta época imoral, encontrar alguém que sabe escrever – que é realmente conhecedor dessa formosa arte.» James diria a respeito dos seus próprios argumentos no ensaio «A Arte da Ficção» que constituiam principalmente uma moratória pela liberdade dos romancistas e que representavam apenas metade das suas opiniões sobre o assunto. «Um dia tentarei exprimir o que falta. . . A ligeireza intrínseca de tudo o que escreve é-me deliciosa», James acrescentou na carta, sabendo o quão doente Stevenson se encontrava. Robert Louis Stevenson retorquiu que os seus próprios esforços literários eram modestos quando comparados com os de Henry James, e dis-
cursava sobre «o desespero com o qual escritores como eu contemplam (digamos) a cena do parque em Lady Barberina. Cada toque surpreende-me pela sua precisão instantânea.» No que tocava às discordâncias de ambos, Stevenson comentava: «Todos os homens perseguem objectivos diferentes, e eu persigo os meus; mas quando medirmos o desempenho, reconheço que, comparado consigo, não passo de um preguiçoso e incapaz de primeira ordem.» Stevenson acrescentou que, por se encontrar doente, apreciava a companhia de visitas, e convidou James a dirigir-se a Bournemouth onde o poderia albergar e oferecer-lhe uma «justa garrafa de clarete.» E assim começava a verdadeira amizade entre Henry James e Robert Louis Stevenson.
«No seu ponto de vista, a criança normal é aquela que se ausenta do círculo familiar.»
N
ão há dúvida que Henry James gostava profundamente da sua irmã Alice, mas perdoem-me a minha insensibilidade e dureza (e honestidade) se referir que Alice James era uma maluca irritante e cansativa. Visitá-la com frequência, como Henry James fazia – quer estivesse em Londres a praticar a sua sua forma de morrer, ou em Bournemooth, onde Alice e a sua aia tinham alugado uma casa de campo – deve ter sido o equivalente familiar de ir ao dentista todas as semanas. Atentem, por favor, que os meus comentários são feitos na plena consciência de que Alice James é muito admirada pelos académicos da era moderna, em particular pelos que se dedicam ao estudo do feminismo, da história e da política dos cinco géneros. Para ser justo, Alice era uma pessoa bastante animada, considerando que era uma inválida profissional – sempre interessada nos últimos boatos que os irmãos William e Henry lhe traziam, sempre interessada no mundo do teatro, e sempre a escrevinhar todos esses boatos em montes de cartas, entradas em diários, e pequenos ensaios, de volume impressionante, mesmo naquela era vitoriana de
excesso epistolar. E mais interessante ainda para os académicos modernos e aspirantes a doutores, era, obviamente, a paixão eterna, exigente e obsessiva com a aia, Katharine Loring. (Os estudiosos de Alice James deixam pegadas lamacentas sobre o peito e barriga proeminente do irrelevante Henry James na sua pressa para abordar Alice e as suas tendências lésbicas.) Dada a época e os tempos, seria pouco provável que essas tendências fossem alguma vez postas em prática fisicamente, permanecendo sublimadas, quase de certeza, mesmo perante um espírito tão ciumento e exigente como o de Alice James; contudo, será também pouco provável que os estudantes actuais consigam perceber isso. Nunca, como hoje, conseguiram os académicos ignorar o contexto e realidade de épocas passadas como actualmente acontece, pelo que Alice acabou por tornar-se numa estrela fixa no firmamento dos estudos lésbicos (embora a pobre Alice possivelmente tivesse tido uma síncope antecipada – e conseguindo assim antecipar o objectivo pessoal de morrer –, se soubesse que este boato impensável a seu respeito andaria na boca do mundo). De qualquer modo, sabemos que as visitas de Henry James à cabeceira do leito (ou do sofá) de Alice em Bournemouth eram permanentemente cansativas e com frequência exasperantes para a sua pessoa, embora em 1885 conseguisse aliviar a melancolia ao tornar-se num visitante regular da vizinha Skerryvore, terra onde Robert Louis Stevenson mantinha um cadeirão especial reservado para James. R.L.S. tinha trinta e cinco anos então, sete anos mais novo que H.J., e James não era o único amigo de Stevenson a notar que o tuberculoso mantinha todo o entusiasmo, irrequietitude e paixão pelo mundo do faz-de-conta de um miudo. Alice James passou anos a fingir que morria; Robert Louis Stevenson estava a efectivamente a morrer, mas mostrara e continuaria a mostrar uma capacidade impressionante, vez e outra, de se erguer do abismo final. E para alguém assim tão doente, Stevenson era admiravelmente prolífico– escrevendo entre os ataques de tosse, febres, e fraqueza (afirmava não sentir muitas dores). revista BANG! [ 26 ]
Stevenson e esposa habitavam uma estrutura vívida, coberta a marfim, com dois andares e tijoleira amarelada (e um telhado de ardósia azul) dependurada quase sobre a berma, ou garganta, de Alum Chine. Deram ao local o nome de Skerryvore, em honra do famoso farol construído por um antepassado de Robert Louis Stevenson. Era aqui que James e Stevenson se encontravam e mantinham conversas, na sala azul, as respectivas reflexões acompanhadas por um grande espelho venesiense que James oferecera ao casal. Stevenson ficaria sentado num dos lados da mesa a enrolar cigarros, sendo habitual formar uma imagem pitoresca no espelho com os seus compridos bigodes louros, envergando casacões boémios de veludo, com um xaile marrom lançado sobre os ombros como se fosse um poncho mexicano. Stevenson gostava de dedicar a James versos laudatórios da sua autoria, honra que o escritor mais velho aturava com graciosidade. Muitos desses poemas celebravam a amizade entre os dois. Agora com graça desmedida Antevejo o fogo estaladiço Na sala azul de Skerryvore; Onde aguardo que pela aberta Porta, o Príncipe dos Homens Henry James, de novo surja.
J
ames admirava a escrita de Stevenson, mas – como era hábito nas suas reacções ao trabalho de outros escritores – era honesto sobre o assunto, quer perante terceiros quer perante o autor em questão. James poderia estar a referir-se à ficção científica e outros géneros futuros quando apontou que havia uma quase total ausência de heroínas na ficção de Robert Louis Stevenson. «A ideia do faz-de-conta», escrevia James, «é-lhe mais atraente que a ideia de fazer amor.» Refiro-me a esta situação como sendo o factor «Universo do Pato Donald» da nossa FC e dos géneros de aventuras, até há bem pouco tempo – um mundo no qual não existem mulheres importantes, nem famílias, por assim dizer (e certamente nenhuma das restrições que as mulheres e os pais impõem na vida real), e no qual todos os rapazes são sobrirevista BANG! [ 27 ]
nhos de homens mais velhos que os conduzem em aventuras excitantes. «Embora tenha um interesse enorme na vida juvenil, não tem qualquer interesse na vida junto à lareira», escrevia James. «No seu ponto de vista, a criança normal é aquela que se ausenta do círculo familiar.» Nesse mesmo ano, em Bournemouth, James escrevia ao editor americano e velho amigo William Dean Howells: «O meu único recurso social nesta terra é Robert Louis Stevenson, que se encontra mais ou menos moribundo e que (caso chegue a falecer) me passou no outro dia uma mensagem de natureza amistosa – muito amistosa – que devia entregar-lhe a si quando proximamente nos víssemos. Aguardarei até esse momento – é demasiado longo para esta carta tão pequena. Trata-se de uma criatura interessante e charmosa, mas receio que esteja nas últimas; embora em aparência menos perto da morte do que já pareceu no passado.» James e Stevenson faziam o que quaisquer autores que se têem em consideração mútua costumam fazer desde a invenção do pergaminho: enviavam um ao outro os respectivos livros e liam-se com apreço genuíno. No ano de 1886, em Skerryvore, Stevenson entregou a James uma cópia de Kidnapped, inscrevendo nela – «Oxalá tivesse uma melhor obra para oferecer ao melhor dos homens.» Essa cópia, ainda preservada na biblioteca de James, encontra-se inscrita com observações e notas marginais – algo comum aos livros que Henry James tinha na sua posse e que respeitava.
«Não tornou o Sr. Rider Haggard agradável inclusive a carnificina africana?»
N
ão se deverá assumir, neste ponto, que Henry James seria um artista literário com um gostinho escondido por romances de cordel. Apesar da forma rígida como hoje o encaramos, James não era, de modo nenhum, um puritano. Embora cauteloso em seguir as convenções da
época, foi Henry James quem, naqueles últimos anos da era vitoriana, concluiu que «o lado carnal do homem parece demasiado característico se o olharmos ao pormenor; mas se o olharmos ao pormenor não vemos o outro lado, o lado pelo qual reage contra as suas fraquezas e derrotas.» Mas se Henry James podia defender a expansão dos limites dentro dos quais a literatura se debate com a sexualidade – e como efectivamente o fez durante a reescrita posterior dos seus primeiros contos e romances para a dita Edição Nova Iorquina da sua obra coligida –, abominava contudo o uso de violência na ficção. James abominava a violência de uma forma geral, mas era a sua sensibilidade artística que se sentia violada quando os autores distorciam a realidade – incluindo o efeito realista da violência infringida sobre pessoas reais – para provocar respostas básicas nos leitores. «Não tornou o Sr. Rider Haggard agradável inclusive a carnificina africana?» comentou James a Stevenson sarcasticamente por carta, em 1886. H. Rider Haggard era um autor de sucesso da época; James tinha lido as Minas de Salomão na totalidade e She até meio, antes de desistir. O facto de She ter vendido mais de 40 000 exemplares, disse a Stevenson, provocava-lhe «uma indignação divina.» James ironizava: «não é tão bom que algo tão vulgarmente banal seja precisamente o que tem mais sucesso junto dos ingleses actuais.» Sentia-se, pelas suas palavras, incomodado com a «sanguinolência animal dos livros de Haggard.» «Tanta matança perpétua e tanta fealdade perpétua! Será válido, ao escrever-se um conto de aventuras fantásticas, que até incluía um personagem cómico, etc, sustentado na premissa mais ténue, que se mate assim 20 000 homens, como acontece em Salomão, apenas para ajudar os heróis na demanda! Em She, o Narrador mata pelas costas (penso) o próprio servo, o fiel Maomé, para impedir que seja cozido vivo, e descreve como saltou no ar como um veado sob a força do disparo. Parecem-me obras nas quais a nossa raça e era se apresentam como figuras vis – e inesperadamente, deprimiram-me.» Há que parar neste ponto. Se as obras de H. Rider Haggard realmente deprimiam Henry James,
o que então pensaria do tsunami incessante, nos nossos dias, de todo e qualquer tipo de acto de violência, tortura, e depravação imagináveis, que jorram dos ecrãs de cinema e da televisão e das músicas rap e dos romances bestseller, vinte e quatro horas por dia? Mas o meu argumento era simplesmente mostrar como a admiração de Henry James pelo faz-de-conta juvenil dos livros e contos de Robert Louis Stevenson não se estendia aos restantes escribas básicos de ficção sensionalista, inclusive aos da sua própria época.
«Uma criança poderia tê-lo escrito se essa criança fosse capaz de observar a infância pelo lado de fora».
E
ntretanto, as carreiras de ambos os autores tomavam rumos inesperados. Henry James começava a ser considerado e reconhecido como «o Mestre», embora encontrasse enormes dificuldades em ganhar dinheiro com a maestria de prosa. Em 1886, quando o romance The Bostonians se encontrava a ser publicado em partes na Century Magazine, o editor de James, Richard Watson Gilder, escreveu-lhe a informá-lo que «nunca tinham publicado nada que parecesse despertar tão pouco interesse nos leitores». No ano de 1888, James encontrava-se numa tal situação que confessou a um amigo que os seus próprios romances tinham «reduzido o desejo, e a procura, de tudo o que escrevia, a zero». Decidiu ganhar dinheiro pela escrita de peças – uma tentativa que lhe traria a humilhação mais terrível e profunda de toda a sua vida – e pela crítica de livros. Um desses livros que criticou para a Century Magazine em 1888 foi Kidnapped: «… [trata-se] de facto uma prova evidente do que o romance pode conseguir na sua melhor forma, e que nada mais é capaz de conseguir tão bem. Na presença deste tipo de sucesso percebemos o seu imenso valor. É (o romance) capaz de uma transparência rara – capaz de ilustrar os assuntos humanos em situações tão delicadas e comrevista BANG! [ 28 ]
plexas que em qualquer outro veículo se tornariam inadequados.» E de facto, Robert Louis Stevenson tinha estado em maré de sorte. Em 1885, o ano seguinte ao do debate com James nas páginas da Longman’s Magazine, Stevenson dera à luz The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, acabando-o em apenas três dias após «um sonho particularmente vívido.» Mostrou-o à esposa, que respondeu dizendo que lhe «faltava alegoria» e por conseguinte era um esforço falhado. Stevenson queimou o manuscrito de imediato. Depois pensou melhor e escreveu-o de novo, novamente demorando três dias, e passou os meses seguintes a procurar um editor, um editor qualquer, que fosse capaz de lidar com um tópico tão perturbante. Encontrou-o. O livro revelou-se um sucesso de vendas imediato. Dr. Jekyll and Mr. Hyde granjeou a Stevenson a reputação que ainda hoje tem, tornando-o num dos autores populares do seu tempo, e conduziu ao sucesso ainda maior de Kidnapped, enquanto os romances de Henry James faziam adormecer a base de leitores deste, que cada vez era mais reduzida. James não nutria ressentimentos, pois perseguia a sua própria visão sobre a arte da ficção. Numa outra crítica sobre a obra de Robert Lous Stevenson que James publicaria na North American Review, o autor mais velho comentava: «...na linguagem da arte que depende essencialmente da observação directa, personalidade, personalidade, eis o destingue!» E ao escrever uma crítica de um livro de rimas infantis que Stevenson publicara, Henry James honrou-o com o que é possivelmente o maior elogio a um escritor de ficção imaginativa que se apoia na santidade do faz-de-conta – «Uma criança poderia tê-lo escrito se essa criança fosse capaz de observar a infância pelo lado de fora».
R
egressaremos à amizade entre Henry James e Robert Louis Stevenson quando dos capitulos finais e do final agridoce em Dezembro de 1894, mas gostaria de passar agora adiante e analisar o re-
revista BANG! [ 29 ]
lacionamento posterior entre Henry James e o Pai da Ficção Científica, Herbert George Wells. Tanto quanto saiba, os rumos de Henry James e Herbert George Wells cruzaram-se pela primeira vez a 5 de Janeiro de 1895. Para Henry James – e por razões que em nada se relacionavam com Wells – foi talvez a pior e mais humilhante noite da sua vida. Vou tentar explicar porque esta noite foi tão terrível para Henry James antes de iniciar a descrição da passagem de H. G. Wells pela vida do Mestre. Conforme mencionei anteriormente, James andava desesperado a tentar ganhar dinheiro através da escrita de romances e contos, e pensou dedicar cinco anos da sua vida a tentar alcançar a fama com uma peça de sucesso. Destes cinco anos, foram efectivamente motivantes para o mestre da prosa escrita os dois primeiros, apesar de ter passado por desilusões genuínas. Nas cartas a amigos e demais escritores, entre os quais se encontrava Robert Louis Stevenson (que então tinha emigrado para os mares do Sul), James declarava o seu entusiasmo com este novo meio – um pouco como acontece com os romancistas de hoje ao começarem a trabalhar no cinema – e que a escrita para o teatro recorria a métodos que o romance não permitia. E no tocante à sua opinião, nos anos de 1893 e 1894, seria dramaturgo durante o resto da vida. Não voltaria atrás. Mas no sábado de 5 de Janeiro de 1895, a peça na qual trabalhava e reescrevia e refinava e ensaiava há tanto tempo, chamada Guy Domville, estreou-se em Londres. A estreia gerara um interesse público muito positivo e a perspectiva inicial era favorável. O famoso actor-empresário George Alexander concordara em financiar Guy Domville em grande parte porque a peça lhe permitiria representar uma diversidade de personalidades e emoções: romântico no primeiro acto, deprimido no segundo acto, e um visionário e mártir no terceiro. E com cada mudança de personalidade, assim mudaria de vestimenta. Alexander era muito vaidoso com a presença em palco – particularmente no que tocava a mostrar as pernas – e muitos
dos seus apreciadores eram mulheres que assistiam às peças apenas para ver a sua figura masculina e as ditas pernas em vestes elaboradas. Os restantes actores variavam de serem competentes a inconsequentes. James quisera desesperadamente a participação de Elizabeth Robbins – uma actriz muito profissional, muito popular, e uma amiga muito recente do romancista – no papel principal feminino de Guy Domville, mas uma série bizarra de confusões dignas de um artigo no moderno National Perspirer fizeram-na «dispensar» a oferta em favor de uma actriz mais jovem e sem experiência relevante. E contudo, uma produção de George Alexander de uma peça de Henry James atrairia a nata da Londres artística e literata à noite de estreia. Muitos dos amigos famosos de James estavam presentes nessa noite – incluindo os artistas Lord Leighton, Burne-Jones, George du Maurier (o artista-ilustrador tornado recentemente famoso e rico pelo romance bestseller Trilby, cuja adaptação aos palcos se tinha tornado num dos maiores sucessos do século) e John Stinger Sargent. A vertente literária estava representada por nomes igualmente conhecidos. Mas uma qualquer razão ainda hoje não completamente compreendida, a noite de estreia também atraiu rufias – literalmente, vândalos. Nunca se compreendeu exactamente quem lhes comprara os bilhetes e qual o seu propósito. Houve quem sugerisse que George Alexander ofendera agiotas ou outro tipo de gangsters e que os vândalos e a arraia miúda tinham sido enviados para ridicularizar a figura peralvilha do actor (que, de facto, fora alvo de sérias ameaças antes da peça ter início nessa noite, incluindo uma coroa funerária de flores.) De qualquer forma, era uma mistura estranha numa audiência de noite de estreia. E a peça não era das mais fáceis. Apesar de ter alguns diálogos requintados, o arco dramático era curioso – amador e obscuro, poderia afirmar-se – e a percepção de diálogo de Henry James não conseguira ainda dominar as exigências do palco. Oscar Wilde estreara recentemente um conjunto de peças de sucesso – coisas triviais – mas as audiências modernas ainda hoje podem assistir e apreciar o diálo-
go a estalar de actor para actor, como o chicote de Indiana Jones. Na peça relativamente obscura de Henry James, os personagens estavam a entrar e sair constantemente – tinha problemas com entradas e saídas de cena, e Alexander estava continuamente a mudar de roupa como um manequim de desfile dos tempos actuais – e quando um personagem falava, tendia a ficar parado e despejar grandes quantidades de algo que parecia, mas não era, uma fala natural. Não continha nada da mistura de poesia perfeita, do linguajar diário e intensidade bruta que Shakespeare mostrara aos dramaturgos ser possível de criar. No cômputo geral, a peça teve um tremendo azar. Quem aprecie teatro ao vivo já viu desastres como este. Estou recordado de uma produção musical londrina, muito cara, de E Tudo o Vento Levou há alguns anos, na qual as saias-balão dominavam o palco e na qual, durante a cena em que Rhett conduz Scarlett para longe de uma Atlanta em chamas, o cavalo que puxava a carroça parou para aliviar os intestinos durante um tempo interminável. O público começou a rir e não conseguiu parar. A seguir, no final desse segundo acto, quando Scarlett disparou contra o soldado ianque que lhe invadira a mansão de Tara, o actor, ao tombar, não atingiu a marca que devia. Ficou no caminho do pano, que começou a descer; o ianque morto apercebeu-se que as quase 2,5 toneladas de tecido iriam cair precisamente sobre ele. O actor tinha uma escolha – ou rodava para a direita, directamente para cima do estrume ainda fumegante que ali tivera de ficar durante o longo segundo acto, ou seria esmagado pelo pano. Escolheu o estrume. Quando o pano voltou a subir passados 15 minutos de intervalo, o publico ainda se estava a rir. E Tudo o Vento Levou: o Musical não sobreviveu. Guy Domville não foi assim tão mau. Não se viu estrume a ser depositado ou atirado para o palco. Foi algo bastante diferente. As dúzias de mudanças de roupa de George Alexander, sempre a mostrar as barrigas perfeitas das suas pernas envoltas em meias de seda, provocaram o riso na plateia (riso que não era intencional na peça, tal como James a escrevera) – em particular, revista BANG! [ 30 ]
no grupo de vândalos sentados nos lugares baratos. E então surgiram as saias-balão da matrona da Sra. Domville – demasiado grandes para caber na porta, demasiado retesadas para lhe permitir sentar-se quando era necessário que o fizesse. E além dessa saia imensa que enchia o palco, a actriz avantajada era forçada a usar um altíssimo e desengonçado chapéu, ornado com imensas plumas. Cada vez que a Sra. Domville virava a cabeça, havia alguém no palco que ficava com a cara cheia de penas, e o chapéu pendia tão selvaticamente que o publico começou a rir-se mesmo durante os momentos mais sérios da peça.
«As gentes rudes e plebeias do público atingiram James com escárnios, vaias, apupos, e tudo de mau que tinham ao dispor, excepto vegetais podres.» E por fim chegou a cena da bebedeira. Era suposto ser um momento cómico, durante o qual Alexander tentaria embebedar um outro actor, e este tentaria retribuir-lhe o feito, enquanto cada um deles deles iria despejando surrepticiamente a sua bebida nas plantas junto a si, pensando ambos que estavam a ludibriar o rival para o tornar, de acordo com as anotações de Henry James, «intelectualmente ébrio» – mas por esta ocasião na peça tanta coisa tinha corrido mal que a audiência ria-se dos próprios actores e não da história, tendo Alexander interpretado a cena (nas palavras de um novíssimo critico teatral chamado George Bernard Shaw) «com a sobriedade do desespero.» No final da peça e ao completar o que deveria ter sido uma peruração belíssima, George Alexander excedeu o dramatismo da deixa – «Milorde, sou o último dos Domvilles!» – e surgiu da escuridão uma voz alta e áspera vinda do balcão – «Ainda bem que és!» Henry James não assistiu a este desastre. Tinha ficado tão nervoso até ao momento da estreia que teve a «brilhante ideia» de assistir à estreia de uma peça de Oscar Wilde e não à da sua. Tendo permanecido nesta até ao final e testemunhado o aplaurevista BANG! [ 31 ]
so entusiástico que se seguiu, voltou para o Teatro St. James, no qual Guy Domville estava prestes a terminar e dirigiu-se para os bastidores, pensando que poderia ser chamado ao palco. A peça terminou. Também nesta se verificou aplauso entusiastico. Alexander – desfeito em suor com tanta troca de roupas e completamente perplexo pela hostilidade do publico durantes os três actos – regressou para as chamadas a palco. Os amigos de James e a audiência começaram a pedir «Autor, autor». Alexander, que devia dar a James um sinal que lhe indicasse se era apropriado para o autor aparecer, estava irritado. Talvez, alguns especularam, odiasse Henry James tanto naquele instante, que quis que este passasse pela mesma agonia que o actor tinha sofrido naquelas horas em cena, tendo sido propositado no que fez a seguir. De qualquer forma, saiu de palco, tomou Henry James pela mão e conduziu o romancista-tornado-dramaturgo para palco sem que este suspeitasse do que se passava. Directamente para uma emboscada. As gentes rudes e plebeias do público atingiram James com escárnios, vaias, apupos, e tudo de mau que tinham ao dispor, excepto vegetais podres. Os amigos de James e as «pessoas-bem do público» responderam com uma ovação em pé e um aplauso mais intenso. As duas metades do público tinham declarado guerra uma à outra. John Singer Sarget chegou a virar-se para a galeria e a mandá-los calar; parecia que o famoso artista de retratos ia dar inicio a uma tremenda briga. De acordo com o que James relatou posteriormente ao irmão William – «Todas as forças da civilização no teatro encetaram uma batalha pelo aplauso mais galante, prolongado e sustentado contra as vaias e assobios e apupos da raia-miuda, cujos berros (como os de uma jaula de bestas de um zoo infernal) foram ainda mais exacerbados pelo conflito.» E no meio deste pesadelo, um dos homens mais timidos e compenetrados em toda a literatura – em toda a Inglaterra – em todo o mundo – manteve-se ali enquanto «a barba escura acentuava a palidez do rosto e o domo alto da sua calvície» e tentava
recuperar a dignidade. Houve quem mais tarde se referisse à «frieza desdenhosa» de James enquanto se cobria de berros, mas um dos actores secundários nos bastidores descreveu James, quando saiu finalmente de palco, como estando «verde de desalento». Foi preciso que se passassem anos antes que James finalmente ultrapassasse esta noite e outros anos para ultrapassar o completo fracasso do seu sonho de se tornar um dramaturgo galardoado e de sucesso.
E
ncontravam-se dois novos críticos na audiência da peça: George Bernard Shaw, que mencionei anteriormente, que se tornara no crítico de teatro da Saturday Review, embora aquela fosse apenas a quinta noite com esse cargo, e um rapazola farripas «com pernas curtas, bigodaça comprida, e uma voz de rato», chamado Herbert George Wells, que acabara de ser contratado como critico teatral pela Pall Mall Gazette, apesar de ter assistido a peças apenas duas vezes em toda a sua vida. «É preciso usar fato de gala?», chegou a perguntar ao editor, e, recebendo uma resposta afirmativa, Wells fora a correr para um alfaiate para que lhe fizessem um fato formal nas vinte e quatro horas seguintes (G. B. Shaw, embora igualmente novo na actividade de crítico teatral, tinha a confiança suficiente para assistir à estreia usando um casaco de bombazina castanha amarrotado.) Shaw e Wells eram ambos jovens com ambições literárias e ambos socialistas, ateus, ambos de uma origem simples e ambos com grandes interesses nas manifestações e política relacionadas com a classe média, mas para além disto as comparações desvanesciam-se. Shaw, de postura cínica e pouco sentimentalista, tinha uma obsessão muito menor pelos Factos e Ciência que o gosto (e na verdade, crença) próprio de engenheiros ou cientistas sentido por Wells. Ambos escreveram críticas competentes e profissionais de Guy Domville, cada qual elogiando a qualidade da prosa de James, mas ambos entendiam que fora um desastre. Wells foi o melhor a descrevê-lo, ao explicar aos leitores que a peça estava
brilhantemente escrita mas era demasiado delicada para ser colocada em palco, «e se é culpa do actor ou do encenador, é uma questão muito interessante.» Tudo, dizia, indicava um «cancelamento antecipado». Nisso Wells estava certo. Em breve, Wells abandonaria a Pall Mall Gazette e o trabalho como crítico teatral – julgo que foi o único emprego assalariado que teve – e começou a carreira nas letras. E foi neste contexto que ele e Henry James voltaram a cruzar caminho. Em 1898, James transferira-se de Londres para o campo – para a sua Lamb House, pictoresca mas isolada, sobre o Rye –, como acontecera com outros autores, incluindo Stephen Crane, Ford Madox Hueffer (que em breve se tornaria Ford Maddox Ford), e H. G. Wells, no final da rua em Sandgate, na costa inglesa. James e Wells encontrar-se-iam em eventos sociais nos anos seguintes, e partilhavam um interesse comum a respeito do pobre Stephen Crane (autor americano da Red Badge of Courage e um dos melhores contos de sempre, «The Open Boat»), que vivia com a mulher Cora, sem estarem casados (tinham-se encontrado num prostíbulo da alta sociedade da Flórida, e Cora tinha sido a primeira mulher correspondente de guerra, escrevendo comunicados sob o nome de «Imogene Carter»), numa casa de campo alugada, de aparência estragada e cheia de correntes de ar – a Brede Place –, não muito afastada de onde James e Wells viviam. Cora Crane vivia para as suas pretenções de alta-sociedade, na casa gélida e delapidada, e Stephen Crane tentava seguir-lhe as fantasias, contudo os invernos terríveis, a casa fria e ventosa («árvores inteiras consumiam-se nas lareiras»), o lugar e o ritmo do sonho de Cora matavam aos poucos o escritor inválido. Quando Crane morreu, ainda jovem – abatido, na opinião calada de James e Wells, pelas pretensões e indiferença de Cora – o «Mestre» e o futuro «Pai da Ficção Científica» mantiveram um relacionamento cordial (mas nunca íntimo) durante anos, nos quais iam enviando cópias um ao outro dos livros que publicavam. revista BANG! [ 32 ]
Antes de o ter conhecido, Wells escrevera sobre ele uma crítica anónima, na qual se referia ao estilo de James como um «vidro fosco» e como tendo um «génio gélido», embora admitisse que os personagens de Henry James eram «homens e mulheres verdadeiros». O Mestre também se referiria de forma simpática a respeito da obra de Wells nos anos seguintes, mas era, na sua opinião pessoal, precisamente este último aspecto no qual Wells – sempre obcecado com as questões sociais e a Ideia subjacente ao conto – falhava: ou seja, não popular as suas ficções com homens e mulheres genuínos. Quando James levava outros escritores a sério (incluindo rapazes bonitos, os quais esperaria, obviamente, seduzir, nem que fosse no aspecto emocional), nunca era capaz de resistir a enviar-lhes críticas concisas, mas fortes, das respectivas obras. Sem ideias de sedução – Wells não era o tipo de jovem que ele apreciava – James enviara-lhe: «Reescrevo muitas das palavras que escreve – o que é o maior tributo que a minha impertinência sofrível poderá prestar a um autor.» (James confessara igual verdade a um jovem autor chamado Howard Overing Sturgis – não confundir com o jovem artista e «demóniozinho» inválido, Jonatham Sturges, por quem James nutria uma atracção subliminar emocional e no mínimo homoerótica – quando este afirmara que James era dos piores leitores das obras alheias que poderiam existir. Afinal, dizia Henry James, tratava-se, ele mesmo, de «um produtor e “técnico” experiente», e era incapaz de ler de uma outra forma que não a crítica, a construtiva e – o mais irritante para o autor destinatário das suas críticas – a «re-construtiva». Por outras palavras, James faria sempre observações em como o autor em questão poderia ter re-escrito ou melhorado o livro.) Wells exprimira gratidão perante a atenção do Mestre, então, mas manteve-se – como veremos a seguir – interiormente incomodado no que tocava à critica. Como Wells mais tarde diria do longo relacionamento dos dois homens, era uma «amizade sincera e conturbada» com «um homem sensível perdido num cérebro imensamente abundante». revista BANG! [ 33 ]
Henry James, como também veremos, estava menos ciente da parte «conturbada» do relacionamento até, uma vez mais, ter-se visto encurralado.
«Vivo, vivo intensamente, e sou alimentado pela vida, e o meu valor, qualquer que seja, encontra-se na minha íntima forma de expressão desse sentimento»
N
o ano de 1910, quando o irmão mais velho de Henry, William James, faleceu, o autor sentira-se profundamente tocado pelo tributo que H. G. Wells lhe prestara, no qual o autor dos primórdios da ficção cientifica e critico social falava assim do autor das Variedades da Experiência Religiosa e primeiro grande psicólogo americano: «Que este grande edificio da madura compreensão e clareza e lucidez tenha sido retirado do mundo deixa-me boquiaberto e irremediavelmente perturbado.» Completamente boquiaberto e irremediavelmente perturbado estava o próprio James perante o falecimento do seu irmão querido (mesmo sendo um autor internacionalmente famoso, Henry James continuava a procurar apoio em William e era habitual reverter-se ao papel de mano mais novo na sua presença), e chegou a comentar aos amigos que fora «uma eloquência realmente bela – e ele [Wells] não consegue ser belo amiúde.» James não tinha intenção em tornar este último comentário depreciativo. Frequentemente era capaz de exprimir interesse nas Grandes Ideias de Wells, tal como a da Máquina do Tempo, a qual não só elogiava junto dos amigos mas inclusive tentava imitar nos seus próprios contos. Pelo que foi uma completa surpresa para James que no dia 5 de Julho de 1915, quando passou pelo Reform Club e lhe foi entregue um embrulho que ali aguardava há algum tempo por falta de quem lho levasse, que ali se encontrasse uma bomba montada e accionada por H G Wells. A bomba assumia a forma de mais um livro enviado por Wells ao amigo
James, este ostentando o título Boon: The Mind of the Race, the Wild Asses of the Devil and The Last Trump. Pretendia ser uma «selecção final dos despojos literários de George Boon com uma Introdução Ambígua por H. G. Wells». Era óbvio que se pretendia com isto uma farsa literária. Henry James apreciava farsas literárias (quando bem feitas) e começou a ler com algum interesse. A farsa revelou-se um escárnio espirituoso feito por Wells a respeito de outros autores, a maioria deles mencionados explicitamente pelo nome, como o caso de Henry James situado precisamente no centro da ridicularização. James abriu imediatamente o lviro no «Capitulo Quarto», intitulado «A Respeito da Arte, da Literatura, e do Sr. Henry James.» Era uma paródia maldosa. Aqueles que não suportam a prosa de Henry James – ou que não foram ainda capazes de aprender a saborear as suas múltiplas camadas – apreciam a paródia ainda hoje. Ao atacar James, Wells repetia ataques anteriores efectuados em discursos e ensaios – muito semelhantes aos ataques à «ficção séria» que hoje ouvimos pela boca de alguns autores e leitores de FC – nos quais ele, Wells, rejeitava o tipo de prosa «orgânica» que James sempre representara e defendia o tipo de ficção impulsionado por ideias, e logo «utilitário», que ele, Wells, proporcionava. «Na prática, a selecção de James torna-se em mera omissão e nada mais. Omite tudo o que exija um tratamento disgressivo ou declarações colaterais. Por exemplo, omite opiniões. Em todos os seus romances não encontrarão pessoas com opiniões políticas definidas, nem pessoas com opiniões religiosas, ninguém com partidarismos nem vontades nem caprichos, ninguém com intenções impessoais sobre nada em concreto. Não há pobres dominados pelos imperativos dos sábados à noite nem das manhãs de segunda, não há personagens com sonhos – e não vivemos todos mais ou menos num estado de sonho acordado? E ninguém é sequer decentemente esquecido. São todas estas características de humanidade que o autor retira à história antes de a começar.» Os que nutrirem um conhecimento mínimo da obra de Henry James saberão que a acusação não
é verdadeira. James escreveu romances nos quais personagens das classes trabalhadoras se insurgem com ira política, inclusive ao ponto de se tornarem terroristas anárquicos. Mas é verdade que James – ao contrário de Wells – nunca deixara que as ideias e opiniões políticas, «tratamentos disgressivos», dominassem e assumissem o controlo das suas ficções. E em seguida surgia uma hábil (mas mal intencionada) paródia ao estilo de escrita de James e da sua escolha de assuntos literários, incluindo a seguinte passagem, a qual seria usada pelos inimigos de Henry James por todo os séculos XX e XXI... «O fulcro do romance está sempre presente... qual igreja acesa mas sem uma congregação que o distraia, todas as luzes e linhas focadas sobre o altar. E neste, colocado com muita reverência, intensamente presente, encontra-se um gatinho morto, uma casca de ovo, um pedaço de fio... Como o “Altar dos Mortos” de sua autoria, em que nada se atribui aos mortos... Pois se tudo não fossem velas o efeito desapareceria... Separa os infinitivos e enche-os com recheio proverbial. Força o coloquialismo em seu benefício. Os seus vastos parágrafos suam e esforçam-se; não suariam nem se acotovelariam nem se esforçariam mais se fosse o próprio Deus Nosso Senhor o sentido processional que tentam alcançar. E tudo para histórias sobre nada... Eis um leviatão à caça de calhaus. É um hipopótamo magnífico mas doloroso que tenciona, a qualquer custo, inclusive ao custo da sua própria dignidade, apanhar uma ervilha que escapou para um canto da casa. A maioria das coisas, insiste, estão para além dele, mas é capaz, com modéstia, e em todas as ocasiões, armado de uma teimosia artística, apanhar a ervilha.» James ficou estupefacto. Tudo aquilo provinha da pessoa que ele não só considerara como amiga ao longo de todos aqueles anos, como inclusive se esforçara por que fosse eleito para a Royal Society of Literature (Wells, declarando identificar-se com as gentes comuns, recusara a honra). Magoado, a sua natureza sensível e confiável em real agonia, James escreveu a Wells imediatamente e de forma simples: «Consegui compreender mais ou menos a revista BANG! [ 34 ]
sua apreciação relativamente a HJ, a qual considerei bastante curiosa e interessante, de certa forma – embora naturalmente não me tenha feito sentir grandemente apreciado. É obviamente difícil para um autor colocar-se na íntegra no lugar de alguém que o considera extremamente vazio e fútil, e o qual se sente obrigado a divulgar esse sentimento ao mundo – penso que o caso não se torna mais fácil quando o referido autor teve este em grande apreço ao longo dos anos; porque se estabeleceu o hábito de assumir um ponto de encontro comum entre eles como certo, e o desaparecimento deste é como o colapso de uma ponte, que tornava a comunicação possível.» James continua… «...o facto que um espírito tão brilhante como o seu me enquadre numa imagem tão imperdoável... faz-me querer corrigir-me a mim próprio, pois enquanto os meus nervos me sustentarem, perante tamanho par de olhos... tentarei que uma possível luz entre nos sentimentos de um crítico para o qual as deficiências são incomportáveis.» Mas James admitia que não era capaz de identificar-se com o ponto de vista do atacante e admitia que tinha de recorrer ao seu bom senso íntimo do que seriam as «partes boas» do seu trabalho. James concluia a carta afirmando que «o meu sentido poético e o meu apelo à experiência» se baseava na «minha medida da plenitude – da plenitude da vida e da projecção da vida, o que para si parece uma ausência de ambas.» O que havia de belo na forma ficcional, concluia James, era que abria «tantas janelas vastas e diferentes de atenção». A primeira resposta de H G Wells foi contida. Afirmou que Henry James escrevera «uma carta tão franca e simpática depois das minhas ofensas que me sinto imensamente embaraçado em responder-lhe» e confessava que sentia uma aversão natural «à dignidade, completitude, e perfeição.» (Ponderei muitas vezes nesta afirmação ao longo dos anos – a respeito de Wells e de outros amantes que sobrepõem a Ideia e Enredo e História em detrimento de uma ficção humanísta com escrita bastante cuidada, e manifestam um repúdio fortíssimo da dignidade, da completitude e da perfeição. A quesrevista BANG! [ 35 ]
tão não é se um autor é capaz de atingir a perfeição – embora Shakespeare tenha estado muito perto de o conseguir o número de vezes suficiente para nos dar em doidos, e ocasionalmente tenha surgido um James Joyce ou F. Scott Fitzgerald ou Jane Austen ou Emily Dickinson que chega suficientemente perto em um ou dois dos seus trabalhos para nos desesperar), mas esta «aversão natural» à dignidade, completitude, e no mínimo, a um objectivo de perfeição, expressa por Wells e que tantos autores actuais, dentro ou fora do género fantástico, defendem de forma tão expressiva é... perturbante.) Wells continuava numa auto-justificação: Havia, escreveu, «uma diferença efectiva e muito fundamental nas nossas atitudes inatas e desenvolvidas a respeito da vida e da literatura. Para si, a literatura é um fim em si mesma, como a pintura, para mim a literatura é um meio, tem um uso, como a arquitectura. O que sinto é que a sua perspectiva é demasiado dominante no mundo da crítica, e ataquei-a com tons de duro antagonismo.» Depois Wells referia-se à sua paródia com o personagem Boon como não passando de material «para o caixote do lixo» e que a escrevera como um escape contra a guerra que então se travava. Terminava dizendo... «Prefiro ser chamado de jornalista e não se artista, eis a essência da questão, e não encontrei outro antagonista possível do que a sua pessoa.» Wells asssinava a carta como sendo «um caro admirador [de James], embora rebelde e ressentido, e por inúmeras causas, com gratidão e afecto.» A resposta de James a estes comentários seria a última carta que endereçaria a H. G. Wells. James começava dizendo que não considerava que Wells tivesse justificado a sua má educação. Ninguém publica o conteúdo dos caixotes de lixo. Nem estava James ciente que a sua perspectiva da vida e da literatura tivesse tantos adeptos, como Wells sugerira. James afirmava a crença de que a literatura se mantinha viva por intermédio do praticante individual, não de um conjunto de regras. Era isto precisamente o que admirara em Wells no passado, dizia. «Vivo, vivo intensamente, e sou alimentado
pela vida, e o meu valor, qualquer que seja, encontra-se na minha íntima forma de expressão desse sentimento», concluia. «A arte produz vida, produz interesse, produz importância.» James terminava informando Wells, de que ele, Henry James, não conhecia nenhum substituto para «a força e beleza do processo». Rejeitava completamente a ideia que a literatura fosse um mero ofício, como a arquitectura. Ambos, dizia, eram – na sua forma mais pura – arte, não apenas como meio para servir as pessoas ou alimentar uma necessidade básica em troco de um pagamento. Porque cria nisto, sempre rejeitara e sempre rejeitaria a teoria «utilitária» da arte. Acabava assim a amizade e correspondência entre os dois homens. Ainda assim, anos depois do falecimento de Henry James, H. G. Wells continuaria a tentar justificar aquele ataque ao antigo amigo. Os seus escritos autobiográficos a respeito de James constituiam uma mistura de afecto, confusão e auto-justificação, embora todos eles demonstrassem que não compreendia nem a vida nem a obra de James. Wells mostrou, tenuemente, que estava ciente de que Henry James dedicara a vida profissional a reformular o mundo numa demanda por perfeição, labutando para atingir a perfeição e compreensão efectiva da motivação humana dentro de si mesmo, da sua consciência; para Wells, reformular o mundo passava por explicá-lo nas suas infindáveis histórias e romances sobre utopias sociais do futuro. Mas décadas passadas, a hostilidade perante Henry James permanecia, o desconsiderar da literatura como arte e não como uma técnica ou instrumento ou mecanismo para mudar as coisas: «Encarava-nos como Mestres ou aspirantes a Mestre, Mestres pequenos e Mestres grandes, e mostrava-se bastante triste por Cher Maître não ser uma expressão inglesa», escreveu Wells. «Não se podia estar numa sala consigo durante dez minutos que fosse sem perceber a importância que atrbuia a esta sua arte. Eu, por natureza e educação, antipatizava com esta disposição mental. Mas estava disposto a encarar o romance como forma de arte na mesma medida que o encararia como um mercado ou uma praça. Não tinha necessariamente de ir a parte algu-
ma. Era o leitor que o atravessava em diversas ocasiões.»
«O mais interessante de tudo isto é que não havia uma ponta de ironia sequer no enredo – nem uma palavra, nem uma vírgula, nem um espaço em branco.»
A
gradeço a sua paciência com as minhas divergências até este momento, Caro Leitor (perdão, estou habituado a usar a minha voz arcaica de Wilkie-Collins-enquanto-narrador-do-meu-novo-romance-Drood), mas neste ponto avançado do discurso vou pô-la à prova uma vez mais com uma última divergência. Há alguns anos, participei numa convenção de FC no Texas na qualidade de orador convidado, tendo aceite o convite principalmente porque o outro convidado era um Famoso (embora não muito mais velho do que eu nem pertencente à Idade De Ouro da FC) Autor de FC «Dura». Conhecia há muito a obra deste senhor, muito antes de ter começado a escrever com objectivos de publicação. Tinha-a apreciado. Tinha inclusive utilizado o romance de FC «Dura» mais famoso deste nas minhas aulas de leitura da turma avançada do 2º ciclo do Ensino Básico nos tempos em que fui professor, pagando pelos livros do meu próprio bolso. Para os que não estejam familiarizados com o termo «Ficção Científica Dura», representa a FC que, em teoria, não toma liberdades com a ciência e a especulação. Quer seja apresentada em formato romance ou conto, é supostamente baseada em ciência real, pesquisa real, mesmo em tecnologia real, ainda que de forma especulativa. Cresci a ler FC Dura, entre outros géneros, e apreciava-a imensamente – talvez pela mesma razão, actualmente, passados muitos anos, ainda compro um par de revistas de computadores e de carros, e assino a Scientific American. Quando os assuntos «humanos» se tornam demasiado emotivos e confusos, é um alívio poder mergulhar em temas técnicos sem quaisquer conteúdos emocionais. revista BANG! [ 36 ]
Contudo, notei, mesmo quando jovem leitor de FC Dura (incluindo os livros e contos deste Famoso Autor de FC Dura) que nada no universo se torna mais datado que os antigos contos deste género. A FC Dura dos anos 40 e 50 mencionavam computadores (nas poucas vezes em que eram mencionados) do tamanho do Texas com dezenas de milhares de tubos de vácuo brilhantes, toda uma confusão e dimensão arrefecidas pelo caudal de rios redireccionados. E uma história que se baseie na íntegra – por exemplo – na teoria de mini-buracos negros em voga em princípios dos anos 70 deixa de ser viável uma década ou duas mais tarde, após aqueles mesmos físicos terem chegado à conclusão que os mini-buracos negros são afinal demasiado instáveis para poderem fazer parte do enredo. Além de que este mesmo «Famoso Autor de FC Dura» recorrera a viagens a velocidades supraluminosas e teleportação como engenhos narrativos nas suas obras «duras». Ambas as tecnologias são, para mim, fantasia em igual nível que um manto élfico ou uma espada mágica, por muita capacidade que tenhamos de encontrar alguma explicação pseudo-científica para a sua existência. E contudo, a FC Dura é divertida e alguns dos seus clássicos – tais como a Mission of Gravity de Hal Clement – serão divertidos para sempre. Ainda assim, e embora não me comportasse como um fã babado na presença deste Famoso Autor de FC Dura quando nos encontrámos na convenção, disse-lhe o quão agradado estava de conhecê-lo e o quanto apreciara os seus livros. Inclusive mencionei que ensinara o seu romance mais conhecido a jovens dotados (embora não tivesse explicado que a principal razão devia-se ao facto de não que incluia sexo nem assuntos de temática adulta aos alunos de 11 e 12 anos que o iam ler). O Famoso Autor de FC Dura limitou-se a grunhir. Uma vez que sempre me senti embaraçado nas raras ocasiões em que um autor profissional elogia o meu trabalho em pessoa, não fiz caso desse grunhido. Até ao momento de estarmos finalmente «a sós» na primeira tarde da convenção («a sós» define-se como estando na companhia de uns 10 a 20 revista BANG! [ 37 ]
fãs). Nesse momento, o Famoso Autor de FC Dura disse-me que alguns dos seus amigos tinham insistido para que lesse o meu romance Hyperion e que ele, finalmente, com relutância, lá acedeu. –Sim? – soltei, espirituosamente. –Pois foi – continuava o Famoso Autor de FC Dura – e não entendo o que alguém terá visto naquilo. Parece-me ser o livro mais estúpido que já li – E em seguida, começou a enumerar as idiotices, elementos ilógicos e falhas científicas do livro. O que pode uma pessoa dizer, excepto que lamenta que não tenham gostado da obra dela? Não tenho mais vontade de ouvir críticas negativas a respeito da minha escrita que qualquer outro autor – e certamente que não ataques expressos em hiperboles tais como as que tive de escutar naquela noite no Texas – mas é certo que o ataque não me magoou os sentimentos nem me perturbou de nenhuma forma. Era demasiado excessivo. Cheguei a perguntar-me se o Famoso Autor de FC Dura não estaria bêbado (não por causa da forma como critivava o meu trabalho, mas porque o rodeara uma estranha perturbação e uma irritação desfocada durante o fim de semana inteiro, como se os átomos dele tivessem sido ligeiramente deslocados para uma outra dimensão; onde quer que estivessem, sentia-se verdadeiramente lixado com o assunto.) Corte: para um par de meses atrás, quando estive temporariamente de cama com sintomas gripais. Há meses que andava a ler romances e autores «sérios», uns atrás dos outros, e já me sentia cansado disso. Precisava de algo ligeiro, divertido... algo dinamizado por Ideias e não pelo estupido coração humano em conflito consigo mesmo. Pelo que dirigi-me às estantes na cave onde mantenho uma colecção de livros de bolso antigos (e muito estimados) desde os anos 50 e escolhi, para ler enquanto estava enfermo, um romance de sucesso (?) denso (640 páginas em letra miudinha) publicado em finais dos anos 70 pela pena deste preciso Famoso Autor de FC Dura. Ler esse livro era uma estranha experiência... não devido aos sentimentos doridos do distante ataque contra mim e contra o meu romance (isso aconteceu fora de contexto – é horrivel para um roman-
cista admiti-lo, mas tento esquecer-me de quem é o autor ao entrar numa obra), mas somente porque já tinha passado tanto tempo desde que o lera. Obviamente que os meus gostos haviam mudado, desde os tempos, trinta anos antes, em que dispendera 2,50 dólares pelo livro (naqueles dias não tinha dinheiro para livros de capa dura... quem tinha?), no entanto também haviam mudado –como vim a descobrir – as minhas expectativas a respeito do nível de qualidade mínimo de um romance de ficção. O livro aborda um evento astronómico capaz de Extinguir a Civilização Tal Como a Conhecemos, um tópico que sempre apreciei e que sempre apreciarei (embora na verdade já tenha idade suficiente para ter presenciado o fim da civilização tal como antigamente a conhecíamos), e a perspectiva do romance saltava alegremente (o apanágio dos bestsellers) de ponto de vista para ponto de vista de cada um dos cinquenta personagens. Mas o problema não estava aí. Percebi que estava a ser alvo de uma dose imensa da filosofia literária de H. G. Wells ao ler este aspirante-a-grande-bestseller de FC Dura para as massas. O objecto era um mero instrumento para lançar as Ideias e Opiniões do autor às pazadas – a respeito da importância absoluta da Ciência, dos ecologistas idiotas que pensavam que «latas de aerossois estavam a estragar a atmosfera», a respeito de todos os que se oposessem, digamos, a reactores nucleares – mas a parte perturbante do romance era que estava desprovido de quaisquer seres humanos que valesse a pena escutar ou prestar atenção durante as pontificações que os personagens faziam entre si (usando a voz do autor). Uma onda de maré dirigia-se para Los Angeles. Os bons da fita (que eram todos brancos) refugiavam-se nas montanhas onde estabeleciam uma colónia pós-apocalíptica para bons da fita no rancho do chefe, um senador americano que era uma mistura do actor John Forsyth com Dwight Eisenhower. Entretanto, os negros sub-urbanos iniciavam, obviamente, uma leva de violações, seguida de saque das casas evacuadas e depois, passados dias (e quem sabe, horas) tornavam-se canibais. O que era de si perturbante, mesmo pelos padrões de 1970, embora
mais perturbante ainda fosse o diálogo e pensamentos atribuidos aos personagens negros canibais. Era como se o autor nunca tivesse escutado a fala genuína de um afro-americano, mas estivesse contente em imitar uma paródia do diálogo e maneirismos de um dos filmes de «exploração negra» em voga nos cinemas nessa época. O climax do romance era uma batalha pela posse do reactor nuclear, que constituía a Única Esperança de uma Civilização Futura. Os bonzinhos no rancho do Senador John Forsyth Eisenhower queriam salvar o reactor e pô-lo a funcionar. Os canibais negros, entretanto, tinham-se juntado a milhares de fundamentalistas religiosos, formando uma multidão orientada para destruir o reactor (e com ele todos os vestigios da Ciência) e devorar os bonzinhos. (A razão pela qual os canibais negros e os fanáticos religiosos brancos, que meras semanas antes tinham sido pessoas como as outras, não queriam voltar a ter electricidade não chegou a ser explicado.) A batalha decisiva mostrava o Santo do enclave dos bonzinhos – um cientista idoso que morria com diabetes – a salvar a situação, recorrendo (e não estou a brincar) a lotes gigantescos de gás mostarda e outros gases mortíferos (incluindo, imagino, Zyklon-B). O final alegre do romance mostrava os bonzinhos pró-ciência a matar milhares destes canibais e repudiadores da ciência, lançando bombas de gás dos nervos sobre eles. Alguns dos canibais sobreviveram. Os tecno-brancos bonzinhos debateram-se com um ataque de consciência que durou meia página e – inevitavelmente – pelo Bem do Futuro, tornaram os sobreviventes negros dos ataques com gás dos nervos em seus escravos. O mais interessante de tudo isto é que não havia uma ponta de ironia sequer no enredo – nem uma palavra, nem uma vírgula, nem um espaço em branco.
E
ntendam por favor que esta disgressão não tinha por intenção comparar o desacavo à minha pessoa pelo Famoso Autor de FC Dura com o ataque de H. G. Wells a Henry James. Não pretendo equiparar-me a Henry James nem o Famoso Autor de FC revista BANG! [ 38 ]
Dura será, nos seus melhores dias, H. G. Wells. (Se eu fosse uma pessoa um pouco menos honrada, teria dito que ele nunca será, nos seus melhores dias, uma borbulha no grande e alvo traseiro de H. G. Wells) Não, se refiro esta história e a leitura feita sobre o livro é porque algo aconteceu cerca de duas semanas após a redescoberta desse romance no período em que estive doente. Certa tarde descobri que o filme Things to Come passaria no canal TCM Sabia da existência do filme Things to Come, feito em 1936 – baseado no livro de H. G..Wells, The Shape of Things to Come – desde que era puto. Conheço o enredo, há muito que vejo imagens retiradas do filme, mas por alguma razão nunca o tinha chegado a ver numa qualquer sessão televisiva dos meus 6298 canais de satélite durante todos estes anos. Por isso, sentei-me e vi-o. Era... interessante. E quase precisamente na mesma medida pela qual o romance de 1970 do Famoso Autor de FC Dura o fora. Transmitiu-me a mesma sensação de incómodo – quase náusea activa – que me tinha dado esse livro. Wells escrevera o guião do Things to Come em 1936 e – de acordo com o que li há muito tempo – teve algo a dizer a respeito de todos os elementos do filme, incluindo as vestes patéticas que se usaria naquele futuro utópico de 2035. Eis um resumo do enredo retirado do Internet Movie Database: «Uma guerra global tem início em 1940. Esta guerra arrasta-se durante décadas até que a maioria da população viva (quase toda nascida depois do inicio da guerra) já não se lembra de quem começou nem porquê. Já não se produz nada e a sociedade desfez-se em comunidades localizadas primitivas. Em 1966, uma grande peste chacina a maioria dos sobreviventes de guerra, das quais apenas se salva um pequeno número de pessoas. Certo dia, um aparelho voador estranho aterra numa dessas comunidades e o piloto informa o povo de que uma organização encontra-se a reconstruir a civilização e a deslocar-se lentamente pelo mundo, juntando as diversas comunidades. Durante as décadas seguintes decorre um período de extensa reconstrução, até que a sociedade revista BANG! [ 39 ]
volta a ser magnífica e forte. A população mundial habita agora em cidades subterrâneas. No ano 2035, na véspera do primeiro voo tripulado para a lua, um levantamento popular contra o progresso (o qual era considerado por alguns como a razão das guerras do passado) conquista apoiantes e torna-se violento.» Soa a H. G. Wells e soa a promessa de um filme divertido, mas não transmite nada da... inumanidade... de Things to Come. Raymond Massey é o actor principal, representando dois papéis: John Cabal, líder dos Aviadores «Asas Sobre o Mundo» de fatiotas negras, os quais conquistam as ultimas tribos de bárbaros numa Inglaterra belicosa pós-apocaliptica dos anos 70, e o neto deste, Oswald Cabal, que usa protecções de ombro enormes, como um cartaz de publicidade, e uma gira saia branca, como qualquer outro cidadão do ano 2035 (excepto aqueles que usam togas brancas). Não existem pessoas em Things to Come. Não existem seres humanos. Excepto, cá está, um Ralph Richardson jovem (digamos, mais jovem) que interpreta o «chefe», um líder bárbaro que enverga peles e parece o Mussolini, e que se intromete entre os Aviadores Asas Sobre o Mundo e uma Sociedade Global. Richardson e a princesa bárbara Roxana, que também é a sua principal concumbina, são as unicas duas pessoas naquele filme completamente tendencioso, bizarro, trapalhão, estéril e ridículo que podemos sequer imaginar a suar ou praguejar ou ter sexo, ou sentir sequer uma emoção diferente da dedicação fanática à Ciência e ao Progresso. No minuto em que Raymand Massey pousa a sua avioneta futuristica nos despojos citadinos arruinados da Madmaxian do Chefe, o «Chefe» Richardson prontamente faz do sorridente Massey prisioneiro, e embora tudo tenha sido escrito de forma a tornar Massey num herói adorador da Ciência (certamente um santo, possivelmente um deus), a sua presença sempre sorridente, condescendente e com afirmações de olhar vago a respeito do Avanço da Ciência – «As vidas de nós, pequenos humanos, como individuos, nada representam para o Longo Curso da Ciência e Progresso, etc.» – deu-me vontade de disparar contra o filho-da-mãe arrogante e acabar ali a história.
No entanto, os amigalhaços de Massy – um bando de Aviadores clonados e de camisas negras – soltam «Gás Pacificador» sobre o Chefe e a tribo bárbara, adormecendo-os, e dessa forma acabando com a última ameaça à Única Regra da Ciência e da Lógica. (Todos os bárbaros pousam as armas ao acordar – porquê, não faço ideia – excepto Richardson, o Chefe, que não chega a acordar. O Gás Pacificador acabou com ele. Se calhar não era capaz de aguentar o progresso...) Corte-se então de 1970 para o Futuro Perfeito de 2035 no qual – apesar do facto de a superfície da terra ser verde e vazia e estar coberta por céus azuis perfumados – toda a gente habita em Cidades Subterrâneas de branco-marfim (Wells e toda a sua era de autores emergentes de FC estavam obcecados com Coisas Subterrêneas) Eis o grande valor para fãs de FC e espectadores de 1936 ou 2008 – as enormes escavadoras e aqueles saiotes brancos curtos e togas nos homens e mulheres e a Cidade Interior com os elevadores de vidro ascendentes e descendentes que ligavam centenas de níveis de terraços brancos todos aprumados, com grandes ecrãs em todo o lado. Eis o futuro e é a porra de um Hotel Hyatt. As massas sublevam-se e revoltam-se – temos novamente os religiosos canibais a tentar subverter o Progresso e porem-se no caminho da Ciência – e o objectivo desta vez é destruir o Canhão Espacial, uma... ah... arma espacial com 240 andares de altura destinada a atirar a bonita filha de mini-saia branca de Oswald Cabal e o palerma do marido dela em direcção à lua. Cabal, na litania irritante e condescendente de Massey, admite que o jovem casal apenas tem uma hipotese em cem de regressar vivo, mas, pronto... «As vidas de nós, minusculos humanos, enquanto individuos, não valem nada face ao Longo Curso da Ciência e do Progresso, etc.» A história é inumana e fascista. Raymond Massey é inumano e fascista. O diálogo é inumano e fascista. O futuro a respeito do qual H G Wells e o guião se mostram tão orgásmicos é inumano e fascista. Bolas, até o guarda-roupa é inumano e fascista... no mínimo extremamente ridículo (Embora eu tenha gostado do grande canhão espacial)
Não havia forma de contornar o facto de que esta parvoíce de filme que esperei a maior parte da vida para ver e apreciar «foi elaborado para encarar um romance (ou neste caso, filme) com tanta arte quanto um mercado ou uma praça». Era um sistema de disseminação da Opinião e Política e da versão de H G Wells da Correcta Forma de Pensar (ou seja, a adoração da Ciência e das Grandes Ideias) Mas acima de tudo... o mais triste de toda a situação... este romance e o romance de Apocalipse Astronómico que lera semanas antes, eram subprodutos de uma forma de pensamento ideias-e-engenharia-über-alles que, a um nível profundo artistico ou humano, tinha uma aversão natural à dignidade, completitude, honestidade, e perfeição.
«Os momentos mais orgulhosos da minha vida,» escreveu, «foram passados na popa do barco ante mar aberto, envergando esta romântica vestimenta sobre os ombros.»
E
m idos de 1880s e inícios de 1890s, a natureza irrequieta de Robert Louis Stevenson fazia-o avançar continuamente, sempre para oeste, sempre em busca de um lugar que lhe permitisse sobreviver um pouco mais com a doença que o afligia, ao mesmo tempo que lhe satisfazia o desejo por lugares exóticos. Em 1887, quando o pai faleceu, abandonaria a Inglaterra, tendo o Colorado como destino, mas acabou por passar o Inverno numa cabana no Lago Saranac, perto das montanhas Adirondacks, onde escreveria alguns dos seus melhores ensaios e começaria The Master of Ballantrae. Durante os meses de neve nas Adirondacks, ele e a mulher faziam planos para um cruzeiro pelo Pacífico Sul. «Os momentos mais orgulhosos da minha vida,» escreveu, «foram passados na popa do barco ante mar aberto, envergando esta romântica vestimenta sobre os ombros.» Stevenson e família encetaram vela no iate Casco em Junho de 1888, partindo de São Francisrevista BANG! [ 40 ]
co. Depois de algumas aventuras e estabelecimento de amizades no Hawaii, nas ilhas Gilbert, e no Taiti, Stevenson finalmente adquiriu 400 acres de terreno na ilha de Upolu, uma das ilhas de Samoa. Henry James manteve-se em contacto epistolar com Stevenson durante todos estes anos, enviando ao amigo livros e críticas e pedindo em troca detalhes dos mares do sul. Em 1890, um conhecido de James, John Adams, historiador americano e descendente de presidentes, iniciou uma viagem ao redor do mundo que duraria vários anos. A esposa brilhante mas melancólica, de nome Clover, cometera suicídio algum tempo antes, pelo que Adams – juntamente com o amigo artista John LaFarge (também velho conhecido de Henry James) – decidiu afogar a mágoa nas vistas, sons, odores e (possivelmente) «mulheres de tez morena» dos mares do sul. Pouco depois de alcançar Samoa, Adams e La Farge prestaram uma visita a Stevenson em «Vialima», o terreno de 400 acres, situado a uma hora de distância da cidade de Apia e 800 pés acima do nível do mar, onde o autor e família tinham começado a construir a nova casa. Quer o historiador quer o artista subiram durante uma hora em direcção a céus cada vez mais próximos (o estimado amigo de James, John Hay, ex-secretário de Abraham Lincoln, apresentou-lhe tais descrições nas cartas que lhe enviava) antes de atingirem uma clareira de tocos queimados. No centro deste feio espaço aberto, havia uma «moradia de dois pisos com escadas exteriores que davam para o piso superior e um tecto de ferro galvanizado». Dela saiu uma figura «tão magra e esquelética que parecia um monte de paus enfiados num saco e com uma cabeça no cimo; e contudo morbidamente inteligente e irrequieta.» Tratava-se obviamente de Robert Louis Stevenson apresentando-se perante John Adams, o escritor vestido com «pijamas de riscas, sujo, as calças soltas enfiadas em meias de lã mal tricotadas». A Sra. Stevens encontrava-se tão mal e parcamente vestida, relatou Adams, que fugiu para dentro da moradia quando viu os homens a aproximarem-se. revista BANG! [ 41 ]
No decurso das semanas seguintes, Adams encontrou-se várias vezes com Stevenson – Stevenson atravessava a selva a cavalo, cruzando um rio de corrente forte – e Adams e La Farge começaram a compreender que tinham surgido em tempos difíceis para a família de Stevenson. A familia, com a ajuda dos nativos de Samoa – que chamavam a Stevenson o «Tusitala» («contador de histórias» em samoano) – encontrava-se a limpar a propriedade e a fazer os preparativos para construir uma mansão extensa e confortável. A moradia em que Adams e La Farge os tinham encontrado a viver era só uma casa temporária até construirem a maior. Henry James adorava ouvir notícias de Stevenson e Henry Adams via John Hay e – como normalmente fazia quando os amigos escreviam sobre pessoas e lugares interessantes – pediu mais detalhes, mais imagens! Há uma grande ternura nas cartas de Henry James ao R.L.S. ausente. Disse a Stevenson que os amigos o elogiavam imenso na sua ausência, mas James chamava-o de «Bucaneiro pomposo das Profundezas» e «indomável errante do Pacífico». Uma vez, quando Stevenson se enganou por dois anos na data da carta (algo que o próprio James faria perto do fim da sua vida), James brincou com o amigo, chamando-o de «caro habitante de uma ilha perdida no tempo». Saudou a familia do distante autor como «os seus companheiros de folguedos – os seus fantasmas companheiros. A esposa fantasma entende o meu sentimento. O espirito fátuo de uma mãe tem a minha maior consideração». James escreveu que lamentava que Stevenson se tivesse distanciado tanto que se tivesse tornado numa lenda, embora uma lenda de «iridiscência oparina». No dia 3 de Dezembro de 1894, Stevenson escrevia com tanta intensidade como sempre – desta feita a Weir of Hermiston. Nessa tarde, enquanto falava com a mulher e se esforçava por abrir uma garrafa de vinho, caiu subitamente no chão e berrou, «O que se passa comigo? Que estranheza é esta? O meu rosto está diferente?» Stevenson morreu passadas horas. Tinha 44 anos. A notícia da morte de Stevenson chegou a James, em Londres, no dia 17 de Dezembro de 1894.
James encontrava-se nos ensaios de Guy Domville, a poucas semanas da terrível noite de estreia que se avizinhava. Quando lhe contaram o rumor – ninguém lhe soube dar certezas – abandonou os ensaios e dirigiu-se a casa. Nessa noite escreveu – «Esta extinção abominável do estimado Robert Louis Stevenson... torna-me frio e doente – e com a sensação absoluta, quase assustada, do apagar material e invisível de uma luz indispensável.» Pouco depois de a morte ser confirmada, chegou a notícia de que Stevenson teria nomeado Henry James para ser o seu executor literário. Tendo sido recentemente executor da propriedade e obra da falecida irmã Alice, James acabou por negar o dever, embora seja extremamente reveladora a confiança que Robert Louis Stevenson depositava em Henry James ao deixar nas mãos do amigo os seus manuscritos, bem como a sua hipótese de imortalidade literária. Eventualmente James viria a saber os detalhes do funeral do amigo. No dia que Stevenson morreu, os nativos de Samoa insistiram em rodear o corpo com tochas e uma vigias toda a noite. No dia seguinte, levaram em ombros o corpo de Tusitala, o Contador de Histórias deles, até ao Monte Vaea e enterraram-no num ponto elevado com vista para o mar. O epitáfio colocado na campa de Stevenson era um excerto do seu poema «Requiem»1: Sob o imenso céu estrelado eu peço Abram a vala na qual me despeço, Alegre vivi e alegre desfaleço, E deixem-me um lema por companheiro. Que seja esta a lembrança hasteada: Eis que jaz na morada há muito ansiada; O marinheiro a casa vindo de longa jornada, O caçador por fim de volta ao lar primeiro.
E
sta foi a escolha de Robert Louis Stevenson para o seu próprio epitáfio, embora houvesse um ou-
1 - É da crença deste tradutor que um poema não se traduz, trai-se; como consolo, aqui o apresento na forma original: «Under the wide and starry sky, / Dig the grave and let me lie. / Glad did I live and gladly die, / And laid me down with a will. / This be the verse you grave for me: / Here he lies where he longed to be; / Home is the sailor, home from the sea, / And the hunter home from the hill.»
tro verso simples, escrito quando tinha apenas 25 anos, que poderia ter servido como epitáfio literário aplicável a si e ao amigo Henry James. O pai de Stevenson nunca encarara a «mera literatura» como trabalho sério, e insistira em que o filho se doutorasse em direito, embora a provação que enfrentou para obter o diploma quase tivesse acabado com o jovem enfermo. A falta de compreensão do pai de Stevenson – talvez não tão diferente da recusa de H. G. Wells em compreender como podia Henry James considerar a mera literatura uma arte tão importante em si mesma – fizeram o rapaz de 25 anos escrever este poema em protesto2: Não me recordem como alguém que declinou Os labores dos seus, e recusou o mar As torres que fundámos e as lâmpadas que acendemos A brincar em casa com papeis como criança.
Dan Simmons nasceu em 1948 em Peoria, Illinois. É conhecido fundamentalmente pelo seu romance Hyperion, que lhe valeu um prestigiado prémio Hugo. Os outros livros da conceituada série são The Fall of Hyperion, Endymion e The Rise of Endymion. Mas Simmons não escreve apenas FC. O seu talento versátil permite-lhe explorar outros géneros, como a fantasia, o horror, o thriller e até o policial. Um exemplo típico da sua capacidade de misturar géneros é o clássico A Canção de Kali, publicado pela Saída de Emergência. BANG!
2 - «Say not of me that I weakly declined / The labours of my sires, and fled the sea / The towers we founded and the lamps we lit, / To play at home with paper like a child.» revista BANG! [ 42 ]
[ensaio]
Literatura Erudita VS Literatura Popular Uma tertúlia sobre géneros literários com David Soares, João Seixas e António de Macedo A literatura popular é a literatura pimba. Escrita por gente sem talento, para gente sem tempo ou paciência para ler livros a sério. É a fast-food da literatura. Com capas berrantes, personagens de papel e enredos de telenovela. É fundamentalmente lida por rebanhos no comboio. A literatura erudita é uma treta intimista onde se disfarça a ausência de uma boa história com um estilo bonito e frases citáveis. É lida por intelectualóides frustrados que gostavam de ser poetas mas são apenas freelancers mal pagos. Ou será que não é nada disto? Vamos ver... David Soares: Para começar, penso que seria importante decidir uma nominação para os dois campos literários concorrentes que vamos analisar. A língua inglesa tem expressões engraçadíssimas para eles como highbrow ou high literature (“literatura pedrada”), mas como dizer em português a mesma coisa? É que dizer minor literature não tem o mesmo peso que dizer literatura menor… Bom, antes de decidirmos qualquer coisa a respeito destes nomes é preciso esclarecer os leitores sobre aquilo que estamos a falar: a high literature é toda a literatura que valoriza o modo como se conta uma história e não a história que se decide contar; essa preocupação pertence a minor literature e nela entram todos os géneros considerados menores pela “academia” como o romance policial, revista BANG! [ 43 ]
a ficção científica, o horror ou a fantasia. O primeiro campo conforma-se num modo que prima pela expressão de ideias em detrimento do desenvolvimento e caracterização de personagens num enredo que se espera conclusivo. Talvez uma boa forma de visualizar esta questão seja dar um passo para o lado até outra área artística e observar que definições se podem encontrar aí. Vamos especular sobre a música, por exemplo. É fácil perceber que existem duas distinções claríssimas: a música erudita e a música popular. No espectro compreendido pela música popular achamos aquilo que se pode chamar de música de género, resgatando a terminologia do parágrafo anterior, na qual se incluem — virtualmente — todos os tipos de música que não tenha sido compostos entre
os séculos XVII e XIX: o rock, o jazz, a pop, o metal, o pimba… Talvez a nomenclatura que melhor nos sirva para iniciar o nosso esgrimir de neurónios que promete deixar os leitores da BANG! de boca aberta e nós esgotadíssimos, mas de ego inchado, seja roubar à música a colagem que a língua portuguesa não permite quando chegamos perto das determinações literárias de expressão inglesa. Por conseguinte, proponho-vos que usemos Literatura Erudita e Literatura Popular. Penso que são designações que farão todo o sentido no contexto deste artigo como se irá ler mais à frente.
«Nove em cada dez obras eruditas possuem um elevado grau de aproximação à representação do mundo construída pelo nosso cérebro com a ajuda dos falíveis cinco sentidos.» Usando a nómina que este artigo inaugura, acredito que o conceito de Literatura Erudita, por oposição à Literatura Popular, nasce com o romance moderno de expressão pessoal; logo vitrina da vida interior da personagem principal. Isso acontece em 1678 com a publicação do livro La Princesse de Clèves da condessa Madame de La Fayette; título que segue o caminho deixado em aberto por outros escritores franceses como La Rochefoucauld (1613-1680) que evidenciava nas suas máximas um aperfeiçoamento dos modelos mentais dos protagonistas colocando os vícios deles acima das virtudes. Desde o surgimento do teatro grego, no século VI a. C., que o grande género literário (porque as peças eram escritas) sempre foi a Tragédia, área na qual se assiste à luta do indivíduo ou de um grupo de indivíduos contra o destino. Um pouco mais tarde, iria florescer a Comédia, principalmente com as obras de Aristófanes (V a IV a. C.) que escreveu peças satíricas como As Rãs ou A Assembleia das Mulheres. Esta dicotomia em que figuram a Tragédia (o género erudito) e a Comédia (o género popular) influenciou a composição da Poesia e da produção literária até
ao século XVI. Naquilo que hoje se compreende por Idade Média surgiram proto-romances em verso como Le Roman de la Rose (século XIII) e os escribas conventuais mudaram o formato do registo das narrativas deles: abandonaram o pergaminho enrolado (volume) e passaram a escrever em livros de feitios que se mantém até hoje (códice). Isso foi vital para o desenvolvimento da Prosa porque o códice, ao contrário do volume, permite aos autores escreverem mais desafogadamente, já que o método de reunir as páginas numa encadernação, mais ou menos duradoura (consoante o material), é generoso. Não só a Tragédia e a Comédia apresentavam cenários e personagens fabulosas como a literatura religiosa compunha-se de diversos elementos fantásticos. Por exemplo, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis (século XIII) influenciou muitíssimo a literatura italiana que esteve na génese das obras mais conhecidas do Renascimento, como as de Dante, Petrarca e Boccaccio — que, por mérito próprio, são obras de literatura fantástica, sublinhe-se. Para ser sincero, não encontro na literatura clássica nenhum desdém pela fantasia ou pelos elementos fantásticos, mas sim um preconceito contra aquilo que, já na altura, se designava por cultura popular. Essa cultura (muitas vezes até contra-cultura como a trovadoresca e a provençal) cifrava-se pela inclusão do humor grotesco, da sátira, e não salientava o carácter transcendental atribuído pela Tragédia (com excepção das aventuras de Quixote não me recordo de outra grande obra literária de comédia a ser olhada com respeito). A partir do século XVII já é possível encontrar algum preconceito pelos elementos fantásticos, principalmente porque passaram a ser considerados mecanismos de fuga a uma realidade social em aceleração. É preciso não nos esquecermos que a literatura, como todas as outras artes, acompanha o desenvolvimento das sociedades (e muitas vezes o antecipa). Paradigmas racionalistas, o desenvolvimento da ciência e de sistemas políticos inéditos criaram um clima hostil a uma linguagem alegórica que não soube adaptar-se com agilidade aos novos tempos e ficou cunhada como sendo resquício de uma antiga forma de olhar o mundo. Escrever sobre revista BANG! [ 44 ]
mundos impossíveis ou fantásticos nos séculos XVII ou XVIII não era considerado sério. Haverá excepções, claro, mas escritas por quem? Por indivíduos pertencentes às elites. Vamos lá a ver: até ao século XX quem é que tinha bagagem cultural ou tempo livre para se poder dedicar à escrita? A noção que temos daquilo em que consiste um autor ou um género literário é demasiado recente: acaba por ser fruto das contingências do mercado livreiro no qual é necessário criar, logo à superfície, uma identificação imediata daquilo que se pretende comercializar com o público ao qual o objecto se dirige. Talvez valha a pena transcrever este excerto do livro Theory of Literature de René Wellek e Austin Warren (página 235 do capítulo 17 “Literary Genres”): Men’s pleasure in a literary work is compounded of the sense of novelty and the sense of recognition. In music, the sonata form and the fugue are obvious instances of patterns to be recognized; in the murder mystery, there is the gradual closing in or tightening of the plot — the gradual convergence (as in Oedipus) of the lines of evidence. The totally familiar and repetitive pattern is boring; the totally novel form will be unintelligible — is indeed unthinkable. The genre represents, so to speak, a sum of aesthetic devices at hand, available to the writer and already intelligible to the reader. The good writer partly conforms to the genre as it exists, partly streches it. Isto conduz-me à ideia que sempre defendi que o género é atribuído pelo tom dominante da obra: um livro pode apresentar um cruzamento de vários géneros, mas o tom dominante é o cromossoma que o transforma num drama, numa comédia, numa aventura ou num diálogo de pura expressão pessoal. O tom dominante pode ser algo abstracto, mas acredito que se trata de uma característica que os leitores são muito hábeis a detectar. Contudo, pedir à maioria dos leitores para imaginar coisas que não se encontram todos os dias revista BANG! [ 45 ]
pode ser um exercício extenuante, ou mesmo impossível, para quem tem pouca imaginação ou pouquíssima disponibilidade para imaginar. É muito mais fácil visualizar um casal a correr na praia que um aparelho espacial a tentar fugir de um evento horizonte; é mais fácil, e seguro, imaginar um sujeito que relata memórias empíricas a la Paul Auster que imaginar um pedaço gelatinoso de muco nasal assoado por Lovecraft que, em última análise, está vivo, tem mau feitio e quer-nos arrancar a cabeça. Aqui estamos próximos da noção partilhada pela maioria do público que a Arte é apenas um espelho — quanto muito um comentário… — à vida: mas nunca um upgrade da vida. É a velha história da “demasiada fantasia”: “Gostaste do filme?”, “Ah, não… Tinha muita fantasia.” Este é o grande problemas das obras de ficção: são sempre ficcionadas, bolas!… O que varia é o grau de aproximação à convenção (aceite pela maioria) sobre aquilo que deve ser o realismo. Este tema é importante porque está sempre associado à ideia de erudito. Nove em cada dez obras eruditas possuem um elevado grau de aproximação à representação do mundo construída pelo nosso cérebro com a ajuda dos falíveis cinco sentidos. Tudo aquilo que se afasta do “real” já não é erudito. Porquê? Tenho umas ideias sobre isto que quero partilhar convosco, mas esta minha primeira alfinetada já passou a derme e agora é a vossa vez. Sobre géneros e sobre tudo. Até já. João Seixas: Creio que o David localizou muito bem o cerne do conflito ao centrá-lo no qualificativo popular aplicado aos géneros literários que se afastam — em termos de métodos narrativos e convenções literárias — do romance mimético. Creio, porém, que para melhor compreendermos esta dicotomia, e avançarmos algumas hipóteses que melhor a permitam contextualizar, será necessário fazer algumas precisões. Assim, e desde logo, nunca é demais salientar que a oposição da Literatura Erudita é mais ou menos homogénea em relação aos géneros em geral, independentemente do maior ou menor grau de elementos fantásticos que contenham: géneros como o wes-
tern ou o policial, ou mesmo o romance histórico, também foram olhados com igual desdém, embora, como é bom de ver, tal desdém seja mais igual quanto maior o grau de afastamento da representação realista do mundo (o western, o romance histórico e o policial, apesar de tudo, ainda mantêm laços de proximidade com a realidade histórica ou contemporânea, ainda que idealizada). A questão que importa explorar, porém, é o porquê desse desprezo; é o porquê de existirem situações como aquela narrada por Philip Klass no seu ensaio “Jazz then, Musicology now” (F&SF, 1972), onde ele nos conta como, estando em companhia de um amigo, formando em Letras, e tendo encontrado Theodore Sturgeon, este discutiu longa, eloquente e apaixonadamente sobre os problemas artísticos da FC, as particularidades do género e o desafio que é escrever dentro das suas convenções, tratando-se, como se trata, de um tipo de literatura onde é imprescindível recorrer a trechos expositivos, sem permitir que isso desequilibre a narrativa. Depois de se terem separado de Sturgeon, o comentário (não menos eloquente) do estudante foi: “These science fiction writers, they really think of themselves as writers, don’t they? I mean, he’s talking about this stuff seriously, as if he were writing literature!”. Obviamente, embora Sturgeon fosse um consagrado autor de FC, hoje infelizmente quase esquecido, o comentário seria válido para qualquer outro autor que leve a sério o género ou géneros onde escolheu trabalhar, sobretudo se tais géneros se inserirem na mais vasta classificação do Fantástico. E não se pense que é uma questão sem importância, pois para se lograr um princípio de compreensão deste fenómeno, é necessário procurar lobrigar, desde logo, qual ou quais as características transversais aos vários géneros que os tornam um todo separado daquilo a que, para este trabalho, convencionamos chamar Literatura Erudita. Ao mesmo tempo, tentarei perceber porque razão alguns géneros (western, policial, romance histórico), merecem por vezes o favor da crítica e da academia, ao passo que outros (Ficção Científica, Horror e Fantasia) nunca o logram, mesmo quando a qualidade intrínseca das obras é reconhecida.
Atente-se, como exemplo, nesta elucidativa crítica de Eugenia Thornton à distopia This Perfect Day de Ira Levin (autor que se tornou célebre com obras de FC e Horror, como The Stepford Wives e Rosemary’s Baby), citada por Thomas D. Clareson na introdução ao tomo SF: The Other Side of Realism (1971), e publicada originalmente no Plain Dealer de Cleveland em 22 de Fevereiro de 1970: “Because of the basic subject matter the science fiction set will do its best to cuddle This Perfect Day to its steely, elecronic bosom. They have already claimed Brave New World and 1984, not to mention Alice and The Wizard of Oz and about half the stories of Saki. I will thank them to keep their tiny little hands off Mr. Levin” (sublinhado meu).
«Não há qualquer razão para considerarmos qualquer dos géneros populares literária, estrutural ou estilisticamente mais pobres do que a Literatura Erudita. » Uma leitura, ainda que menos atenta, do trecho citado logo nos permite retirar algumas informações quanto ao quadro de referências operativo neste tipo (bastante recorrente) de críticas à literatura de género: em primeiro lugar, o reconhecimento (“the basic subject matter”) de que estamos realmente perante uma obra de ficção científica ou que, pelo conteúdo temático, é reconhecível como sendo semelhante a outras obras anteriores que a autora da crítica não hesitaria em classificar como ficção científica. Depois o facto de os leitores de FC serem identificados com uma mundividência tecnofílica (“its steely, elecronic bosom”, evoca, ademais, uma certa frieza) e, consequentemente, a autora da crítica posicionar-se numa perspectiva tecnofóbica (ou, pelo menos, indiferente à tecnologia) e emocional. Por último, e não obstante o reconhecimento de que se trata de uma obra de FC, ao colocá-la lado a lado com textos genéricos bem acolhidos pelo mainstream, nega-lhe essa qualidarevista BANG! [ 46 ]
de genérica, por via de uma reconhecida qualidade literária. Isso permite-me, desde já, enfrentar uma questão, talvez menor, mas que deve ser referida: nomeadamente, o potencial conflito entre forma e conteúdo; ou seja, e parece-me indiscutível, não há qualquer razão para considerarmos qualquer dos géneros populares literária, estrutural ou estilisticamente mais pobres do que a Literatura Erudita. Embora pareça ser ideia feita a de que não se logra encontrar qualquer mérito nas narrativas genéricas, não é difícil encontrar exemplos de autores de género que foram reconhecidos pelo mainstream (Hammet, Chandler ou Evan Hunter no policial, Ray Bradbury na dark fantasy, LeGuin na Fantasia, Levin na Ficção Científica, etc…), autores de mainstream que mergulharam no género (Orwell, Huxley, Roth, etc…) e autores de género que abriram novos rumos na literatura em geral com obras de género (Ballard, Bester e Vonnegut são os melhores exemplos. Curiosamente, nunca nenhum autor Erudito conseguiu inovar na literatura de género). Outra coisa que é inevitável retirar daqui é que, por vezes, nem é o próprio género que limita a recepção crítica da obra. Aliás, e como o David muito bem referiu, o género é um constructo editorial que apenas se condensou na realidade norte-americana de princípios do século (embora o Gótico inglês dos séculos XVIII e XIX, pudesse — e fosse — já encarado como tal). Adaptando livremente uma definição de Steve Neale (que se referia ao cinema), podemos dizer que os géneros não consistem unicamente das obras que os compõem, mas também de determinados sistemas de expectativas e hipóteses que os leitores trazem consigo para a leitura e que interagem com os próprios livros. Ora, independentemente da qualidade das obras ou autores, pois parto do princípio que os há, bons e maus, excelentes e medíocres, em todos os géneros (bem como na dita Literatura Erudita) qual é aquele fugidio elemento que permite que determinados textos genéricos sejam aceites e outros rejeitados pelo cânone? Uma resposta, ainda que tosca e a pedir mais polimento, pode ser encontrada num post que li há revista BANG! [ 47 ]
tempos no fórum Bad Books Don’t Exist (por sorte, o autor do post assina ao abrigo de um nickname, o que lhe poupará o embaraço de passar à posteridade ao lado da Sra Thornton, como um autêntico idiota). Em suma, manifestando o seu profundo desagrado face à Ficção Científica, referia que o livro de Orwell, Nineteen-Eighty Four (1949) e de Saramago, Ensaio Sobre a Cegueira (1995) não era ficção científica pois neles o elemento fantástico era apenas “pretexto para falar de coisas mais profundas”, esse enorme lugar comum que limita a comunicação e permite o refúgio dos pusilânimes. Pese embora a óbvia incompetência valorativa de tal proposição, avanço que é nela que se deve encontrar a semente da discórdia. Abstraindo momentaneamente do particular contexto histórico que permitiu a agregação de trabalhos e obras dispersos em géneros universalmente reconhecíveis, e embora discorde parcialmente com o David na parte em que ele refere o fantástico na literatura Clássica (eu, pessoalmente, não gosto de falar de Fantástico antes do Século XVIII), concordo com ele quando propõe que busquemos a origem da dicotomia Literatura Erudita/Literatura Popular na criação do romance moderno. No entanto, não penso que seja necessário aguardar por 1678 e por Madame de La Fayette, pois encontramos o primeiro romance verdadeiramente moderno no próprio D. Quixote de Cervantes, em 1605. Já aí encontramos uma bem estabelecida dicotomia entre a vida interior do personagem, Alonso Quijano, onde este veste a personagem de D. Quixote, e o confronto desta com a dura realidade (imperecivelmente cristalizada na imagem dos moinhos de vento/gigantes). Não só isso, é no Quixote que assistimos à primeira crítica acérrima à literatura de género; na perspectiva de Cervantes, os escapistas romances de cavalaria que o personagem consome avidamente só o podem conduzir à loucura. Para Daniel Boorstin (em Os Criadores, publicado em Portugal pela Gradiva), “o romance, ainda que virado para o interior do homem, alcançaria o exterior e democratizaria o público e o objecto da arte literária. Através da «recriação da vida a partir da vida», o romance permitiria ao homem moderno descobrir-se” (p.287)
É nesta democratização, nesta «recriação da vida a partir da vida» que vamos encontrar a raiz do problema; o mesmo é dizer, o processo de formação do cânone literário. No entanto, e procurando ir um pouco mais longe, colocando cuidadosamente o pé em solo traiçoeiro (não disponho de suficientes conhecimentos para testar esta hipótese), atrevo-me a propor o seguinte: a resposta para a aversão ao fantástico (ao mesmo tempo que permite a aceitação de outros textos genéricos como o policial e o western, ou mesmo a comédia e até algum horror psicológico) prende-se com a intenção última do pai do romance moderno. Com efeito, na introdução às suas Duas Novelas Exemplares, publicadas em 1613, mas cuja redacção se pensa remontar a 1603, Cervantes escreve que as suas são histórias moralmente exemplares: “Se eu acreditasse que a leitura destas novelas despertaria de algum modo um pensamento ou um desejo malévolos, preferia cortar a mão que as escreveu a vê-las publicadas”. Ora, para Cervantes, os romances de cavalaria, como atestado pelos efeitos causados pela sua leitura no engenhoso fidalgo, seriam moralmente indignos e inspiradores de maus actos. Não acredito que os responsáveis pelos cânone, pelo muito de político que anima as várias cotteries que têm sucessivamente dominado a crítica literária, aceitem que as suas escolhas se pautam pelo carácter moral das obras que avaliam; no entanto, o selo de infantilidade com que a literatura fantástica é sumariamente despachada, faz-me pensar que não será demasiado ousado aventar a hipótese de que, independentemente da forma e, como vimos, independentemente do conteúdo, é o tratamento filosófico dado aos temas (e os próprios temas) que determinam a sua exclusão. Porque o romance moderno centra a experiência literária na reacção impressionista dos personagens, com a sua bagagem de sentimentos e problemas pessoais, ao ataque cerrado do mundo exterior (obrigando a determinar qual a reacção correcta), e não consegue tolerar a deslocação que a literatura fantástica faz dessa reacção; a introdução do fantástico obriga a que os petty problems dos seus protagonistas — que rondam sempre, seguindo Northorp Frye — o Amor e a Morte, sejam afastados para
enfrentar e resolver problemas maiores (obrigando a determinar qual a reacção necessária). O concreto da vida é substituído pela abstracção (ainda que esta seja corporizada numa ameaça extra-terrestre, numa mutação teratológica ou numa total transmutação da realidade). A ideia que proponho é esta: a Literatura Erudita assenta numa Moral; a Literatura Popular assenta numa Praxis. Daí que a primeira seja mais rapidamente datável (a Moral torna-se obsoleta com grande facilidade) e consiga absorver aqueles géneros que cristalizam, também eles, uma resposta moral: o western e o policial tratam, acima de tudo, da reposição da ordem; também a fantasia, em menor grau, trata da obtenção de um estado ordenado. Já não a Ficção Científica e o Horror, que embora possam encontrar o clímax na reposição da ordem inicial, necessitam do caos e de respostas extremas a esse caos. Por outro lado (a FC em maior grau), ambos propõem — mais, impõem — novos comportamentos, pois postulam situações absolutamente novas. António de Macedo: Eu bem sabia que já me tinham tramado. Ao ler os vossos eminentes ensaios, não sei se me sinta como o Menino Jesus entre o doutores, ou como o pobre escravo Esopo no mercado de escravos, em Atenas, para onde foi levado com dois colegas seus: aproximou-se um potencial comprador e perguntou ao primeiro escravo:
«Todos os géneros são bons, excepto o género enfadonho». — Que sabes fazer? — Tudo. Voltou-se para o segundo: — E tu, que sabes fazer? — Tudo. Finalmente dirigiu-se a Esopo: — E tu, que sabes fazer? — Nada. revista BANG! [ 48 ]
— Como nada?! — Os meus companheiros tomaram por sua conta o fazer tudo, logo para mim não sobrou nada. (Esta é uma das minhas peças favoritas, a Esopaida, do meu comediógrafo de estimação António José da Silva, o Judeu). Pois é, o David e o João já disserem «tudo» — que hei-de dizer mais, e se possível que acrescente qualquer coisinha?? Citando Esopo: nada… Ou talvez não. Para começar, devo dizer que esta coisa dos géneros (literários, musicais, cinematográficos…), com guerra ou sem guerra, sempre me deixou desconfiado e com o nariz um bocadinho torcido. Cada vez me sinto mais inclinado a concordar com Voltaire quando escreveu em 1763, numa carta dirigida a Monsieur de Moultou: «Tous les genres sont bons, sauf le genre ennuyeux».1 — (Antigamente o «género enfadonho» chamava-se «littérature d’idées»). A divisão proposta pelo David, ainda que provisória e apenas como ferramenta de arranque de trabalho, da Literatura Erudita e da Literatura Popular, não sei que lhe diga, mas suspeito que simplifica tanto a base de abordagem ao tema que corre o risco de gerar grandes zonas cinzentas de sobreposição fronteiriça; embora o David tenha tido o cuidado de esclarecer que essas expressões nasceram com o romance moderno, no fundo é inevitável pensar que peças literárias de grande divulgação popular, como as palpitantes «estórias» contadas e cantadas para o povinho nos tempos de Homero, hoje chamam-se Ilíada ou Odisseia e são literatura erudita, tal como as peças de Shakespeare de grande êxito popular ou as óperas de Mozart representadas em tascas para um público ruidoso e arrebatado e que hoje são peças eruditas… Depois há que considerar também o factor subjectivo. O que é ennuyeux para uns pode ser delirantemente orgásmico para outros. Por exemplo: pessoalmente sempre tive a maior dificuldade em meter o dente na Recherche de Proust, quanto mais engoli-la e muito menos digeri-la; já fui insultado váras vezes por isso, e de uma delas por uma jovem 1
«Todos os géneros são bons, excepto o género enfadonho». revista BANG! [ 49 ]
senhora que muito estimo, culta, que lia, relia e rerelia os nove volumes da Recherche com tanto ou mais prazer e entusiasmo do que eu a devorar as aventuras do Tio Patinhas. Enfim, depois de tanto opróbrio só me resta retirar-me da liça e reconhecer que devo ser um caso perdido nestas classificações em que os críticos são exímios — por isso estou sempre a dizer que felizmente não sou crítico literário! Quando faço filmes, prefiro dizer que faço fitas, e quando escrevo ficção, prefiro dizer que conto historietas! Que querem, sinto-me mais à vontade e desinibido, e posso inventar sem remorsos o que me passa pelo toutiço… Como o João faz notar, e bem, sem dúvida que não podemos fugir ao preconceito ainda muito arraigado em certas mentes contra essa «literatura menor» da FC, do Horror, da Fantasia, etc. Há uns tempos atrás tive a paciência e a bondade de ler um pequeno ensaio de um professor de literatura (de cujo nome felizmente não me recordo, cito isto de memória), que discorria sobre a «grande literatura» e depois, de raspão, referia-se a umas formas de «pseudoliteratura», «paraliteratura» e «subliteratura» onde incluía, indiscriminadamente, desde a FC até às estórias popularuchas de faca-e-alguidar do tipo Maria Não Me Mates Que Sou Tua Mãe. Em todo o caso, parece que estamos (consciente ou subconscientemente) a cingir-nos e restringir-nos a alguns formatos e estruturas mais associados àquilo que nas prateleiras dos livreiros costuma ter as etiquetas «ficção científica», «fantástico», «horror», etc. — mas existem outros objectos literários (e esquecendo outras formas narrativísticas como o cinema ou o teatro) que não sei em que género incluir, como por exemplo os romances (?) de Maria Gabriela Llansol, em que nenhuma frase liga com coisa nenhuma, e lá pelo meio tem grandes buracos, troços em branco com falta de palavras, parecem enigmas e logogrifos, não sei se aquilo é para a gente adivinhar que palavras lá estariam, ou se é para desengatilhar o chamado «clique» revelador que faz ver para além do visto/não-visto… A verdade é que é considerada pelos luminares da crítica uma grande autora de grande literatura, com vários prémios daqueles sérios, do mainstream e tudo — mais uma
vez, e para minha grande contrição, não consigo meter o dente naquilo. Mas eu gostaria de tecer uns quantos considerandos mais atentos e veneradores sobre «estilos» e «géneros», que desde a velha retórica até às novas análises radicalistas têm rolado e girado por aí sob diversos nomes, e nem é preciso citar os rebentos de Harold Bloom como Barry Scherr e David Fite — mas isso fica para o próximo post. David Soares: Uma das maiores satisfações de ser escritor é saber que, na melhor das hipóteses, os livros que se escreve serão sempre lembrados no futuro (assim como o João se lembrou do Sturgeon. Recomendo a todos que leiam o “belo” Some of Your Blood). É improvável que se encontre um rasto de migalhas genéticas que nos conduzam até às ossadas de Esopo (lembrado pelo António), mas as memes esopianas estão connosco — vicejantes e saudáveis, ou seja: Esopo existe
«Uma das maiores satisfações de ser escritor, recuperando o mote do primeiro parágrafo, é mesmo essa: atrever-nos a ser diferentes.» enquanto alguém se lembrar da vida e obra dele — e ele afecta aquilo que se desenrola séculos depois de ter morrido; até os desvairamentos de três rufiões como nós. Talvez esse tipo de persistência memética seja longitudinalmente mais poderoso que a existência de carne e osso: é que as palavras parecem ser mágicas no modo como nos afectam. Já antes de Alfred Korzybski e William Burroughs publicarem os livros deles, o Aleister Crowley dizia que a Magia era uma “doença da linguagem”. O Tempo (o velho Saturno que tanto gosta de acariciar o cabelo sedoso das virgens…) também acaba por nos fazer esquecer o piorzinho que se vai publicando — o que não significa que certos autores sejam descobertos por gerações seguintes, sejam eles maus ou bons. Num simples périplo pelos alfarrabistas é fá-
cil constatar que há cinquenta anos atrás se publicava menos livros, mas que a variedade das ofertas editoriais era maior (varietas delectat): na verdade, publicava-se de tudo. Eu encontro coisas nos alfarrabistas que nem sequer sabia que tinham sido dadas à estampa em português como uma edição de Bruges, a Morta, de Georges Rodenbach, publicada pela Editorial Inquérito em 1943 e que trouxe para casa no passado fim-de-semana. Qual seria a editora que, hoje em dia, perderia tempo a publicar esta obra-prima do Simbolismo, pioneira da psicogeografia?!… E é uma pena porque é um livro bom que se farta!… O que desejo destacar desta exposição introdutória à minha segunda intervenção é que, autonomamente à polémica entre géneros, está-se a publicar menos e pior. Existe uma homogeneidade livresca, sintomática da homogeneidade cultural que nos absorve a uma velocidade vertiginosa, mas acredito que as obras que melhor falam sobre os problemas dos seus tempos continuam — e continuarão — a ser as Fantásticas. Como as de Rodenbach, de Esopo e de Sturgeon. Acredito mesmo que quem se dedica ao ofício da escrita precisa de ter uma maior sensibilidade no que diz respeito ao uso da palavra. Falei em Burroughs e a técnica beat do Cut-up é um bom exemplo daquilo que pretendo ilustrar: tem tendência para produzir algaraviada, mas — bolas!… —, em última análise, uma algaraviada escrita por um escritor sensível à palavra pode ser muito melhor que um enredo tradicional autorado por um tarefeiro — eu acho que Burroughs é um gigante quando confrontado com o Paul Auster (eu adoro qualquer coisa que tenha baratas falantes, por isso talvez esteja a ser biased). É desanimador pensar que a Escrita é um campo com possibilidades tão vastas, mas que se encontra sempre espartilhado por convenções de mercado, acidentes de iliteracia e preconceitos patetas. Falando em insectos… Lembrei-me do desenho do Escher, aquele da formiga, e do conto que o Hofstatder escreveu, inspirado nele, que está no livro Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. Chama-se “…Ant Fugue” e é sobre aquilo que pensa um papa-formigas enquanto se banqueteia. O ensaio não é sobre sabores alternativos, contudo, mas sobre revista BANG! [ 50 ]
a consciência colectiva (que no texto se chama Aunt Hillary e mais não é que a própria colónia de formigas) e acho que se aplica ao nosso nicho literário. Ou seja, essa parábola das formiguinhas insuspeitas e do mirmecófago bonacheirão, que aparece para as devorar sem perceber que a Tia Hillary com quem tanto gosta de conversar é composta pelos milhões de indivíduos que ele tanto gosta de comer, pode ser lida de várias formas (não estou “consciente” de qual é a maneira correcta de a entender ou se existe sequer uma maneira correcta de a entender): 1) Nós, escritores, somos as formigas que percorrem os subtérreos níveis do subconsciente em busca de novos modos de olhar o mundo e o papa-formigas representa os leitores que vêm lamber os beiços com as nossas fabulosas criações, mas o problema com este modelo é que o papa-formigas come as próprias formigas, por isso 2) talvez seja ele o escritor que vem chupar os leitores despreocupados? De qualquer das maneiras… Porquê reduzir o ofício da escrita nesta configuração? Devíamos ser melhores que as formigas e perceber que caminhamos num terreno que é muito maior que aquilo que parece ser: devíamos prestar mais atenção. Gostava de ler um livro recente que me oferecesse algo que só a literatura é capaz de fazer: que não fosse uma experiência que pudesse ser suplantada por outra arte. Acho que isso faz muita falta; e até pode ser um dos motivos pelos quais o mercado do livro prima pela confrangedora homogeneidade que se encontra nos escaparates: não há nada na maioria dos livros publicados neste momento que não possa ser vivenciado com mais rapidez e economia num filme, numa série de televisão ou numa telenovela. Eu não quero ler filmes impressos: eu quero ler… hum… livros. Esta linha de raciocínio trouxe-me aquilo que o João enunciou: que «o romance moderno centra a experiência literária na reacção impressionista dos personagens, com a sua bagagem de sentimentos e problemas pessoais, ao ataque cerrado do mundo exterior (obrigando a determinar qual a reacção correcta), e não consegue tolerar a deslocação que a literatura fantástica faz dessa reacção; a introdução do fantástico obriga a que os petty problems dos seus revista BANG! [ 51 ]
protagonistas — que rondam sempre, seguindo Northorp Frye — o Amor e a Morte, sejam afastados para enfrentar e resolver problemas maiores (obrigando a determinar qual a reacção necessária). O concreto da vida é substituído pela abstracção (ainda que esta seja corporizada numa ameaça extraterrestre, numa mutação teratológica ou numa total transmutação da realidade).» Como sugeri na minha primeira intervenção, a Realidade é uma ficção feita pelos nossos sentidos e não vale a pena sobrevalorizá-la: aquilo que pensamos estar a ver pode ter tanta proximidade com o mundo físico quanto uma história do Hulk a lutar com o Wolverine. Os nossos cérebros capturam as sensações circundantes e constroem um modelo do mundo que funciona para nós, mas nada garante que esse modelo é a realidade. É por essa razão que sempre achei absurdo que, como escreveu o João, citando o Boorstin, a «recriação da vida a partir da vida» seja o modo eleito de expressão literária do establishment. Aquilo que é entendido como realista é igualmente ficcionado. Vou citar um exemplo pessoal: Era uma vez, estava eu, com dois amigos, a perder tempo sentado no muro da antiga estação ferroviária de Queluz; não me recordo do que estava a falar com eles porque a comunicação entre nós já só se devia estar a cumprir por minúsculos movimentos oculares, tal devia ser o ennui vespertino… Todavia, aconteceu algo inesperado. Uma rapariga distraiu-se e atravessou a linha-férrea no momento em que um comboio, vindo de Sintra, se aproximava dela a grande velocidade. Vi tudo! Hesitante, a jovem recuou à passagem da locomotiva, mas tarde demais: o comboio atingiu-a na cabeça e deitou-a ao chão — por um instante, pareceu que ela tinha esticado as pernas para debaixo das rodas do comboio, mas não ficou sem elas porque caiu de joelhos. Levantei-me e corri para a ajudar. Aproximei-me e ouvia-a a chorar; agarrei-a e senti um arrepio pela espinha acima porque me deu a impressão que ela tinha ficado sem um olho. Afinal, o olho estava apenas escondido pelo sangue que brotava de uma têmpora aberta. Fiquei com a impressão que ela tinha um pé torcido, também. Com custo, consegui levá-la sozinho para a plataforma de em-
barque: fiquei cheio de sangue — havia sangue por todo o lado, vocês não fazem ideia da quantidade de sangue que sangra de um corte daqueles. Quando a ajudei a deitar-se no chão de cimento, aproximou-se um homem que me disse com urgência “Chega-te para lá, chega-te para lá!”. Pensei que fosse um familiar preocupado com ela, mas não. Era um apenas um idiota chapado que veio armar-se em herói depois de ter sido eu a ir buscar a rapariga à linha-férrea. Não tenho palavras para descrever o nojo que senti por aquele homem que agiu como se fosse o salvador, não só da pobre diaba como da pátria. Nesse instante, chegou uma ambulância. Um montão de gente rodeou-nos e eu deixei de ver a rapariga. Acho que lhe estavam a lavar a cara. Acho que um enfermeiro lhe estava a cortar a perna da calça de ganga quando voltei as costas e me fui embora. Reuni-me com os meus amigos, mas não fui capaz de ficar ali. Estava a tremer. Fui para casa e preguei um susto à minha mãe que, ao pôr-me a vista em cima, pensou que eu tinha vindo de um bar mexicano. Se há alguma moral nesta experiência dantesca que acabei de partilhar convosco acho que pode ser esta: ninguém sabe como é a realidade até ela lhe cair, a sangrar e a chorar baba e ranho, nos braços! Podemos escrever incontáveis páginas de prosa iluminada, e apaixonar-nos por elas ao ponto de sacrificar a vida e a higiene, mas é quase um pecado afirmar que a ficção que estamos a escrever é realista porque não é e nunca será. É por este causador que a obsessão com a realidade que afecta o espectro da Literatura Erudita e os molossos que a defendem demencialmente não se sustenta: aquilo que eu encontro na literatura que mais se aproxima da experiência que acabei de narrar, com o cheiro e o calor do sangue que me ensopou as mãos e a roupa, mais o ruído das ambulâncias e a vozearia dos heróis-de-bancada, está nos livros de horror do Stephen King e do Clive Barker. Com efeito, estes autores de ficção — de Literatura Popular — , estes desgraçados que andam iludidos a pensar que são escritores a sério, estão mais próximos da realidade que outros escritores a sério de Literatura Erudita. Depois do sangue, é preciso manter as coisas simples… Por isso, vou falar de insectos outra
vez: as abelhas vêem cores que nós nem sabemos que existem. Não vêem tons diferentes das cores nossas conhecidas, mas cores novas. Acho que essa é que deve ser a tarefa do escritor: enquanto uns olham para as flores e vêem as cores do costume, os escritores devem ver os tons mais loucos e os padrões mais incríveis. E escrever sobre eles, claro. Resumindo, não quero ficar prisioneiro de uma forma de ver o mundo que, na verdade, é apenas mais uma ficção. Uma das maiores satisfações de ser escritor, recuperando o mote do primeiro parágrafo, é mesmo essa: atrever-nos a ser diferentes. Até faz lembrar aquele patético separador do canal de cabo da Fox em que há um tipo que está num bar a ver os outros a beber água e comenta que uns vêem o copo meio-cheio e outros olham para um copo meio-vazio. E ele? Ele diz que tem é sede… Imagino-me numa livraria a ver toda a gente a rotular os livros de Literatura Erudita ou de Literatura Popular, de acordo com as suas inclinações pessoais. E eu? O que é que acho? Eu quero é escrever, pá!… Como diz o papa-formigas (na página 312): «REDUCTIONISM is the most natural thing in the world to grasp.» João Seixas: Ora, passo a passo lá nos vamos aproximando duma tentativa de resposta, da fugidia compreensão de qual a verdadeira essência da barreira inconstante que se ergue entre a academia e o populus. Como sempre, o David levanta questões pertinentes, e faz sangrar algumas feridas que alguns, mais inconscientes, achavam que estavam já bem saradas. Mas, conquanto subscreva inteiramente as conclusões do David, penso ser pertinente reforçar a ideia de que existe, efectivamente, uma realidade objectiva. Negar a existência de uma tal realidade, objectiva, cognoscível em maior ou menor instância, seria subscrever as mais disparatadas teorias pós-modernas, selon Chacan, Derrida, Foucault e, entre nós, o falecido Eduardo Prado Coelho (e quem pode esquecer a sua lastimável intervenção na questão do Discurso Sobre a Ciência de Boaventura Sousa Santos?). Seria negar a ciência moderna e, por conseguinte, as próprias fundações do pensamento raciorevista BANG! [ 52 ]
nal e do mundo ocidental. Que a nossa utensilagem visual esteja limitada ao espectro compreendido entre o vermelho e o violeta (sendo nós, portanto, cegos quanto às colorações infra-vermelhas e ultra-violetas) não contende em nada com a realidade e concreta coloração de determinado objecto. Que uma flor para nós seja amarela, e para uma abelha tenha uma dezena de tonalidades invisíveis ao olho humano, em nada colide com a identidade fundamental dessa flor. A única diferença é a percepção que uns e outros, humanos e abelhas, temos de uma mesma realidade objectiva. Idêntica falsa questão é o célebre dito: se uma árvore cair no meio da floresta, sem que esteja lá ninguém para a ouvir, será que a sua queda provoca ruído? Claro que sim. Nós sabemo-lo porque sabemos que havendo ar, a queda da árvore provocará sempre a deslocação deste, vibrando em determinadas frequências. Tal como sabemos que as abelhas percebem outras cores, pois desenvolvemos tecnologia e divisamos experiências que permitiram comprovar tal facto. No entanto, o facto de existirem diferentes percepções sobre a mesma realidade, não invalida que essa realidade exista e seja (em potência) integralmente cognoscível; nem colide directamente com o interesse ou desinteresse das obra que convencionamos chamar eruditas e as chamadas populares. Umas e outras orbitam sempre em torno desta realidade, explorando-a, confirmando-a, contorcendo-a ou obliterando-a. Mas é sempre esta realidade que escora e permite estruturar a ficção. É isso que, em última análise, distingue a ficção dos escritos dos loucos e dos religiosos, que postulam uma outra realidade imaginada, sem prestarem a devida vénia ao real e ao conhecido. (Também não anula a existência de uma outra realidade consensual e não objectiva, uma realidade de valores, que não assenta na contingência histórica mas na vontade da massa social, com as devidas adaptações nacionais, regionais, filosóficas ou religiosas. É essa realidade consensual que poderá, como antes disse ao referir-me à dimensão moral da literatura Erudita, ajudar a compreender a aversão à literatura Popular. Mas não é disso que quero tratar de imediato). revista BANG! [ 53 ]
Mas há efectivamente algo de fundamental nesta multiplicidade de percepções do real. Algo que, de acordo com alguns ensaístas, é ínsito à própria literatura moderna. Victor Shklovsky, um dos Formalistas Russos, considerava no seu célebre ensaio de 1917 (Art as Device) que a principal função da arte era ultrapassar o efeito do hábito, através da representação do familiar de uma forma original: a isto chamava ele ostranenie, que David Lodge equipara ao conceito de desfamiliarização ou, digo eu, estranhamento. Na verdade, escrevia Shklovsky, “a arte existe para que possamos recuperar a sensação da vida; existe para que possamos sentir as coisas, para tornar o rochoso rochoso. O propósito da arte é provocar a sensação das coisas tal como são percebidas, e não como são conhecidas”.
«O Fantástico vai ainda mais adiante, pondo a nu a artificialidade das construções sociais, servindo por vezes de “comentário” extremo ao status quo que essa Alta Cultura pretende representar. » Este estranhamento resultaria assim de uma interpretação extremamente individualista da realidade, a qual nos seria apresentada de forma reconhecível mas inovadora, enriquecendo assim a nossa capacidade de experimentar o real. Ora, poderíamos observar que em nenhum caso é tal estranhamento tão essencial como no caso da Ficção Científica, do Horror e da Fantasia, onde a realidade é transformada, por vezes completamente, mas nunca ao ponto de ser totalmente irreconhecível. No entanto, a mente-colectiva do estabelecimento cultural tem uma capacidade diminuta para enfrentar esse particular tipo de estranhamento; o máximo de abertura que lhe é concedido é o caso do realismo mágico, que Lodge identifica (em The Art of Fiction, 1992) “when marvellous and impossible events occur in what otherwise purports to be a realistic narrative”. Porém, essa intervenção do fantástico no real tem
uma razão de ser (que é o que a torna aceitável e lhe permite partilhar do sistema de códigos de reconhecimento da Arte Erudita): “In magic realism, there is always a tense connection between the real and the fantastic: the impossible event is a kind of metaphor for the extreme paradoxes of modern history”. Ou seja, o fantástico típico do realismo mágico apenas é aceitável por configurar uma codificação da incapacidade do espírito humano em lidar com acontecimentos extremos da história moderna. Curiosamente, uma análise dos elementos fantásticos que costumamos encontrar nos episódios de realismo mágico (capacidade de voar, animais falantes, animismo, queda livre, tempo lento) permite-nos concluir que são os mesmos que costumamos associar ao (e encontrar no) sono/sonho. O realismo mágico parece assim servir de almofada entre uma realidade tão brutal que nem pode ser representada e a representação que se quer fazer dessa realidade. Donde se retira que a própria literatura erudita, pelo muito que se propõe representar o real, extrair a sensação de vida da própria vida, tem dificuldade em lidar com todos os seus aspectos (do real e da vida), já para não falar na dificuldade que tem em lidar com as variadas matizes do possível. São mais as reticências e os silêncios cúmplices, os vazios entre capítulos e as insinuações do que propriamente as representações fiéis do real. Porque os próprios autores, que são afinal os canais interpretativos necessários à ostranenie, não são eles próprios capazes de entender o real, entregando-se, sim, a interpretações do real extremamente subjectivado sobre que escrevem. Pensemos em eventos extremos: pensemos nos campos de batalha das duas guerras mundiais, pensamos no pesadelo do holocausto, pensemos no horror de uma vítima de torturas, pensemos na vida agreste na Marinha Real Inglesa nos séculos XVII a XIX. Todos eles encontraram representações realistas e fiéis, e todos eles passaram pelo crivo da individualidade dos autores que sobre eles escreveram. Pensemos em A Oeste Nada de Novo de Erich Maria Remarque, no Na Outra Margem por Entre as Árvores de Hemingway, no Regimento da Morte de Sven Hassel, no The Shadow-Line de Conrad…
Pensemos depois no exemplo de Paul Auster, citado pelo David, ou nos exemplos nacionais de Gonçalo M. Tavares, Pedro Paixão, José Luís Peixoto. Se aqueles souberam interpretar a realidade porque a viveram, estes interpretam uma realidade em segunda mão, uma realidade que lhes é transmitida através da experiência dos outros. Que interesse pode ter um livro escrito por alguém que não tem qualquer experiência de vida, que não a de frequentar um curso superior, arranjar um tacho num jornal e ver as unhas dos pés a crescer? Não se pense com isto que quero defender a escola redutora do “escreve sobre aquilo que sabes”. Quero, sim, demonstrar que estes autores, privados da vivência de acontecimentos extremos, reduzem a sua escrita à sua própria vivência interior; a sua adopção pelo cânone, paradoxalmente, opera-se não por uma novel perspectiva da vida ou do real, mas por uma repetição (por vezes doentia) dos próprios códigos de figuração perpetuados ao longo dos últimos duzentos anos. Face ao vácuo experiencial dos autores, a literatura mimética funciona como uma jaula de mediocridade, onde a ostranenie é interpretada, não como uma técnica, mas como carta branca para mergulhar em exercícios de estilo estéreis e pouco imaginativos (a exclusão de maiúsculas e pontuação, as brincadeiras com a mancha gráfica, as intervenções de um narrador/autor que nada tem a dizer a não ser lembrar a sua existência para que não seja esquecido) onde a forma se sobrepõe total e definitivamente ao conteúdo. Numa completa negação da literatura. Nada poderia estar mais longe da intenção de Zola quando definiu o romance experimental pela equivalência entre a orientação sociológica da sua escrita e os (então nascentes) métodos experimentais das ciências naturais. Obviamente, dir-me-ão, os autores do fantástico, por maioria de razão, fogem ainda mais à interpretação da experiência real, ao escreverem sobre temas que são assumidamente irreais. O que é manifestamente verdade. No entanto, considerem o seguinte: ao escreverem sobre passados, presentes ou futuros alternativos, os autores de Ficção Científica estão a dissecar não só o real, mas o próprio carácter contingente desse real; colocam a nu a arbitrariedade revista BANG! [ 54 ]
do “real” tal como o conhecemos (precisamente chamando-nos a atenção para as cores do mundo das abelhas); e os autores de horror, pelo menos aqueles que são honestos consigo próprios e com os leitores, expõem perante nós os seus fantasmas mais profundos, despindo, por assim dizer, a alma do humano confrontada com os seus próprios pesadelos. O fantástico funcionará quase como o oposto do realismo mágico, enfrentando as experiências extremas que a literatura mimética não ousa representar. Ao definir a ostranenie, Shklovsky serve-se como exemplo de um trecho de Tolstoi onde este descreve uma ópera vista através do olhar de alguém que nunca assistiu a nenhuma: “Depois apareceram ainda mais pessoas a correr e começaram a arrastar dali a donzela que até então envergara um vestido branco mas que agora vestia de azul-marinho. Não a arrastaram logo, mas ficaram a cantar com ela durante muito tempo antes de a levarem dali”. O que Tolstoi faz é ridicularizar de forma certeira as convenções da Alta Cultura, ao mesmo tempo que demonstra que é necessário o domínio dos códigos para apreciar uma obra de arte. O Fantástico vai ainda mais adiante, pondo a nu a artificialidade das construções sociais, servindo por vezes de “comentário” extremo ao status quo que essa Alta Cultura pretende representar. Onde a Literatura Erudita critica alguns aspectos do real, o Fantástico postula a total substituição do próprio real. Ao fazê-lo, nega o conjunto de valores comuns que as obras miméticas pretendem confirmar. Ao invés de nos apresentarem uma nova perspectiva do familiar, as obras do fantástico convidam-nos a desafiar o que é familiar, a tomarmos consciência da artificialidade das convenções e, sobretudo, a que abramos os olhos para a necessária contingência histórica do real. É uma posição de completa negação do cumular de experiências que forma o nosso sentir colectivo, cristalizado nas obras que a academia considera representativas do espírito humano. E, no entanto, nada disto responde ainda à questão essencial: o que distingue um quadro de Van Gogh de uma ilustração de Frank R. Paul? O que distingue uma composição de Beethoven de uma outra de John Williams? Que distingue um livro de David Soares de um de Gonçalo M. Tavares? revista BANG! [ 55 ]
Pelo pouco que vale a minha opinião, e no que a esta última questão diz respeito, daqui a 20 anos ninguém saberá quem é Tavares. António de Macedo: Tenho lido atentamente os excelentes ensaios do David e do João, e a maneira como constroem e abordam a sempre vertiginosa e desequilibrante questão de como se poderá recortar, em arte (neste caso, narrativa), o instável território do real versus imaginário, do duradouro versus efémero, com inúmeros e pertinentes exemplos. Suspeito que estamos perante uma situação «fractal», de interdimensões fraccionárias, ou seja, antigamente era fácil saber-se que uma recta tem a dimenão 1, um plano a dimensão 2 ou um cubo a dimensão 3, mas… uma linha de costa que dimensão tem? 1 ou 2?… Provavelmnete entre uma coisa e outra, talvez 1,666… E uma nuvem? Talvez 2,4 ou, se estiver muito carregada, talvez 2,8… Em arte narrativa (e não só, bem entendido, mas convém não alongar muito isto) ao pretendermos delimitar conceitos tão deslizantes e escorregadios como popular/erudito, ou real/fantástico, ou o que fica para a posteridade e o que vai para o limbo do eterno olvido, estamos a entrar num campo minado por essa coisa esquisita que é a estética subjectiva, e que fez, por exemplo, com que um Júlio Verne nunca fosse admitido à Académie Française, apesar dos seus esforços: é que a sua escrita não era suficientemente «literária»… Penso que o problema dos académicos não era tanto uma questão de «género» mas de «prosa»: quando Flaubert publicou a sua Salammbô em 1862 foi admirado por uns, pela força literária do seu «esteticismo realista», e violentamente contestado por outros que achavam aquilo não só imoral mas sobretudo que aquela prosa era uma autêntica carthachinoiserie. Esse mistério do «escrever bem» evidentemente que não basta e ainda menos esgota a desejável qualificação (e quantificação, as ideias também têm «peso»!) que distingue (felizmente!) um David Soares de um Pedro Paixão ou de um José Luís Peixoto, como o João muito bem acentuou: «Não se pense com isto que quero defender a escola redutora do “escreve sobre aquilo que sabes”. Quero, sim, de-
monstrar que estes autores, privados da vivência de acontecimentos extremos, reduzem a sua escrita à sua própria vivência interior; a sua adopção pelo cânone, paradoxalmente, opera-se não por uma novel perspectiva da vida ou do real, mas por uma repetição (por vezes doentia) dos próprios códigos de figuração perpetuados ao longo dos últimos duzentos anos.» Isto é verdade, um dia comecei a ler os livros do Pedro Paixão e rapidamente me dei conta que bastava ler um para ser o mesmo que ler todos, mais: bastava ler uma página de um, para se ficar com o livro todo lido… Quando se chega ao fim, ficamos a saber quantos cigarros fumou o protagonista, quantas quecas deu e quantas vezes olhou pela janela, e eu não posso deixar de me interrogar: O KEK EU TENHO COM ISSO??? Bom, talvez esteja aqui uma boa razão das voltas que andamos a dar ao problema dos «géneros»: seja qual for o género, o que se descreve, aquilo para onde se olha, o que se dá, o que se idealiza, o que se conta, precisa de ter sempre algum ponto de contacto, ainda que ténue, com a humanitas, por muito alienígenas que sejam as propostas de autores tão diametrais como Ursula LeGuin ou Paul Di Filippo, acho que o Terêncio tinha razão quando escreveu numa das suas comédias homo sum et humani nihil a me alienum puto2…
«Já os Gregos desconfiavam da separação de géneros cortada à faca, e reconheciam que certas obras podiam ser percorridas, transversalmente, por diversos géneros» É por isso que continuo desconfiado das catalogações em géneros que nunca obtém consenso entre os diversos luminares que se dedicam ao caso, como os estudiosos de «Teoria dos géneros» e da «Crítica dos géneros», como Devitt (2004), Dobbs-Allsopp (2000), ou Prince (2003) sem falar nos estudos de Kress (2003) sobre a «literacia». Já os Gregos desconfiavam da separação de géneros cortada à faca, e reconheciam que certas 2
«Homem sou, nada do que é humano me é alheio».
obras podiam ser percorridas, transversalmente, por diversos géneros — embora lhes repugnasse este tipo de ambiguidades (maldito/bendito racionalismo grego!) que punha em causa as categorias e classificações naturalmente associadas a valores ideais, arquetípicos. Por conseguinte, a Ilíada com toda a excelência reconhecida por Aristóteles, não deixava de ser uma incómoda aberração, por ser do género épico mas ter segmentos de tragédia e episódios líricos como por exemplo a tocante despedida de Heitor e Andrómaca — estou mesmo a ver o pobre do Aristóteles a escrever isto na Poética e a coçar a cabeça, perplexo. E já não falo no colete de forças que foi a ideia que percorreu toda a época do «cânone ocidental» do plot bem construído, plot esse cujos eventos ou incidentes, segundo os antigos retóricos (e a maioria dos modernos…), têm de se suceder logicamente (!) uns aos outros. Ainda não vi nenhum crítico que me soubesse explicar isto satisfatoriamente, e entretanto vou-me deliciando com estranhezas tão empolgantes como Tales of Zothique, do velho Clark Ashton Smith, ou as loucuras do ainda mais clássico Gustav Meyrink — e não falo nos modernos porque, curiosamente, há muitos e bons, quantas vezes o problema está na escolha! Enfim, vocês desculpem-me mas deve ser do reumático, volto sempre à receita mágica da suspension of disbelief, receita cunhada por Coleridge em 1817 e que, em minha humilde opinião, continua a ser indispensável para que a leitura de uma estória agarre, mais a receita gémea do sense of wonder examinado proficientemente por John Clute & John Grant na sua incontornável Encyclopedia of Fantasy, e que eu prefiro traduzir simplesmente por «fascínio». Realmente, é disso mesmo que se trata: se o livro não agarrar o leitor pelo «fascínio», seja pelo lado do plot, seja pelo lado da fulgurante manipulação literária, seja por outro interstício supradimensional qualquer mas igualmente enfeitiçante — a obra falha. E já agora, não gostaria de rematar estes breves alinhavos (ou desalinhos…) sem corresponder, nem que seja a cinquenta por cento, a uma sugestão off-the-record do João, de escolher um livro fantástico e um livro mainstream que tratassem temas revista BANG! [ 56 ]
semelhantes, e depois comparar… Confesso que a tentação é grande de pôr, lado a lado, dois livros «de peso» que tratam de um certo eterno feminino malévolo e criado artificialmente, embora este «artificial» tenha um significado completamente distinto em ambos os casos… Mas aqui vai: leiam com atenção a A Sibila (1954), de Agustina Bessa-Luís (que em 2004 já ia com mais de 26 edições), que ganhou vários grandes prémios literários do mainstream, bocejem à vossa vontade, e depois deliciem-se com os gélidos calafrios provocados pela Alraune (1911) de Hanns H. Ewers (1871-1943) — e esqueçam por favor as simpatias dele pelo nazismo, coisa que muito prejudicou a sua memória literária e que relegou para o desfavor do olvido a sua enorme capacidade de «criar fantástico». David Soares: Consultar o email e ver que já chegaram mais intervenções vossas é um grande prazer: acho que o exercício de participar nesta troca de ideias convosco já se tornou, para mim, aquilo que o hidrogénio representa para a Tabela Periódica. Reli o que foi escrito e penso que a minha linha de raciocínio ficou reproduzida na integral, o que significa que, à vizinhança das considerações finais, tenho poucas palavras a acrescentar aquilo que já foi apresentado por todos. Gostaria de sublinhar algumas ideias, mesmo assim. Conhecem o livro Tooth and Claw da Jo Walton? Lembrei-me dele porque acho que será um bom exemplo para servir de modelo ao que vou expor. Esperem só um bocadinho que vou buscá-lo à estante… Já está! Bem, eu não sei como está o tempo em Viana do Castelo, João, mas aqui está um calor tremendo. António, se está em Lisboa poderá comprová-lo. Talvez seja a nossa troca de ideias que se aproxima do boiling point!… Ui!… As nossas palavras estão prestes a transformar-se em vapor. Bom, eu disse que ia falar sobre o Tooth and Claw, não disse? Muito bem. Este livro é um romance vitoriano (sub-género realista que se debruça sobre as condições sociais dos indivíduos que viveram no século XVIII e cujo exemplo mais representativo serão as obras de Anthony Trollope) sobre uma sociedade estratificada revista BANG! [ 57 ]
em estratos rígidos. Todas as personagens têm de lutar com garras e dentes para ascender na pirâmide social e económica, pactuando com as situações mais aviltantes e permutando com as figuras mais abjectas. Não é um mundo fácil, acreditem!, em especial para as mulheres que, por serem… enfim… mulheres, são observadas como uns não-seres… Mas Tooth and Claw tem uma particularidade muitíssimo especial que o distingue, por exemplo, do título Framley Parsonage, escrito pelo já mencionado Trollope, no qual busca estrutura e inspiração. É que todas as personagens de Framley Parsonage são humanas, mas todas as personagens de Tooth and Claw são dragões!
«Os livros nunca serão perfeitos: terão sempre fantasia a mais ou fantasia a menos; serão mais comerciais ou pouco comerciais; alternativos ou mainstream» São todas répteis alados que vivem em cavernas e cospem fogo. E, no entanto, não deixam de estar incluídas num romance que emerge da leitura como sendo vitoriano no sentido mais tradicional; na verdade, as personagens draconianas até fortalecem a luta de garras e dentes travada — literalmente!… — ao longo da narrativa. Tooth and Claw não dá tréguas: é violentíssimo, demencial e psicadélico! Contudo, é tão… humano que se torna desarmante. Este livro ganhou um World Fantasy Award em 2004 e a minha primeira pergunta é a seguinte: é pelo facto das personagens serem dragões que este título pode ser considerado um livro de fantasia? Por outro lado, poder-se-ia atribuir um World Fantasy Award a Framley Parsonage? Não sei…Também existem preconceitos na área da Fantasia e do Fantástico… É público que depois de Neil Gaiman ter ganho um WFA com uma história em banda desenhada alguém mudou as regras para que tal coisa não voltasse a acontecer. Tooth and Claw é mesmo um exemplo excelente para partirmos as cabeças: 1) é um romance
vitoriano tradicional, mas 2) tem dragões como personagens e 3) tem, também, uma certa aura de — porque não dizê-lo à boca cheia? — imbecilidade que faz com que seja olhado de lado tanto pelos leitores de fantasia como pelos outros. Conseguem imaginar-me a falar bem deste romance a um leitor que odeie fantasia? “Meu, tens de ler isto! É um romance vitoriano maravilhoso. Só que tem — arrhuuum… — “dragões” como personagens!” Nem preciso dizer qual seria a reacção mais provável deste acto falhado de proselitismo. Agora pensem que o recomendo a um leitor de fantasia: “Meu, tens de ler isto! É um maravilhoso romance com dragões. Só que tem — arrhuuum… — um realista enredo vitoriano!” ‘Nuff said. A conclusão é que ambos os lados — aquele que prefere ler Literatura Erudita e aquele que gosta mais de Literatura Popular — são preconceituosos! Acho que existe tanto preconceito dentro da área do Fantástico como em qualquer outra área literária. É que alguma da Literatura Erudita que para aí anda… bem… é mesmo, mesmo boa!… E alguma da Literatura Popular que para aí anda é mesmo, mesmo má! Estou a lembrar-me do “idiota”, citado pelo João na primeira intervenção dele, que dizia no fórum Bad Books Don’t Exist que o 1984 nunca poderia ser considerado como um livro de ficção científica, e só me dá vontade de rir por um motivo que é flagrante: não é um pouco pateta (no mínimo) dizer mal de um livro num fórum que tem como nome Bad Books Don’t Exist? O que é que me escapou? Poderá ser um sintoma que, mesmo dentro do nicho, existe um sub-establishment? Ou parafraseando Orwell: há livros fantásticos mais fantásticos que outros? Os livros nunca serão perfeitos: terão sempre fantasia a mais ou fantasia a menos; serão mais comerciais ou pouco comerciais; alternativos ou mainstream; serão impressos em papel reciclado ou em papel couché; serão escritos por homens para chatear as feministas e por mulheres para chatear os misóginos; terão autores gay para chatear os homofóbicos — habituem-se!… Ainda bem que existem livros ou estaríamos condenados a ver as repetições da TV Cabo. O meu método de abordagem aos livros é o
seguinte: eu leio tudo o que me vier parar às mãos. Estou-me nas tintas se é Literatura Erudita ou Literatura Popular. É grosso, é fino? Não interessa. Se tiver letras e tiver páginas, eu leio. Gostava de partilhar convosco quatro belos excertos: dois de péssima Literatura Erudita e Popular e dois de excelente Literatura Erudita e Popular. Palavras para quê? Para ler, claro. «— Certo dia fui a um restaurante para trincar algo e alguém tinha deixado um jornal no balcão. Peguei nele e li-o. Foi quando descobri que tinha sido publicado um livro meu. — Ficaste surpreendido? — Não é essa a palavra que eu usaria. — Então o quê? — Não sei. Zangado, creio. Perturbado. — Não compreendo. — Fiquei zangado porque o livro era lixo. — Os escritores nunca sabem julgar o seu próprio trabalho. — Não, o livro era lixo, acredita em mim. Tudo o que fiz era lixo. — Porque não destruíste tudo, então? — Estava muito ligado àquilo. Mas não é isso que o torna bom. Um bebé está muito ligado à caca que faz, mas ninguém se rala com isso. É um assunto pessoal. — E porque razão obrigaste a Sophie a mostrar-me o teu trabalho? — Para a acalmar.» (Retirado de O Quarto Fechado da Trilogia de Nova Iorque de Paul Auster.) «The doorbell rang. It was a thirtyish woman, slender as Jane Fonda , a bit shorter than DeAnne. She had three kids in tow, the oldest a boy about Robbie’s age, and somehow — perhaps because of the kids, perhaps because of her practical cover-everything clothing, perhaps just because of her confident, cheerful face with hardly a speck of makeup on it — DeAnne knew that this revista BANG! [ 58 ]
woman was a Mormon. Or, if she wasn’t, should be.» (Retirado de Lost Boys de Orson Scott Card.) «Since I didn’t know what masturbation was, I of course didn’t know what ejaculate was. I thought it was pus. I thought it was phlegm. I didn’t know what to think, except that it was something terrible. In the presence of a species of discharge as yet mysterious to me, I imagined it was something that festered in a man’s body and then came spurting from his mouth when he was completely consumed by grief.» (Retirado de The Ploth Against America de Philip Roth.) «The orange in the sun loses colour, turns white and develops thick, deep wrinkles. It diminishes in size. Open the orange out and, taking one of the thick, wilted and creased segments, tear it in half. Inside, at its very centre, is a tiny piece of the orange that used to be — still fleshy, still clutching to a little juice. Were I to peel Emma, I think that somewhere deep within her, past all that thick seemingly dead cover, I might have found a little life, a little blood.» (Retirado de Observatory Mansions de Edward Carey.) Aguardo pelos vossos desenvolvimentos. João Seixas: À medida que nos vamos aproximando do final destas nossas (necessariamente) breves considerações, mais claro se torna o muito que fica por dizer. Relendo as nossas intervenções anteriores, apercebo-me que, talvez por (de)formação profissional, todos temos centrado a nossa atenção naquilo que se escreve e como se escreve, sem prestarmos grande atenção à forma como é recebido aquilo que se escreve. E, ao referir-me à recepção das obras escritas, revista BANG! [ 59 ]
quero referir-me essencialmente ao complexo processo de aceitação/rejeição-perpetuação/redescoberta em que são simultaneamente intervenientes leitores, editores, críticos e académicos. Ninguém põe em causa que cada autor tem uma sensibilidade própria — essencialmente pessoal — com a qual filtra os acontecimentos sobre que escreve. É essa diferença irredutível que ergue algumas obras acima de outras. E digo obras, não géneros. La Condition Humaine de Malraux, To a God Unknown de Steinbeck, Dying Inside de Robert Silverberg, The Body de Stephen King, V de Thomas Pynchon, The Silence of the Lambs de Thomas Harris, Pop. 1280 de Jim Thompson, Por Amor al Arte de Andreu Martín, The Devil’s Advocate de Morris West, The Gods Themselves de Isaac Asimov, The Song of Kali de Dan Simmons ou The Painted Bird de Jerzy Kozynski (entre milhares de outros títulos que poderia citar) são livros que, independentemente de pertencerem a um género popular ou erudito, independentemente de abraçarem ou não o fantástico, independentemente de um estilo de escrita mais ou menos conseguido, se elevam acima da média da literatura em geral, exclusivamente pela forma como o tema (quantas vezes banal) é tratado; veja-se, por exemplo, o caso de Jim Thompson, um hack writer, que escrevia um livro em coisa de semana e meia, quando não em quatro dias, e no entanto imbuía as suas narrativas — brutais, cruas, de uma escrita atabalhoada — de uma tal realidade que as faz transcender o próprio texto. E não será difícil encontrar exemplos de casos opostos, livros escritos de forma brilhante, mas que são como caixinhas de jóias vazias: o interior oco não acolhe nada de interessante e o deslumbramento com a forma esvai-se ao fim de poucas páginas; Paul Auster, Milan Kundera, Salman Rushdie escreveram alguns deles. Mais fácil ainda, encontrar exemplos de livros em que o vácuo de conteúdo e a ineptidão de forma são inseparáveis: qualquer coisa de Paulo Coelho, Inês Pedrosa, Pedro Paixão, Dan Brown ou Scott Wheeler, grande parte da obra de Lin Carter ou David Alan Prescott. Excluídos, porém, estes casos, encontramos aquela que é, sem dúvida a situação mais frequente em todos os géneros (mainstream incluído): livros
escritos de forma capaz, sem nada que os distinga a nível estilístico mas que arrebatam o leitor, de acordo com os seus interesses pessoais, durante as horas necessárias à sua leitura. São livros onde o estilo está subordinado à história, ao plot, e, se a história for bem contada, conseguem ser mais satisfatórios do que algumas das obras-primas que supra referi. São livros que não necessitam de retirar verdades essenciais da “experiência da vida”; não têm, do início ao fim, uma frase eminentemente citável ou um personagem que não seja facilmente esquecível. E no entanto… Ian Fleming, Isaac Asimov, Agatha Christie, Robert E. Howard, Ellery Queen, L. Ron Hubbard, A. E. Van Vogt, Clive Cussler, Richard Laymon, Dean Koontz, Kenneth Robeson, Edgar Rice Burroughs, Laurel K. Hamilton, Anne Rice, Lester Dent, H. Rider Haggard, John Buchan e tantos, tantos outros, tornaram-se imortais na memória daquele que é o leitor intemporal. São autores cujos livros são/serão lidos com o mesmo prazer e o mesmo agrado mesmo volvidos mais de cem anos sobre a sua publicação, mesmo que tenham de atravessar o deserto de alguns anos de esquecimento.
«Apenas os imbecis e os irrecuperavelmente relapsos procurarão na literatura uma perspectiva da realidade» Tal como o David disse numa das suas intervenções, e Leonard Cohen imortalizou numa das suas canções, “you live forever, when you’ve done a line or two”. Uma das experiências mais compensadoras que se pode viver é a de “descobrir” um novo livro ou um novo autor, mesmo que esse livro tenha sido publicado há dezenas de anos e o autor não seja referido em nenhuma História da Literatura. A maior parte das vezes, damos com livros desprovidos de artificialismos narrativos, onde as personagens são completamente despidas de vida interior, mas que nos agarram pelo mero incidente da acção. Terminada a sua leitura, não nos foram reveladas nenhumas das verdades da vida (seja lá isso o que for)
mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, parece que ficamos com os olhos muito mais abertos àquilo que nos rodeia. Talvez, como referia Gwyneth Jones no caso da FC, estes livros que pertencem à literatura menor consigam “traduzir” muito melhor as ansiedades do seu tempo do que as grandes catedrais estéticas jamesianas, vazias de fiéis, mergulhadas em silêncio, pó e presunção. Parece-me a suprema ironia que sejam estes autores (hacks, que escrevem a martelo, comerciais) e estas obras (aventurosas, fantasiosas, por vezes mal escritas) que muitas vezes logram aquele que é o objectivo manifesto da literatura erudita: mudar o mundo, congelar em si a essência de uma época, documentar a identidade da espécie humana. Que sejam elas, afinal, as que mais vezes abordam as tais “coisas mais profundas” e que mapeiem uma possível identidade comum da humanidade. As fraquezas que o establishment lhe aponta são afinal as suas mais-valias. Ao fim e ao cabo, é na história, na narrativa, no plot, que assenta a literatura. A estrutura típica de uma obra de género é como um ritual que codifica as expectativas de uma época, de uma classe social, de uma nação. Alterando-se o ritual, altera-se a sociedade (ou, mais frequentemente, reflecte-se essa alteração). A literatura erudita — interior, umbilical, individual — é apenas um reportório de casos clínicos (Freud dixit, antes do descrédito das suas teses que — outro paradoxo — sobrevivem apenas na academia que matou a literatura com o escalpelo saussuriano). Já ninguém lê Zola, mas Verne continua a ser um best-seller. James está encerrado nos currículos das universidades, Wells nas prateleiras das livrarias; de Orwell sobrevivem as obras fabulistas (1984 e Animal Farm), Asimov é reeditado quase todos os anos. “Swift’s Gulliver, Huxley’s Brave New World, Orwell’s Nineteen-Eighty Four are great works of literature because in them the oddities of alien worlds serve merely as a background or pretext for a social message. In other words, they are literature precisely to the extent to which they are not science fiction, to which they are works of disciplined imagination and not of unlimited fantasy”. Quem assim escreve, antecipando em 55 anos o idiota do BBDE, é Arthur revista BANG! [ 60 ]
Koestler, no seu ensaio “The Boredom of Fantasy” na Harper’s Bazaar de Agosto de 1953. A profunda falácia que encerra já foi bastas vezes denunciada ao longo dos anos. No entanto, a ideia está lá, escrita por uma das luminárias do Séxulo XX: a literatura — a verdadeira, a boa literatura, tem que possuir uma mensagem de carácter social. Ou, recuando ainda mais, numa linha ininterrupta de continuidade, podemos recorrer a William Dean Howells que no seu “Novel Writing and Novel Reading” (1899), erguia a verdade como sendo o teste definitivo da literatura: “(the novel is) the sincere and conscientious endeavour to Picture life as it is, to deal with character as we witness it in living people, and to record the incidents that grow out of character. (…) If I do not find it is like life, then it does not exist for me as art. It is ugly, it is ludicrous, it is impossible”. Fidelidade ao real e mensagem de carácter social. O que poderá ser mais espartilhante, mais redutor? Apenas a ideia que lhe está subjacente: a de que a Alta Literatura, a literatura erudita, trata essencialmente de temas universais, imutáveis ao longo da história e transversais à humanidade: ou seja, uma impossibilidade de facto. Com uma tal agenda, os autores encontram-se livres de restrições de forma ou estrutura: é a importância do tema, a dignidade do tratamento, a relevância social que servirão de escala de mérito. E, no entanto, já Kipling, com a sua desarmante simplicidade, escrevia que “no one in the world knew what truth was ‘till someone had told a story” (in A Book of Words, 1928). A literatura erudita, proselitista, moralizante, pretendendo traduzir a verdade do mundo e as verdades da vida, é um atavismo do dealbar da modernidade, daquele período em que os romances (e quão melhor é o termo anglo-saxónico novel) eram escritos exclusivamente por cavalheiros para os seus pares, independentemente de considerações quanto à sua popularidade ou capacidade comercial. Uma tal perspectiva, da Sra. Thornton, de Koestler, de Howells, deixa sempre fora da equação o leitor: a novela destina-se aqueles que pensam como nós, pregando apenas aos convertidos e fechando-se à própria experiência do real. Perante uma tal situação, as obras revista BANG! [ 61 ]
deixam de ser avaliadas pelo seu mérito intrínseco, mas pelos seus autores: recordo-me de uma das mais patéticas críticas literárias que li no suplemento Leituras do Público, em 11 de Setembro de 1999, onde até a mancha gráfica do texto dos Cães de Rui Nunes (a mancha gráfica, como sabemos, é alheia à vontade do autor) era tida como uma revelação; recordo-me de Inês Pedrosa (ou alguém semelhante, tão parecidos são todos eles) referindo que Lobo Antunes estaria a perder qualidades porque começara a publicar um romance por ano, à moda dos autores comerciais norte-americanos (como se fosse impossível publicar três bons livros num único ano, como já King fez, ou apenas um de oito em oito anos, como Harris, ou um na vida, como Lampedusa, ou vinte em dois anos, como Dick). A literatura erudita transforma-se assim numa tradição limitada, na perpetuação de um modelo (ele próprio assente nos clássicos, eles próprios assentes no acaso) congelado no tempo pela perpetuação da cotterie académica e crítica que o sustenta e que dele se sustenta, ela própria fechada à intrusão de novas vozes (veja-se, entre nós, como os autores mais jovens, para lhe acederem, têm que imitar de imediato as vozes vetustas que os precedem). A escrita transforma-se assim numa fantasia de inspiração, como se assentasse numa musa, ao invés de no trabalho árduo e diário dos autores debruçados sobre os seus teclados. Provavelmente, será o único refúgio do autor romântico que escreve possuído por um demónio interior, ao invés de pelo puro prazer de contar uma história. “A literatura é a voz da noite”, dizia Eduardo Prado Coelho, com a sua habitual banalidade. É tão a voz da noite, como do dia, como da manhã, como de uma tarde de sol ou de uma manhã de ressaca. A literatura é a voz de quem escreve por ter uma história para contar e que prefere uma audiência activa, que se imiscui na narrativa a aprecia a inteligência da trama, do que uma audiência passiva, que procura na literatura as suas verdades transcendentais. A transcendência, escreve Greg Egan (Schild’s Ladder, 2002) “was a content-free word left over from religion… It was probably an appealing notion if you were so lazy that you’d never actually learnt anything
about the universe you inhabited, and couldn’t quite conceive of putting in the effort to do so…”. Apenas os imbecis e os irrecuperavelmente relapsos procurarão na literatura uma perspectiva da realidade, uma fatia de revelação de como as coisas realmente são; os outros, procuramos na literatura entretenimento, inteligência, um mindfuck assoberbante que escancare os preconceitos e os valores arreigados, uma libertação das grilhetas morais, uma escapatória para os desejos mais recalcados, um upgrade da realidade, como o David muito bem disse e, como alguém que não me lembro, disse ainda melhor, “enquanto uns se contentam com o real, os outros querem corrigi-lo”. Forma ou conteúdo? História ou Desenvolvimento Interior? Realidade ou Fantasia? São falsas questões que dicotomizam a utensilagem de que a literatura dispõe para cumprir uma única e idêntica função: entretenimento inteligente. António de Macedo: Nas intervenções anteriores do João e do David foram focados alguns dos pontos essenciais deste nosso tema, e digo apenas «alguns» porque se virmos bem são inesgotáveis, o que não quer dizer que os tais «alguns» propostos e analisados pelos meus ilustres confreires não sejam de peso, e perfeitamente iluminadores de eventuais caminhos a seguir.
«Ora, este curioso (e corrosivo) preconceito continua a preponderar, mais ou menos disfarçadamente, em muitos círculos literários e artísticos que aspiram ao Prémio Nobel ou ao Museu Guggenheim» Na impossibilidade de comentar tudo, e até porque nesta fase do campeonato a maratona se aproxima da recta final, limitar-me-ei a escrevinhar algumas notas a propósito de um ou outro ponto que me permita divagar sobre estas fascinantes matérias — como diz o provérbio: a divagar se vai ao longe… Começo por pegar no comentário do João ao
referir-se à profunda falácia que é: «…a literatura — a verdadeira, a boa literatura, tem que possuir uma mensagem de carácter social. […] Fidelidade ao real e mensagem de carácter social. O que poderá ser mais espartilhante, mais redutor? Apenas a ideia que lhe está subjacente: a de que a Alta Literatura, a literatura erudita, trata essencialmente de temas universais, imutáveis ao longo da história e transversais à humanidade: ou seja, uma impossibilidade de facto». Estou inteiramente de acordo, e não posso deixar de me lembrar de um conhecido crítico literário e historiador de literatura, Harold Bloom, muito mal visto pelos actuais críticos neo-historicistas, descontruccionistas, sexistas dialógicos e outros pós-modernistas… Pois o bom do homem dizia coisas como estas, no seu livro The Western Canon (1994 — O Cânone Ocidental, na excelente tradução portuguesa de Manuel Frias Martins): «Ler os melhores dos melhores autores — digamos, Homero, Dante, Shakespeare, Tolstoi — não fará de nós melhores cidadãos. A arte é perfeitamente inútil, como disse o sublime Oscar Wilde, que tinha razão em tudo. Wilde também nos disse que toda a má poesia é sincera. Se eu pudesse, mandava gravar estas palavras na porta principal de todas as universidades». E, duas páginas mais adiante, interroga-se: «De onde veio a ideia de conceber uma obra que o mundo não deixasse deliberadamente morrer?» Parece que esta ideia da eternidade da fama literária terá começado a surgir e a tomar forma com o Renascimento, conceito aliás manhoso e escapadiço porque, tal como a preferência ou não-preferência pela «literatura de género», é coisa que tem tendência para variar de acordo com os tempos e as modas: Alastair Fowler, prof. de Literatura Inglesa na Univ. de Edimburgo, em Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes, afirma sem rodeios que «temos de admitir o facto de que a gama completa de géneros nunca está igualmente, para não dizer totalmente, disponível em todos os períodos. Cada época possui um reportório relativamente pequeno de géneros a que os seus leitores e críticos podem responder com entusiasmo, e o reportório que se encontra facilmente à disposição dos seus escritores é ainda mais pequeno: o cânone contemporâneo é firevista BANG! [ 62 ]
xado para todos excepto para os escritores maiores, ou mais fortes ou mais arcanos. Cada época faz novas rasuras no reportório. Num sentido fraco, talvez todos os géneros existam em todas as épocas sombriamente incorporados em excepções bizarras e fora do vulgar…» Por exemplo, no séc. XIX esteve muito em voga um género literário, o «romance de adultério» (Flaubert, Tolstoi, Balzac, etc.), que hoje nem merece o rótulo de género! É curioso que o David tocou neste ponto de uma maneira contundente como quem dá uma estocada de florete com um taco de baseball, e ainda por cima acerta em cheio! «É desanimador pensar que a Escrita é um campo com possibilidades tão vastas, mas que se encontra sempre espartilhado por convenções de mercado, acidentes de iliteracia e preconceitos patetas…» Sem dúvida! Não posso deixar de me lembrar, reprimindo dentro dos limites da decência as inevitáveis e convulsivas gargalhadas, do espartilho pateta, para não dizer colete de forças, que foi, durante séculos, para a literatura em geral e para o teatro em particular, a famosa Regra das Três Unidades, atribuída ao pobre do Aristóteles que ainda por cima não teve culpa nenhuma: um humanista iltaliano do séc. XVI, um tal Lodovico Castelvetro, lembrou-se de publicar um livro intitulado La Poetica di Aristotele vulgarizzata (1570), onde impingiu a ideia de que Aristóteles tinha imposto a exigência das três unidades dramáticas, de tempo, de lugar e de acção, e portanto um peça de teatro devia confinar-se a uma única e simples acção, decorrendo num único local, e não ultrapassando um único dia de duração. (Na verdade as observações de Aristóteles na Poética são mais descritivas do que prescritivas, e limitam-se apenas à unidade de intriga [plot], ou de acção). Todos nós mais ou menos conhecemos o estrago que aquele popularíssimo e erróneo livro de Castelvetro provocou na Europa culta: a absurda «Regra das Três Unidades» fez uma brilhante carreira e deu origem a polémicas e disputas críticas intermináveis, como por exemplo se um único dia significava 12 ou 24 horas, ou se um único local significaria uma sala, uma rua ou uma cidade. Esta curiosa tirania dominou sobretudo a França literária revista BANG! [ 63 ]
até ao séc. XIX, e os conceituados Corneille e Racine obedeceram-lhe cegamente! É claro que nada impede que tais espartilhos sejam utilizados em literatura como meros jogos, são os chamados «constrangimentos literários» com que se divertem certos autores e certos grémios: creio que um dos círculos mais notórios onde este tipo de fenómeno prospera é o OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), que conta (ou contou, alguns já faleceram) com nomes tão conhecidos como Georges Perec, Harry Matthews, Marcel Duchamp, Stanley Chapman, Italo Calvino, etc., e impõem-se tarefas tão entusiasmantes como por exemplo escrever um romance inteiro sem a letra «e» (La Disparition, de Georges Perec), ou escrever um romance em forma de puzzle ou ainda um conto ou uma novela em palíndromo, ou seja, tanto se lê de diante para trás como de trás para diante, como as frases «Socorram-me em Marrocos», «A diva em Argel alegra-me a vida», «Anotaram a data da maratona», etc. Podemos pensar que isto é um disparate e não tem nada a ver com «literatura a sério», mas se virmos bem, e como muito bem realçaram o David e o João com diversos exemplos e referências, os preconceitos com que a «crítica» examina os «objectos literários» acaba por ser, no limite, tão absurda e aberrante como coisas destas. No fundo, não passará tudo de mera convenção?! Bom, eu apesar de tudo creio que não. Há sempre um resíduo que não se deixa assimilar pela estupidificação da moda ou pela estreiteza da análise, por mais intelectuais e academizantes que estas sejam, e esse resíduo, felizmente, é a inesgotável capacidade da natureza humana de absorver «encantamento» onde ele realmente exista — como diz o João: «Forma ou conteúdo? História ou Desenvolvimento Interior? Realidade ou Fantasia? — São falsas questões que dicotomizam a utensilagem de que a literatura dispõe para cumprir uma única e idêntica função: entretenimento inteligente». [Realce da minha responsabilidade]. (E ainda podíamos acrescentar outras falsas
dicotomias, como plot versus character, ideias versus imagens, intelecto versus emoções, etc.). Se quisermos abranger todo este vasto universo do confronto entre o «género fantástico» e o mainstream numa outra forma de dicotomia para além destas que o João denuncia, eu talvez me atrevesse a sugerir que no fundo tudo se resume a uma questão de respeito ou não respeito pelas leis da Física (seja ela quântica ou mecânica clássica)! De uma forma geral — e se calhar em muitos casos inconscientemente — os críticos têm tendência para considerar que as matérias que constituem impossibilidades físicas não merecem acolhimento na Alta Literatura — dragões que deitam fogo pela boca ou espadas mágicas são impossíveis, logo não podem subir ao excelso pódio literário, tal como são impossíveis as viagens no tempo ou desviar planetas das suas órbitas. O que não exclui que os directamente implicados em FC&F não procurem distinguir entre as impossibilidades que a Ciência pode eventualmente tornar um dia possíveis (viagens no tempo ou desviar planetas das suas órbitas), e as impossibilidades que a Ciência (pelo menos em princípio) não está minimamente interessada em tornar possíveis (dragões que deitam fogo pela boca ou espadas mágicas). Talvez esteja aqui a mais elementar destrinça entre FC e Fantástico… De ambos os impossíveis, um pode constituir um interessante desafio para a Ciência, o outro não.
«Forma ou conteúdo? História ou Desenvolvimento Interior? Realidade ou Fantasia? — São falsas questões que dicotomizam a utensilagem de que a literatura dispõe para cumprir uma única e idêntica função: entretenimento inteligente» Já agora, e a propósito de Fantástico, não gostaria de terminar estas breves notas sem mencionar um aspecto que o David realçou, e bem, ao chamar a atenção para «as obras mais conhecidas do Renascimento, como as de Dante, Petrarca e Boc-
caccio — que, por mérito próprio, são obras de literatura fantástica, sublinhe-se. Para ser sincero, não encontro na literatura clássica nenhum desdém pela fantasia ou pelos elementos fantásticos». Isto é verdade, e o que é mais curioso é que estes autores — e outros, como Chaucer, Froissart, Malory… — a cavalo entre os sécs. XIII e XV, talvez por serem artistas imaginativos e de alto voo, tinham e propunham uma salutar ideia de fantasia, ao passo que nos meios filosóficos (imagine-se!), em paralelo e até bastante tarde, se manteve uma conservadora e arcaica ideia de fantasia, considerada uma actividade da mente que se identificava com a suspeitosa imaginação, visto que se opunha à realidade, tanto sensível como intelectual. Para os filósofos, a imaginação, sobretudo até ao século XVII, ainda era considerada «maîtresse d’erreur», segundo Blaise Pascal (1623-1662), e «la folle du logis», no dizer de Malebranche (1638-1715). Ambos seguiam neste particular as pegadas de Montaigne (1533-1592) que, falando daqueles «qui croient voir ce qu’ils ne voient point», considerava a imaginação não como um poder contemplativo e criativo do espírito, mas como aquilo que faz com que o erro e a desordem se instalem no mesmo espírito e o tumulto se apodere do corpo! Mas os filósofos bem-pensantes não desarmam, e não obstante terem começado finalmente a perceber a diferença, a partir do século XVIII, entre imaginação e fantasia, mesmo assim só condescenderam com a primeira, que passou a ser vista positivamente, como actividade criadora e instigadora de novas formas e novas ideias (imagination is image-in-action), mas perante a segunda não desarmaram, e a pobre da fantasia continuou a ser uma «imaginação desenfreada e caótica», em cujos meandros se perde quem queira correctamente lidar com o mundo e planear as suas directrizes de vida. Ora, este curioso (e corrosivo) preconceito continua a preponderar, mais ou menos disfarçadamente, em muitos círculos literários e artísticos que aspiram ao Prémio Nobel ou ao Museu Guggenheim… Mesmo depois das teorizações de Freud (as fantasias psicológicas podem constituir forças revista BANG! [ 64 ]
poderosas graças ao poder dos desejos recalcado) e sobretudo de Dilthey e de Benedetto Croce, em que a fantasia ascendeu ao estatuto estético e se transformou em «fantasia poética» tornando-se o fundamento da livre criação do artista — mesmo assim, dizia eu, mesmo depois das lucubrações destes ilustres pensadores, ainda hoje se mantém, pegajosamente, a ideia de que a literatura de fantasia é uma literatura menor — como se toda a literatura de ficção, realista ou não realista, mimética ou não mimética, não fosse afinal uma literatura de fantasia: por muito «autênticas» que possam parecer as personagens e as acções, a famosa e cautelosa advertência que costuma anteceder certas obras (literárias ou fílmicas), e que diz «qualquer semelhança com pessoas ou acontecimentos reais é pura coincidência», mais não é do que uma contrita confissão de que tudo aquilo não passa de fingição fantasiada!!! Bem, está na hora de concluir — tenho de pôr um travão em mim senão corro o risco de me entusiasmar e continuo por aí fora, o que não seria nada decente nem oportuno. Ainda bem que estas «tertúlias» se fazem, é uma maneira expedita de irmos aprendendo o que não há tempo de ler e absorver nos milhentos livros que tratam de todos estes (e outros!) excitantes assuntos, e agradeço ao David e ao João o prazer deste instrutivo e agradável convívio, e ao Luís a ideia de ter lançado o desafio. Ainda por cima um convívio sobre «géneros» donde, naturalmente, sobressai o «fantástico», que, em quanto género (ou subgénero?) literário/artístico parece causar tantos pruridos à crítica mainstrean, quando afinal o fantástico, sob a capa mágica do invisível (ainda que mal nos dêmos conta, por tão habituados), é algo que preenche as nossas vidas dum modo quase absorvente para não dizer sufocante — e nem sequer precisamos de fazer apelo ao invisível dos reinos sagrados, religiosos, míticos ou místicos, preponderantes em todos os tempos e em todas as culturas: basta-nos referir, por exemplo, o invisível psicológico dos sonhos, dos pressentimentos ou das coincidências inexplicáveis, bem como todo o supra-mundo dos arquétipos e do inconsciente corevista BANG! [ 65 ]
lectivo desvendado por Jung. Mas, se prestarmos bem atenção ao «mundo concreto» em que se engolfam as nossas vidinhas e as nossas actividades quotidianas, vemo-lo transpenetrado a cem por cento por um campo invisível de radiações — ou melhor, de interacções —, gravíticas, electromagnéticas e subatómicas que «governam» as nossas vidas e deixam a perder de vista os prodígios das histórias de fadas e de lendárias feitiçarias: a electricidade, as ondas de rádio, o telemóvel, a TV, os raios-X, o ciberespaço, a Internet, o comando a distância, a RV [Realidade Virtual], os infravermelhos, a ressonância magnética nuclear, as microondas, os efeitos quânticos, a aceleração de partículas de alta energia… O nosso universo, mais do que um lugar fantástico, é um misterioso lugar de «encantamento mágico», como já fazia notar Francis Bacon (1561-1626), barão de Verulam, chanceler de Inglaterra e filósofo, na sua famosa obra Novum Organum (1620): o universo e toda a sua estrutura, diz Bacon, é um verdadeiro labirinto para o intelecto humano que o contempla, um labirinto cheio de caminhos ambíguos e de aparências falaciosas de coisas e sinais, uma complexa teia de nós, espirais e contracurvas, além de que os nossos sentidos são enganadores e a mente humana é instável e repleta de ídolos: todo o conjunto se apresenta como visto através duma bola de cristal, simultaneamente deformante e encantada… BANG!
A revista Bang! agradece a António de Macedo, João Seixas e David Soares, o tempo e interesse que dedicaram a esta tertúlia. Que seja a primeira de muitas. Os três autores estão representados neste número da revista com outros textos, onde poderá consultar a biografia de cada um deles. BANG!
[tradução de João Barreiros]
[ficção]
Anel da Memória Alexander Jablokov Um conto delicioso e surpreendente, sobre um antigo desejo de vingança, múltiplas viagens no tempo, e as partidas que o mesmo prega aos incautos viajantes. Afinal, o tempo não cura tudo. SETEMBRO 1349 EC
M
al Hugo Salomon deu um passo em frente sobre a plataforma de chegada do Centro Temporal iluminada pelo sol, logo notou o baloiçar do convés de madeira por baixo dos pés. As montanhas e os brilhantes campos nevados das Rochosas tinham desaparecido, substuidos pela escuridão. Ficou ali, de pé, de braços caídos, sentindo os habituais instantes de náusea, as vagas de tontura provocadas pela Tempedrina, a droga que o fazia viajar no tempo. Focar-se no navio Dagmar de Lübeck, uma plataforma minúscula no meio do mar, a mil e quatrocentos anos no passado, não fora nada fácil, mas também ainda era demasiado cedo para se auto-vangloriar. Havia alguém a mexer no Tempo, e ele tinha de voltar as por as coisas em ordem. A brisa soprava fresca. A lua que cintilava sobre as águas límpidas do Báltico, transformava em carroça as velas lá no alto. Nuvens emergentes fervilhavam mesmo sob a Lua, anunciando uma mudança no tempo. Alguém soltou um gemido. À guisa de resposta o vento mudou e Salomon foi assolado por um fedor intenso a fezes e homens mortos. A garganta apertou-se-lhe. Recuou um passo e um dos pés foi pisar qualquer coisa mole. Deu-lhe um pontapé e o cadáver da ratazana deslizou por uma das secções do convés iluminadas pelo luar. Virou-se, e acabou por tropeçar em alguém que soltou um berro e lhe deitou a mão. Salomon
descobriu-se prisioneiro de um par de braços que mais pareciam aros de metal. Braços de marinheiro. Incapaz de pegar na espada, calcou o pé do marinheiro e foi recompensado com um berro de dor. Demasiado tarde. O marinheiro começou a gritar avisos em sueco e por toda a escuridão que havia em volta, ouviram-se gritos de resposta. Mãos rudes agarraram-no enquanto alguém acendia um archote. Os rostos dos homens em seu redor pareciam pálidos e adoentados, com o brilho da febre a arder-lhes nos olhos. Epidemia. Um deles virou-se, foi a tropeçar até à amurada, e vomitou bílis no mar. Depois deixou-se cair de joelhos e ali ficou, enroscado à volta da dor no estômago. Ninguém levantou um dedo para o ir ajudar. — Ó Hugh ! — disse uma voz num tom de plácida satisfação. — Caíste na esparrela. Aliás tinhas mesmo de cair. Com que então andamos a navegar na direcção errada ? Vieste ajudar a dar-nos a volta? É esse o trabalho de um Historiador Creditado ? — Andrew Tarquin deu um passo em frente. — Como tens andado ? Céus, — acrescentou, espantado. — Estás mesmo velho... Apesar dos dois terem estudado juntos, Salomon estava próximo da casa dos cinquenta, enquanto Tarkin, um tanto ou quanto gasto, com o cabelo ruivo a enfraquecer, não parecia ter mais do que trinta anos. Parou de avançar e ficou ali, a olhar para Solomon, com as mãos apoiadas na cintura. Solomon retribuiu-lhe o olhar. O passado tem por revista BANG! [ 66 ]
hábito devolver os seus fantasmas, mas as viagens no tempo fazem com que eles assumam uma forma material. Perguntou a si mesmo porque teria Tarkin decidido voltar à vida, vindo lá de que túmulo do passado onde costumava acoitar-se. Solomon era um homem alto, tinha uma cabeleira encaracolada, agora a ficar grizalha, com as bochechas enfiadas lá bem no fundo dos ossos da maxila. Tarkin, por seu lado, era ainda jovem, mas a sua juventude, se bem que vigorosa, tinha muitas desvantagens quando confrontada com anos e anos de experiência. Particularmente uma experiência como a de Salomon, que andava há trinta anos a vasculhar todos os segredos do Tempo. — O que queres tu de mim, Tarkin ? — perguntou-lhe entredentes. E inclinou-se em frente, como que a testar a força dos homens que o seguravam. Eram indivíduos franzinos, sujeitos às tremuras incontroláveis da febre, mas mesmo assim eram em número suficiente para o manterem seguro. — Vocês estão a ver este tipo ? — disse Tarkin, levantando a voz para se fazer ouvir pela tripulação. — Parece um homem, mas de facto é um demónio que apareceu entre nós vindo das profundezas do Inferno. Já queimou inocentes entre as chamas. Temos de destruí-lo. Salomon recordou-se uma vez mais do crepitar das chamas, enquanto a estalagem ardia com a Louisa fechada lá dentro. Perguntas bruxulearam como se fossem labaredas, mas ele esforçou-se por as conter. Antes de mais tinha de continuar vivo. O efeito deste discurso na tripulação teve o efeito oposto ao que Tarkin pretendia. Se a criatura que eles tinham capturado era de facto um demónio infernal, então ela podia arrastá-los a todos para a perdição. E dado que não partilhavam do ódio de Tarkin, relaxaram a presa. A luz das tochas tremeluziu no vento que se levantava, descobrindo as formas esquivas das ratazanas contra as zonas mais obscuras do navio. O convés estremeceu ao sabor da ondulação crescente. Tarkin aproximou-se ainda mais de Salomon. — Em tempos fomos bons amigos, — disse baixinho. E ao baixar o olhar, Salomon pôde revista BANG! [ 67 ]
ver o cintilar do anel de ouro no dedo, com fiapos brilhantes de esmeraldas no lugar dos olhos da serpente. Onde é que ele teria arranjado o raio do anel ? — Só vieste até aqui para te certificares que o barco e tripulação vão naufragar nas costas da Livonia e espalhar a peste Negra por todo o lado. Tal como em tempos fizeste os possíveis por garantir a morte de alguém que eu amava. E tudo isto para quê ? Para preservares a tua imagem da História ? Pelo sentido do dever de um Historiador Creditado ? — Por favor, Andy, — Salomon decidiu engolir o orgulho e fazer a pergunta inevitável: — Julgas realmente que eu causei a morte da Louisa ? É esse o teu problema ? Estas palavras quase imploradas soaram-lhe a amargo na boca. Mas um Historiador Creditado era capaz de tudo para chegar aos factos. — Grandecíssimo cabrão ! — gritou Tarkin, de súbito furioso. — Devíamos ter ardido os dois juntamente com ela. Para ti, trata-se do passado e estás a pensar numa coisa que já aconteceu. Lembras-te das nossas discussões sobre a imutabilidade do Tempo, quando andávamos a estudar, em Chicago ? Pois bem, nada mudou. Tu continuas a insistir em manter essa tal imutabilidade. E eu continuo a acreditar que nós nunca conseguiremos saber o que realmente aconteceu, mesmo se estivéssemos lá para ver... Por fim calou-se, como se estivesse à espera que Solomon se metesse numa daquelas discussões intelectuais sobre a natureza do fenómeno perceptivo. Nesse preciso instante, uma súbita rabanada de vento fez inclinar o navio. Viu-se o clarão coruscante de um relâmpago, logo seguido pelo trovão. Uma chuva intensa começou a cair acompanhada pelo sopro do vendaval. Tarkin gritou ordens à tripulação, ordenando-lhes que recolhessem as velas, amarrassem os panos e prendessem o leme. A tripulação obedeceu-lhe aos tropeções. Alguns dos homens que seguravam em Salomon foram ajudar os companheiros. Salomon torceu-se, enfiou o cotovelo nas costelas de um dos seus captores e conseguiu liber-
tar-se. Os homens estavam demasiado assustados para poderem reagir. Aproveitou para se lançar sobre Tarkin e arrastá-lo pelo convés. Lá no alto cintilavam relâmpagos e as vagas cobriam o navio de um lado ao outro. Tarkin enfiou a cunha da mão mesmo entre os olhos de Salomon, atirando-o para trás, no preciso instante em que o vento arrancou com estrondo o topo do mastro. Cordame desabou sobre os dois. Tarkin rebolou pelo convés fora, enquanto tentava dar-lhe pontapés com as botas. Salomon, por seu lado, tentava agarrar-se a uma delas, mas acabou por ser varrido pela força de uma vaga. A amargura da água salgada encheu-lhe as narinas e a boca. Julgou sufocar. Seguiu aos tombos pelo convés, até conseguir deitar as mãos à amurada. Percebeu que estava a escorregar. Não havia mais nada a fazer. Revirou os olhos, invocou o condicionamento e no instante seguinte, viu-se deitado na plataforma varrida pelo vento da Aerie do Centro Temporal, em plenos picos nevados das Rochosas Canadianas. Depois da escuridão da noite Báltica, o sol das montanhas quase cegava. — Que filho da puta ! — disse, e depois perdeu a consciência. JANEIRO 2097 EC
O
último posto da guarda era um velho urinol com o emblema solar e tricolor da Segunda Comuna pintado na parte de cima. A luz pálida de um braseiro bruxuleava no interior. Porém, quando os guardas emergiram para verificar os documentos de Hugh Salomon, também não pareciam estar mais aquecidos do que ele, depois de ter andado a escalar os píncaros gelados de Montmartre. As plumas da respiração dos guardas foram misturar-se com a neve que escorria do céu vazio e a noite que deslizava sobre Paris. — Com que então o encontro do costume com a congregação de gralhas e pardais? — disse um dos guardas, com o bigode e a barba a cintilarem, cobertos de geada. E esboçou um sorriso, revelando a falta de dentes. — Não vás à procura de
Deus. Ele já deixou aquele lugar, ou seja, se é que alguma vez lá esteve. Era preciso uma obstinação muito especial para sermos ateus numa era em que Deus estava obviamente morto. — Deixa de ser parvo ! — retorquiu Salomon num tom seco. O rosto do homem fisgou-se, e recuou um passo, devagarinho, com todo o cuidado. Salomon trazia consigo um laisse-passer dado pelo próprio Comité Central, ou seja, uma perfeita cópia forjada, de modo que só o facto de estar ali, oferecia respeito. O guarda balbuciou uma desculpa que Salomon ignorou por completo. O sargento da guarda, um indivíduo azedo, cheio de rugas, que parecia ter sido gordo em tempos que já lá vão, examinou atentamente todos os documentos, apesar de Salomon já ter passado por outros dois controlos antes de ali chegar. Era um daqueles tipos que se agarrava ao dever, embora esse dever já tivesse passado por três governos diferentes nestes últimos cinco anos. Agora as suas funções consistiam em guardar as vias de acesso a uma catedral abandonada. — Passe, — disse o guarda, quase contrafeito, devolvendo a Solomon os documentos falsificados. E ele lá seguiu, escalando a última parte da encosta, até às ruínas da catedral, com uma caixa embrulhada em papel de alumínio presa por um cordel a um dos dedos, como se estivesse a caminho de uma festa de anos. Os três guardas ficaram a vê-lo, perguntando a si mesmos para onde raio iria ele. A elegância esguia da catedral do Sacré-Coeur, de uma brancura de osso, desenhava-se contra o céu, como um fóssil imenso de um crustáceo abandonado pelos mares ancestrais. Dezoito anos antes tinha sido destruída pela onda de choque de uma bomba de fusão de cinco megatoneladas detonada próximo de Meaux. Os efeitos da explosão também tinham transformado as curvas indolentes do Marne num imenso lago tóxico. Uma das cúpulas laterais encontrava-se completamente desfeita. A cúpula principal mostrava uma fenda a todo o comprimento. Salomon imobilizou-se no topo dos degraus revista BANG! [ 68 ]
abaulados de mármore, sem muita vontade de mergulhar na escuridão que o esperava do outro lado das portas de bronze empenadas. Por baixo dele só se viam as chamas ocasionais de umas quantas fogueiras a marcarem aquilo que em tempos tinha sido a Cidade da Luz. Estes pontinhos brilhantes pouco faziam para combater o frio que grassava no topo da colina. Solomon sentiu-se cercado por séculos de rodopio de brumas oleosas, ou seja, pelo fumo da carne carbonizada. Esta era a época do Grande Esquecimento, quando as guerras nucleares tinham destruído a civilização humana e não era permitida a entrada a nenhum dos viajantes do tempo, dado que era aqui que se escondiam as raízes do Centro Temporal. O mundo fazia um tal rodopio, que Solomon foi obrigado a agarrar-se às portas para não cair. Sufocado, fez um esforço para respirar. Lembrou-se que, com a ajuda de Katsuro, tinham conseguido eliminar os bloqueios autonómicos dos nervos, mas a verdade é que existia ainda um outro nível de condicionamento bem mais profundo. — Entra, Hugh, — disse uma voz líquida e pulsante vinda do interior. Solomon não conseguiu perceber se se tratava de um homem ou de uma mulher. — Olha que ainda dás cabo de ti, — terminou a voz num risinho. Salomon passou por cima dos pedaços estilhaçados de mármore e penetrou na nave. A escuridão colou-se-lhe ao rosto como um sudário. Fazia mais calor no interior da igreja. Aliviado, percebeu que conseguia respirar de novo. — Vem por aqui. Vem ter com a mãezinha! — Ouviu-se uma raspadela seguido de um silvo e uma vela acendeu-se e começou a cintilar na outra extremidade da catedral. Uma mão lisa e gorducha, com os dedos coberto pelo brilho de vários anéis, segurava no fósforo. Lábios invisíveis sopraram, apagando-o. Solomon dirigiu-se devagarinho na direcção da vela, fazendo deslizar os pés sobre o pavimento irregular coberto de detritos. As formas obscuras das estátuas, os bancos empilhados e as cruzes que havia em volta, dançaram brevemente ao sabor da luz, desapareceram durante alguns momentos e depois voltaram a dançar. O ar cheirevista BANG! [ 69 ]
rava a pó e a humidade. Bílis queimou-lhe o fundo da garganta. Tinha-se esforçado ao máximo para chegar até aqui. Depois de ter conseguido deitar as mãos a doses extras e proibidas de Tempedrina, manufacturadas pelos laboratórios localizados na Alemanha do século XVI e Califórnia do século XX, encheu-se da droga quase até ao ponto de atingir um estado de psicose tóxica. Só assim poderia ultrapassar as barreiras impostas que o Centro Temporal tinha colocado em torno do Grande Esquecimento, subvertendo todos os condicionamentos psicológicos com a ajuda de um monge budista Zen do Japão do século XIII. Por fim, pediu a um gravador Holandês que lhe forjasse o resto dos documentos. Havia coisas em que nem um Historiador Creditado podia meter o bedelho. Agora esperava que todo este trabalho tivesse valido a pena. Quando a figura que permanecia sentada à sua frente se tornou mais nítida, Solomon parou mesmo à beira do círculo de luz projectado pela vela e respirou fundo. Sentia a cabeça tão pesada e tosca como a própria catedral. — Se você é quem pretende ser, — disse, cauteloso, a remoer todas as palavras, — já sabe qual é a pergunta que eu vim aqui fazer. E caso não seja, acho que nem sequer vale a pena fazê-la. A lógica era como uma erva quebrada que de tanto raspar havia de furar-lhe a mão, mas a verdade é que não tinha mais nada em que se apoiar. A voz riu-se: — Não tenho pretensões a coisa nenhuma, Hugh. Talvez a resposta já esteja dentro da tua cabeça, e tu tiveste todo este trabalho para nada. Mas vá lá, vá lá, não há razões para teres medo. Pelo menos aqui. E agora. — soltou mais um risinho — Foi para isso que vieste, Hugh ? A pergunta é banal, fácil de responder. Queres saber a hora e o lugar da tua morte ? Solomon gelou durante alguns segundos, com a respiração ofegante. Se ela era aquilo que as histórias contavam, podia mesmo dizer-lhe isso, com toda a exactidão. Como um homem à beira de um precipício, a pensar no que lhe aconteceria se saltasse, sentiu-se atraído, mesmo sem querer. Ha-
via de ficar a saber tudo, sem que restasse nenhuma dúvida quanto ao seu destino. — Não ! — a palavra foi-lhe arrancada à garganta. Inclinou-se sobre a mulher, mergulhando na luz que brotava da vela, com as mãos feitas garras. — Se tentares dizer qualquer coisa, eu... — Tu o quê, Hugh ? Não sejas parvinho. Se sei quando é que tu vais morrer, também hei-de saber quando é que eu morro. E não será esta noite, Hugh, podes crer. E como tu também não vais morrer esta noite, não te vou dizer mais nada. E agora, não queres conversar? Moira Moffette era uma mulher horrorosamente gorda, alapardada sobre aquilo que em tempos fora o trono de um bispo. A luz da vela fulgia sobre os brocados peçonhentos da túnica e sobre o anel perdido no meio das pregas de carne dos dedos. Um par de pezinhos enfiados em pantufas debruadas, emergiam do fundo do fato, pendurados no ar. O rosto era liso e bolachudo. Pestanas compridas e lustrosas escondiam-lhe os olhos cegos. Sorriu-lhe, pondo à mostra os dentes estragados e disformes: — Correspondo à descrição, Hugh ? Faço votos que não estivesses à espera de encontrar uma beleza. A história é uma ferida purulenta, e os vermes que se alimentam dela nunca foram bonitos. Isso chateia-te, irmão verme ? Deixa lá. Conta-me o que vieste aqui fazer... — O pedido foi feito num tom de criança ansiosa. Salomon abriu o pacote, com o papel de alumínio a restolhar no meio de cintilações. — Uma Sachertorte. Do Konditorei Demel, Viena, 1889, EC. Tinha passado por lá para tomar um café, no interior feito de mogno e cristal, e depois dado uma volta em pleno calor primaveril, no meio das senhoras com guarda-sóis e cavalheiros de cartolas, todos eles com os rostos tão límpidos e puros como o céu. Abriu a caixa e o ar bafiento encheu-se com o perfume rico dos chocolates vienenses. — OOOH ! — guinchou Moffette. — Hugh, meu lindo ! Dá cá, dá cá. Oh ! Oh! Com conserva de alperce entre as camadas. Que maravilha! — Agarrou-se ao bolo com ambas as mãos, espar-
rinhando a cobertura por todos os lados, depois deu-lhe uma dentada e começou a mastigar com as bochechas cheias e os olhos revirados de prazer. Os cabelos baços e sujos pendiam-lhe à volta do rosto. Tal como certos homens santos e vários místicos ao longo da história, a glândula pineal dela tinha a capacidade de sintetizar um químico semelhante à Tempedrina. De modo a conseguir fazer isso, precisava apenas de um precursor químico — Theobroma, o Alimento dos Deuses, ou seja, o chocolate. Sob a sua influência, as voltas e as torções do Tempo tornavam-se-lhe visíveis. Quem realmente ela era e o modo como tinha vindo aqui parar, a estas ruínas do Sacré-Coeur século XXI, ninguém sabia ao certo, embora Salomon andasse desde há muito a recolher todos os boatos e rumores que lhe dissessem respeito. Podia ter sido uma Druida, uma feiticeira, uma Sacerdotisa da Magna Mater, uma deusa da fertilidade Neanderthal, uma dona de casa viciada em chocolate com uma fisiologia anómala, ou mera distorção dos sentidos provocada por uma overdose de Tempedrina. — Então conta lá, Hugh ! O que é que me querias perguntar ? Solomon fez uma pausa, indeciso: — Desejo encontrar Andrew Tarkin. A mulher soltou uma exclamação, meio engasgada. Os olhos cegos esbugalharam-se. — Ai, ai... Mas ele está em todo o lado...Cruza-se a si mesmo vezes e vezes sem conta. Como é possível que nunca o tenhas encontrado? Afinal, Hugh, tu também estás em muitos lugares ao mesmo tempo. — Depois começou a rir-se, cuspinhando pedacinhos semi mastigados de bolo por todos os lados. — Vingança, já percebi tudo. Trata-se de uma questão de vingança pessoal. Tu sempre tiveste muita piada, Hugh ! — Nunca me viste antes ! — replicou Solomon. — Mas a verdade é que sempre tiveste piada, não é, mesmo que eu nunca te tenha encontrado ? Estás a raciocinar abaixo das tuas capacidades, Hugh. Pergunto a mim mesma porque te deste ao trabalho de viajar até tão longe só para tratares de uma questão pessoal perfeitamente parva. revista BANG! [ 70 ]
— Não é pessoal. O filho da mãe tentou matar-me. — Mas não há nada mais pessoal do que isso, não concordas comigo, Hugh ? — Ele anda a tentar deformar o Tempo e pode dar cabo de nós todos. Será que não percebes isso ? — Nunca ter nascido não significa o mesmo que morrer, Hugh. — Deixa-te de brincadeiras, — insistiu Salomon. — Comeste o bolo, agora vê lá se respondes à minha pergunta ! — A Menina Moffette estava muito bem sentada no seu Tophet — cantarolou a mulher numa voz infantil. — Escuta o que ela vai dizer e reza. — Soltou uma risadinha. — Gostaste ? Fui eu que inventei. Quem me dera conseguir terminá-lo. Pois bem, Hugh. Queres saber onde pára o Andy Tarkin? Ou pelo menos julgas que queres encontrá-lo. À tua vontade. — De súbito revirou os olhos e começou a tremer. A respiração soava ofegante e a boca emitiu um som parecido com o ganir de um cão. Ao fim de alguns minutos a respiração tornou-se mais regular. — Chicago, Hugh. Na Levee, já ouviste falar ? Doze de Junho de 1902. Um barzito, um entre centenas, chamado Lone Star Saloon e Palm Garden. Depois da uma da manhã numa das mesas do fundo. Ele vai estar a beber aquilo a que se chama bourbon, mas que afinal não é. — A mulher inclinou-se para trás e cerrou os olhos, obviamente cansada. — Mas, — disse Solomon — mas... A Levee... foi onde... Moira voltou a abrir os olhos, furiosa: — Sei muito bem onde isso é, Hugh. Considera a situação como a semana do regresso a casa. Também sei onde ela está, a nossa querida Louisa. Sem esquecer onde se encontra o jovem Hugh Solomon. Deves ter sido um rapaz giro, Hugh. Um Historiador Creditado ainda jovem. Andy Tarkin está lá. Não o jovem Tarkin, aquele que foi amigo do jovem Hugh. Nem sequer aquele, um pouco mais velho, que tentou afogar-te no Báltico. É aquele que precisas de encontrar, Hugh. É uma distância muito grande para irmos à procura de um velho amigo, revista BANG! [ 71 ]
Hugh. Foi essa a pergunta e esta foi a resposta. Solomon começou a tremer, de súbito enregelado. Fazia mesmo frio, nesta porcaria de catedral. Como é que ela conseguia suportar isto, ali sentada, só a comer chocolates? Mas Deus do Céu, Chicago? Outra vez não... — Agora desaparece, Hugh. Já estou farta de te aturar. Se fosses esperto, voltavas para o Centro Temporal e passavas uma esponja por tudo isto. As pessoas estão sempre a tentar matar-nos. Temos de aprender a não levar as coisas tanto a peito. Olha, boa noite ! Moira apagou a vela com um sopro e deixou Solomon a encontrar o caminho de saída em plena escuridão. JULHO 1902 EC
A
pesar de já ter passado da meia-noite, as ruas continuavam apinhadas de gente. A Levee espalhava-se à volta de Solomon como uma rameira que tivesse acabado de ganhar o suficiente para poder enfim cair de bêbada. Apesar de ser o mais vasto distrito aberto ao vício dos Estados Unidos da América, afinal não continha mais do que uns quantos quarteirões na zona sul de Chicago, juntamente com tascas, salas de dança, antros de jogo, poços para combates de cães e lojas de penhores. Era também o sítio que os evangelistas mais gostavam de visitar. Salomon deslocava-se com rapidez pelo meio das ruas devidamente iluminadas a gás, sem olhar em volta, com receio de encontrar uma cópia mais jovem do que ele. Este aspecto furtivo era coisa habitual na Levee, de modo que ninguém lhe prestou atenção. Gargalhadas etilisadas chegaram-lhe aos ouvidos vindas de uma janela aberta num prédio de três andares. Passou perto de um negro com um coco maior do que a cabeça, que logo lhe quis vender “uns pózinhos para rir”. Salomon esforçou-se por resistir à tentação de parar ali, durante alguns momentos e negociar com ele. Às vezes era demasiado fácil adaptarmo-nos à época em que estávamos. A Tempedrina reduzia a mente humana a uma identificação com um tempo que
não era o nosso. Salomon empurrou as portas duplas do Lone Star e Palm Garden Saloon. Fazia escuro no interior, uma escuridão fumarenta e cheia de ruídos. Salomon atravessou a sala, passou no meio de bocas escancaradas a rir, onde era possível verem-se vários dentes de ouro, cruzou mulheres cujos rostos pareciam transformados em máscaras pintadas de palhaços, fixas num esgar de falsa alegria, rumo a uma figura alapardada sobre uma mesa do fundo. Deu uma pancada seca, com o cotovelo, por detrás da orelha esquerda de Tarkin, de modo a insensibilizar os centros responsáveis pelas viagens no tempo enquanto lhe picava o rabo com uma agulha que trazia amarrada ao joelho direito. Foi tudo tão rápido que ninguém no bar se deu conta de nada. Tarkin virou-se com um brilho vítreo nos olhos. Ainda conseguiu mostrar uma expressão de ódio, embora já mal pudesse controlar os músculos do rosto. — Tu outra vez ? Nunca mais aprendes, pois não ? Salomon observou-o, horrorizado, porque este homem era bem mais velho do que ele. Quase não se parecia com o jovem que o tinha capturado no Dagmar de Lübeck. O cabelo de Tarkin, que em tempos era ruivo, estava todo branco e desgrenhado. Salomon apertou-lhe brutalmente a mão. Apesar da droga, Tarkin esboçou uma careta de dor. — Onde é que foste arranjar isto, Andy ? — O anel no dedo de Tarkin tornou-se num foco conveniente para a sua raiva. Tarkin esboçou um sorriso débil mas triunfante: — Nem queiras saber. Acredita em mim, olha que não queres mesmo. — Estou farto de aturar pessoas a dizerem-me aquilo que eu não quero saber, — comentou Solomon, enquanto injectava Tempedrina na artéria carótida de Tarkin juntamente com um inibidor sináptico, de modo a diminuir a inércia temporal. Já era difícil arrastarmos uma pessoa através do Tempo, quanto mais se ela não estivesse devidamente condicionada. A mente humana, o único
instrumento capaz de viajar no Tempo, tendia a permanecer na sua época de origem. Partiram juntos, como dois velhos amigos, Solomon a rir e a cantarolar, Tarkin meio aparvalhado, aos tropeções. — Bebeste demais, Billy, — disse Salomon, para que os utentes do bar o ouvissem, mas ninguém lhe prestou atenção. — Já te expliquei, mas tu não ligaste nenhuma... é tempo de voltarmos para casa... — Tempo... — disse Tarkin. — Tempo... A viela nas traseiras era um bom local de partida. Havia uns quantos corpos caídos em redor, bêbados ou drogados, tão importantes para o caso, como os candeeiros e os gatos, que ainda não tinham parado de reclamar. Salomon poisou Tarkin no chão. — Co... mo vai o nosso marinheiro ? — disse Tarkin, com a voz entaramelada. — Fica sabendo que desisti de tentar matar-te depois do caso do Dagmar. Dei-me conta que haverias de vir ter comigo, contas feitas. E estava cheio de razão. — Depois deixou pender a cabeça sobre os tijolos do beco com um som cavo. Salomon examinou-lhe o crânio. Partido não estava, mas havia de ter ali um galo enorme, no dia seguinte. Como é que raio se dizia “galo” em Russo ? Custava-lhe a aceder aos termos correctos, mas a verdade é que, dentro em breve, não ia conseguir pensar ou falar doutra maneira. Ah, sim, Shishka. Do mal o menos. — Agora vamos lá a saber certas coisas... — disse Solomon. Murmurou as palavras de libertação e o beco ficou vazio. FEVEREIRO 1930 EC
O
Coronel Fedoseyev inclinou-se sobre a cadeira, com o queixo apoiado nas mãos, e pôs-se a olhar com todo o desprezo de que era capaz, para o prisioneiro Shishkin. Estávamos no quarto dia do interrogatório, mas já se sentia cansado até aos ossos. Devia ser da idade, de certeza. Em tempos que já lá vão, conseguia trabalhar numa cadeia de produção quase sem a ajuda de ninguém, e agora revista BANG! [ 72 ]
olhem-me só para ele. Tinha os olhos ramelosos e cada respiração exigia um esforço considerável: raios partam isto, e ainda por cima não era ele quem estava sentado num banco desconfortável de madeira, colocado no meio da sala. A jarra de cristal, cuidadosamente polida, encheu o ar de múltiplos reflexos quando Fedoseyev a inclinou para encher um copo de água. Não é que tivesse sede, mas o prisioneiro, alimentado à base de comida salgada e privado de água, devia tê-la, de certeza absoluta. Mas será que ele percebia o que estava a passar-se? Fedoseyev esforçou-se por engolir o líquido tépido e desenxabido, como se estivesse muito satisfeito, enquanto dava estalinhos com os lábios. Sentia-se inchado. Só lhe apetecia deitar-se e dormir durante um bom milhar de anos. Água escorregou pela borda do copo e foi provocar uma nova mancha escura no tampo verde da secretária, avivando a cor da cobertura em tonalidades douradas. A verdade é que o Estado Soviético precisava mesmo de ouro. —Vamos lá começar outra vez, certo? — disse Fedoseyev num tom pesado. — Quero que me digas o nome do joalheiro e onde é que ele se encontra presentemente. depois disso vais poder beber a água que te apetecer. E dormir. — Ah, dormir ! — Mas não voltes a contar-me essas tretas das Mil e Uma Noites. Olha que eu não sou parvo! Shishkin parecia não ter escutado nada. Que parasita ! Reparem só naquele tipo, ali sentado, a debitar disparates ! Fedoseyev tinha ouvido rumores que havia gente a recolher moeda estrangeira, graças à venda dos Rembrants do Hermitage aos milionários do Ocidente. Capital que os Sovietes necessitavam em desespero de causa. E esses filhos da mãe, que pareciam estar em todo o lado, não faziam outra coisa senão arrebanharem o tal ouro. O boato tinha vindo da polícia secreta, a OGPU: agarrem tudo o que puderem! Apanhem o ouro! Espremam-nos! Façam-nos suar as estopinhas! Atentem às necessidades da Nação! E foi por causa disso que Shishkin, com os cabelos brancos espalhados em todas as direcções, estava agora sentado, todo encolhido, na sala dos interrogatórios, como um insecto pálido, a dar cabo da cabeça ao Fedorevista BANG! [ 73 ]
seyev enquanto lhe ia contando tudo aquilo que ele queria saber. Fedoseyev empurrou a cadeira para trás, levantou-se e deu a volta à secretária. Os tacões das botas clicaram contra os ladrilhos do pavimento, agora todos riscados. A sala fizera em tempos parte do Directório dos Teixteis. Quadrângulos de um azul mais escuro, recortados nos padrões do papel das paredes, mostravam os lugares onde antes estavam penduradas as tapeçarias. Querubins de gesso, poeirentos e lascados, sopravam trombetas nos cantos do tecto alto. O bofetão acertou em cheio, sem aviso prévio. A cabeça do prisioneiro saltou para o lado fazendo-o estremecer. O ruído do estalo encheu a sala de ecos antes de se desvanecer. O Capitão Salomonov, sentado em silêncio na sua secretária provida de caneta, tinteiro e caderno de apontamentos, levantou a cabeça daquilo que estava a escrever, com o rosto esguio cuidadosamente inexpressivo. Havia um poucochinho de sangue no canto da boca do prisioneiro. Uma gota, apenas. Fedoseyev agachou-se, enorme como um urso, pegou na mão do prisioneiro e olhou-o nos olhos. Shishkin devolveu-lhe o olhar, fixamente, como um estrangeiro a ver um jogo desconhecido sem perceber de todo as regras que o governavam. — O ouro não é como a águia, um animal solitário. — O rosto de Shishkin transformou-se num esgar, à medida que Fedoseyev lhe ia torcendo a mão. — Nada disso. O ouro faz parte de um rebanho. Tal qual as vacas. E os carneiros. Estamos entendidos ? — Mais outra torcedela. — Onde é que param as irmãzinhas desta peça ? E onde é que está o Pastor ? — O anel no dedo do prisioneiro cintilou à guisa de resposta. Contrafeito, Fedoseyev ficou a observá-lo durante alguns instantes. O anel tinha a forma de uma serpente a morder a cauda, com o brilho intricado das escamas a sugerir um certo toque oriental. Os olhos eram jóias verdes. Não admira que o prisioneiro tivesse inventado histórias tão disparatadas. Mas a verdade é que o anel era mesmo feito de ouro, puro e denso, não devia ter mais do que uns doze anos, embora parecesse ligeiramente der-
retido, como se entretanto tivesse passado por um fogo intenso. O corpo de Shishkin começou a estremecer entre dois soluços: — Já expliquei tudo, — suspirou, num russo meio tosco. — O anel foi feito por encomenda, para oferecer a alguém que eu amava. Há muito tempo... na... na... — Maravilhosa Arábia ? — roncou Fedoseyev — Miserável ! Fica sabendo que eu estou farto das tuas histórias da treta ! — Depois virou-lhe as costas e ficou a olhar através da janela, enquanto passava a mão pelo crânio rapado. As torres do Kremelin agigantavam-se à esquerda, contra o céu que escurecia. Decentes estrelas vermelhas tinham ainda há bem pouco tempo substituído as águias bicéfalas que continuaram a sobrepor-se-lhes durante os doze anos que se seguiram à Revolução. Mas que raio estava errado nesta história ? Era óbvio que o tipo estava mesmo desfeito. De boa vontade debitava todos os pormenores, descrevia detalhadamente o aspecto do joalheiro, os seus hábitos, o lugar onde trabalhava. Se tivesse sido a mãe dele a fazer o anel, Shishkin já a teria denunciado há muito tempo. Porque seria então, que tudo quanto ele contava, parecia perfeitamente disparatado ? O anel era verdadeiro. E por consequência, se Fedoseyev fizesse uso das quase esquecidas operações lógicas que tinha aprendido na escola e que estava certo de ainda poderem ser aplicadas, o joalheiro também devia ser real. Mas a verdade é que o tipo se limitava a vender brincos às mulheres dos membros do Partido, vivia numa cidadezinha bem comportada da Ásia Central Soviética e nunca tinha posto os pés em Bagdade, ou Aleppo, ou fosse lá onde fosse. Fedoseyev não achava graça nenhuma interrogar lunáticos. Franziu o sobrolho na direcção de Solomonov, que permanecia sentado, muito atento, com a caneta suspensa sobre o livro de apontamentos. Tinha sido o próprio Solomonov quem trouxera o prisioneiro, como se estivesse especialmente interessado neste caso particular, sempre a tomar nota de todos os delírios debitados pelo prisioneiro. Devia tratar-se de uma questão pessoal, pensou Fedo-
seyev, com origem lá na aldeia onde os dois tinham nascido, ou mesmo durante os tempos passados no Liceu. Esta era uma situação ideal para um oficial da OGPU, bem colocado, se poder vingar de velhas desavenças. Subitamente irritado, Fedoseyev inclinou-se, torceu o braço do prisioneiro por detrás das costas e puxou-lhe pelo anel. A jóia escorregou do dedo com surpreendente facilidade. Shishkin deixou-se ficar dobrado sobre a barriga, ainda sentado no banco, a olhar para coisa nenhuma. — As caravanas saem de Aleppo durante o Inverno, — disse Shishkin — Eu vi a... mesquita de Jani Zakariyah a brilhar em tons de azul... O homem de Bukhara fez-lhe um anel do mais puro ouro...Gostava tanto dela... julguei que a tinha queimado, ele que dizia ser meu amigo... guardei-o durante todos estes anos... Shishkin já tinha atingido aquele ponto no qual a palavra “interrogatório” deixava de ter sentido. Por seu lado, Fedoseyev perdeu todo o interesse em continuar com toda esta treta. Afinal, estávamos em 1930. Fedoseyev e os seus esbirros ainda se encontravam a mergulhar, centímetro a centímetro, no estado de selvajaria, como um homem que se afunda aos poucos numa banheira de água quente. Dentro de dez anos, pruridos como este haveriam de parecer ingénuos. Por essa altura Fedoseyev ficaria a saber que todos os interrogatórios não passavam de sessões de tortura, do princípio ao fim, e que os resultados obtidos seriam apenas considerados como um efeito colateral de pouca importância. Mas dentro de dez anos, Fedoseyev já estaria enterrado nos campos dourados da Kolyma, morto de frio, depois de ele próprio ter sido capturado e interrogado. Deu umas palmadinhas nas costas de Shishkin: — No outro dia esteve aqui uma gaja, — comentou em confidência. — Uma menina do campo, a armar-se aos cucos. Aguentou durante um dia e meio, e depois despejou tudo. Miúda esperta. Escondeu aquilo nas partes privadas. Bem lá no fundo. Que grande porcaria. É isto o capitalismo. Duzentos rublos falsificados, feitos de bronze com revista BANG! [ 74 ]
uma película de ouro. Devias tê-la visto a vociferar: “Parasitas! Parasitas! Vocês tinham razão em dar cabo deles!”. Fedoseyev soltou uma risadinha ao lembrar-se do sucedido e depois parou de repente. Foi sentar-se à secretária, puxou de uma folha de papel e assinou-a. Sem mais uma palavra empurrou a folha na direcção de Shishkin que, depois de alguns instantes de perplexidade, também a assinou. E foi assim que o prisioneiro Shishkin se descobriu condenado a dez anos num Goulag, sob a Secção 10: Agitação anti-Soviética. Fedoseyev atirou o anel ao ar. Este subiu a rodopiar e a cintilar antes de voltar a desaparecer-lhe na mão imensa. Já estava mais que farto desta treta toda. Era um indivíduo brutal mas não aquisitivo, mostrando selectividade tanto nos vícios como nas virtudes. Por isso lançou o anel na direcção de Solomonov que, surpreendido, o agarrou meio atrapalhado. — Leva-o lá para baixo, — disse Fedoseyev. — Segue no próximo transporte. Depois pôs-se a olhar através da janela. Nessa tarde, a neve começava já a escorregar do céu e os telhados que mal se conseguiam ver sob a janela, estavam cobertos por um manto de brancura. Salomonov fez uma continência ao coronel da OGPU — que não ligou nenhuma a este acesso de precisão militar — e conduziu Andy Tarkin para fora da sala. Atravessaram corredores intermináveis, ladeados por portas que conduziam a celas e outras salas de interrogatórios. Solomonov assobiava sem jeito nenhum, esforçando-se por ignorar a presença do prisioneiro, este típico parasita anti-soviético. Era bom trazer aos ombros as insígnias da OGPU, ver o respeito que lhe prestavam os outros oficiais do Exército Vermelho, e o ar de susto nos rostos dos Professores Catedráticos da Universidade de Moscovo. Era bom, finalmente, receber um pouco do respeito que lhe era devido... mas que raio de coisas estava ele a pensar? Solomonov... ou melhor, Solomon, olhou de esguelha para o rosto inexpressivo de Tarkin e esforçou-se por controlar o que lhe ia na cabeça. Lembrou-se do interrogatório que já durava há três dias, perguntado a si mesmo quem revista BANG! [ 75 ]
seria o próximo criminoso — não, que raio, afinal ele estava de partida, não ia ficar o resto da vida aqui, na Moscovo dos anos 30. Contava seguir para Aleppo, rumo àquela época revelada pelo interrogatório. Talvez quando lá chegasse, conseguisse pôr as ideias em ordem. Demasiada Tempedrina fazia mal à saúde. Fazia mesmo. Levou Tarkin escadas abaixo, passando por cima dos grampos de bronze que se esforçavam por prender uma alcatifa há muito desaparecida e entregou-o ao tenente sentado à secretária, juntamente com toda a papelada onde estava lavrada a sentença. E ali o deixou, para ser absorvido no império dos campos de trabalhos forçados. Duvidava que o idoso Shishkin conseguisse sobreviver mais do que um ano da sentença de dez. Terminado o serviço, Solomon atravessou o átrio pavilhado a mármore, dobrou uma esquina e desapareceu de vista. Quanto ao tenente, entreteu-se a preencher a respectiva papelada. O prisioneiro Shishkin foi enviado para uma cela na prisão de Butyrki. Depois de passar um mês enfiado numa cela juntamente com mais quarenta prisioneiros, levaram-no, certa noite, numa Maria Negra, para a Prisão de trânsito das Portas de Kaluga situada nos arredores de Moscovo. Duas semanas depois enfiaram-no num comboio que seguia na direcção do Leste, rumo ao seu eventual destino, a Sovetskaya Gavan, na outra extremidade da União Soviética. A viagem haveria de durar vários meses. Durante uma semana e meia o comboio ficou imobilizado num desvio perto de Irkutsk. Quando por fim puderam pôr-se outra vez em marcha e os guardas arrebanharam todos os prisioneiros, de modo a poderem recolher os corpos daqueles que entretanto tinham ficado gelados no interior dos vagões não aquecidos, não conseguiram encontrar traço do prisioneiro Shishkin. Espancaram os restantes, mas a verdade é que ninguém se lembrava da cara de Shishkin. Os guardas reuniram-se, combinaram o que tinham a combinar, e o prisioneiro Shishkin desapareceu para sempre de todos os registos tal como tinha conseguido desaparecer do interior do vagão e deste momento da História.
NOVEMBRO 949 EC
—E
stica a minha alma, ó meu Deus, — murmurava Abdullah Ibn-Umar com os seus botões, enquanto passava o fio de ouro pelo orifício na placa de ferro, reduzindo-lhe ainda mais o diâmetro. — até que eu tenha um comprimento infinito e uma espessura de nada... O fio era agora tão fino quanto um talo de erva, adequado para fazer brincos, mas al-Bukahari não tinha intenções nenhumas de parar até que este ficasse da espessura de um cabelo humano. Tinha outros trabalhos bem mais delicados em mente. — Passo a passo, assim aumenta a nossa perfeição, mas nunca vamos conseguir chegar até Vós, ó Allah! Com uma faca afiada aguçou o primeiro centímetro do fio e enfiou a ponta na minúscula cavidade da placa. Por fim, virou-a ao contrário, pegou na extremidade emergente com a pinça e puxou o fio cá para fora. — Tira-nos o metal e nós deixamos de existir, mas continuamos a fazer parte de ti, ó meu Deus ! Fez tanta força que os músculos saltaram sobre o braço e os ombros nus. O mundo era um cristal que cantava ao ser acariciado pelas mãos de Allah. Os homens esforçavam-se por escutar mas não conseguiam ouvir mais nada além de ecos e murmúrios. Enquanto ia trabalhando, Bukhari escutava ruídos sinistros, sons de vagas a baterem na costa, homens a morrer. Ecos que se distorciam e transformavam, tornando o bem no mal. O fio cintilante era agora uma serpente dourada, a estorcer-se em agonia, a enroscar-se em torno da esfera da Terra, até conseguir morder a própria cauda. E por onde a barriga da serpente raspava, brotavam chamas. Veio-lhe ao nariz o fedor acre dos incêndios e o travo acre da bílis queimou-lhe o fundo da garganta. Parou de puxar pelo fio e cobriu os olhos com as mãos. Sentiu lá fora a proximidade das chamas e ouviu o relinchar de um cavalo. A alma de um homem costumava ser consumida por este
tipo de chamas, até que não houvesse mais nada senão cinzas. Desta vez as coisas estavam mesmo más. — Ó meu Deus, as Tuas visões trespassam o meu coração como lanças gregas. E de súbito tudo voltou ao normal, o fio tornou-se num simples fio, feito de ouro. Bukhari pegou nas pinças e retomou o trabalho. — Dá licença ? — À porta da loja de al-Bukhari apareceu um homem alto, com uma maxila poderosa e maçãs do rosto elevadas, envergando as vestes de um mercador itinerante. Tinha os olhos a brilhar de dor e raiva, de culpa e ódio não consumado, ou pelo menos era assim imaginou al-Bukhari. Percebeu que o homem tinha acabado de cometer um acto terrível. Fátima, a primeira esposa de al-Bukhari, era uma mulher sensata que muitas vezes lhe pedia que controlasse as suas visões fantásticas. Estava sempre a prometer-lhe que sim, mas acabava por nunca cumprir a promessa. Nunca conseguiu explicar-lhe que essas visões vinham do outro lado do tempo, pela simples razão que ele também não o sabia. Al-Bukhari teve medo, não por ele, mas pelo bem estar do visitante. O homem carregava um fardo pesado, a alma estremecia-lhe, meio esmagada, como um camelo prestes a soçobrar. — Chamo-me Suleiman Ibn-Mustar, — disse o estranho. — Podemos conversar um bocadinho ? Al-Bukhari pôs-se de pé e apressou-se a ir até à porta da loja. Os clientes devem ser sempre bem tratados, como a Fátima nunca se cansava de dizer. Al-Bukhari era um homem forte, gorducho, na casa dos trinta, com a barba curta já a ficar grisalha. Tinha um olhar de esguelha e uma voz poderosa que o tornava num bom leitor do Corão, na Mesquita, quase todas as sextas-feiras. — Entre e sente-se aqui... Acomodaram-se sobre a carpete, de pernas cruzadas. Zaynab, a segunda mulher de al-Bukhari, serviu-lhes bebidas refrescantes, feitas à base de mel e água de rosas. Terminada a tarefa, a mulher desapareceu na escuridão da casa, pela porta dos fundos. Enquanto o visitante falava, al-Bukhari revista BANG! [ 76 ]
voltava-lhe ocasionalmente as costas para alimentar o braseiro. A loja estava cheia de martelinhos de precisão, pinças, tenazes, bigornas e outros equipamentos. — Então como posso ajudá-lo ? De súbito, Solomon sentiu-se confuso. O que teria a sua busca a ver com este homenzinho enérgico e a sua vida nesta esquina do Tempo? Contudo, sem que soubesse porquê, este tipo parecia ser importante. — Quero fazer uma compra. Al-Bukhari mostrou-lhe os seus trabalhos, quase todos feitos e ouro e esmalte, brincos, alfinetes para turbantes e ornamentos para os cintos — Você não é daqui, — disse Solomon. Pegou numa braçadeira e enfiou-a no pulso, deixando que um raio de sol caísse sobre ela e se fragmentasse num milhar de estilhaços cintilantes. — É verdade, — respondeu al-Bukhari. — Sou de Bukhara, que está a dois meses de viagem. — Deve ter saudades de casa... — Solomon poisou a braçadeira e pegou numa caixinha para jóias feita de carmelina e ónix. — O seu trabalho é excelente. Prendas com esta não deixariam de ser bem-vindas nas bodas de al-Ma’mun, ou no banquete real de al-Mutawakkil... Al-Bukhari enrubesceu de prazer: — As suas palavras honram-me, Suleiman. Esses dois exemplos não têm comparação em todo o mundo Islâmico. Mas ter saudades de casa ? Ah, como é que adivinhou ? O vale de Sogdiana é um dos quatro paraísos à superfície da terra...Os jardins e os pomares...A Síria é um lugar tão seco... Franziu os olhos orientais enquanto se recordava. Lembrou-se do tio aldrabão e do poder das visões, da mão de Deus, mas nada disse. Em vez disso, movido por um impulso, puxou de uma caixa: — Ainda não viu isto. Solomon ficou a olhar para os anéis que havia na caixa, cada um deles um cintilante círculo de ouro. Lembrando-se do anel que trazia guardado na bolsa, examinou-os a todos, um por um. Que tesouro! Como Fedoseyev haveria de ficar contente, se soubesse disto. Só neste mercado podia continurevista BANG! [ 77 ]
ar a prender pessoas para o resto da vida. Mas não viu o anel que procurava. Todos eles evidenciavam uma técnica semelhante, embora com um estilo diferente. Olhou para al-Bukhari : — Vendeu recentemente um anel, com a forma de uma serpente a morder a cauda ? — Uma serpente... não. Nunca fiz tal anel. — Parecia assustado. — Com a cauda na boca...? — Como é que Suleiman sabia da sua visão da serpente dourada ? Levantou-me, de súbito muito agitado. — Por favor... Tenho de voltar ao trabalho, e está a fazer-se tarde. Percebeu que este homem, Suleiman, era um indivíduo perigoso. Quem seria ele ? Em nome de que demónio ? Solomon também se pôs de pé, surpreendido e ao mesmo tempo desconfiado. Saberia o joalheiro mais do que parecia demonstrar ? Seria um aliado de Tarkin ? Desejou ter Fedoseyev ao seu lado e uma sala confortável de interrogatórios onde pudesse descobrir a verdade... Al-Bukhari deslocou-se rapidamente até à entrada da loja onde se quedou, imóvel. Do outro lado da rua, a caminhar no meio da multidão, viu um Ifrit. Nem se atreveu a respirar. Porque andaria à solta um malvado djinni ? Um homem santo, com a voz sonora a elevar-se sobre o tumulto dos ruídos de fundo, conduzia uma turba de estudantes na direcção das cúpulas azuis da mesquita de Jami Zakariyah, onde haveria mais tarde, de pregar no meio do pátio. Apesar de muito saber sobre o Corão e as Leis, passou mesmo junto ao Ifrit sem dar por ele. Um nobre abastado, de barba e turbante, contemplava, meditabundo, uma esfera de cristal exposta na bancada do lado oposto da rua, enquanto o seu escravo grego lhe ia declamando textos de Aristóteles numa pronúncia arábica horrível. O Ifrit raspou-lhe o braço, mas aparte um olhar irritado da parte do nobre, também este não deu por ele. O Ifrit trazia espelhado no rosto as marcas da culpa e perseguia a sua vítima com os olhos loucos e esbugalhados. Al-Bukhari ficou a observar a cena, fascinado, enquanto a criatura enfiava o capuz até ao queixo deixando apenas os
olhos à mostra. Por fim sacou de uma espada. E a gemer, como uma mulher recentemente enviuvada, atacou. Suleiman praguejou qualquer coisa numa língua estrangeira, desembainhou a própria espada com a rapidez de um relâmpago. As duas lâminas encontraram-se com um tinir sólido e escorregaram uma contra a outra. A resistência do choque fez o Ifrit recuar aos tropeções. Parecia velho, velho e lento. Rua abaixo e rua acima ouviram-se sons que exprimiam medo e preocupação enquanto os mercadores se escondiam ou tentavam proteger as mercadorias, dependendo da natureza das suas personalidades. — Tarkin ! — berrou Solomon. Mas de que argumentos é que se poderia servir? Tarkin tinha todas as razões para o querer matar. Como é que tinha conseguido escapar-se do comboio? Ou seria este um outro Tarkin, uma versão mais nova? Se fosse um Tarkin mais jovem, vindo antes do interrogatório de Moscovo, então não podia ser morto, dado que tinha de continuar a existir. Mas esta não era a melhor altura para pensarmos em paradoxos. O outro voltou a atacar, sem jeito nenhum. Salomon sentiu-se fascinado pela intensidade daqueles olhos. Que teriam eles visto ? Contudo os reflexos eram lentos. De modo a evitar o ataque da lâmina, Salomon desviou-se para o lado e investiu a fundo. Trespassado, o atacante tombou no meio da rua. Solomon debruçou-se de modo a poder puxar o tecido para o lado e olhar Tarkin no rosto, mas ao erguer a cabeça ouviu o silvo de várias espadas a saírem das bainhas. Um corpo de homens armados aproximava-se dele, cauteloso. Era a polícia local. Sem pensar duas vezes virou-se e deitou a correr. Solomon conseguiu despistar os seus perseguidores durante um tempo suficiente para mergulhar num beco, colar uma ampola de Tempedrina ao pescoço e desaparecer daquela época. JUNHO 1902 EC
A
s eras que tinham antecedido a primeira Grande Guerra eram as mais fáceis de visitar
sem que fossem necessários muitos preparos, dado que toda a gente aceitava pagamentos em ouro, às vezes com um desconto ruinoso. Solomon apressou-se, rua acima, e foi enfiar-se numa porta sob as três bolas douradas que indicavam a presença de um penhorista. Vendeu ao proprietário boquiaberto as roupas que vestia, tornadas ridículas, e comprou-lhe um mal amanhado par de calças de trabalho com uma corda a fazer de cinto e uma camisa de lã demasiado quente para esta hora do dia. Assim vestido, continuou rua acima até conseguir comprar uma muda decente de roupas. Habituado aos súbitos acessos de riqueza característicos dos jogadores e criminosos, o proprietário escusou-se a fazer comentários sobre a troca das roupas grosseiras de trabalho por uma camisa e fato de gabardina cinzenta clara. Ainda mais acima na mesma rua, trocou ouro por dólares e depois foi alugar um quarto numa pensão com partilha de cozinha e casa de banho nas traseiras. Finalmente sentiu-se preparado para iniciar as investigações. Encontrava-se apenas a uns poucos quarteirões do lugar onde ele e Tarkin tinham vivido — ou melhor, ainda viviam — durante as suas investigações, mas a verdade é que já tinha violado tantas regras do Centro Temporal que uma a mais ou a menos não faria a menor importância. Pôs-se à procura, munido de uma paciência vagarosa, metendo conversa nos bares, nas lojas, no El. Descobriu que um número considerável de pessoas na Levee tinha visto o Tarkin: uns descreviam-no com aspecto idoso, enquanto outros diziam que parecia jovem. Atribuíam-lhe várias profissões. Solomon passeou-se pelas ruas durante todo o dia e noite, observando atentamente todos os rostos que passavam. Em 1902 Chicago possuía cerca de um milhão e meio de habitantes. Havia muitos rostos para onde olhar. Foi conduzido até ao primeiro dos Tarkins por um miúdo a troco de duas moedinhas. Passou de relance pela montra de uma drogaria, e viu no interior um homem de meia idade a limpar o balcão com um pedaço de pano. O segundo Tarkin, um tanto ou quanto mais novo, conduzia uma carrinha do leite. O terceiro revista BANG! [ 78 ]
era um velhote que lia a sina, enquanto que o quarto era outro homem de meia idade que trabalhava numa loja de conservas. Deixou de os contar quando o número passou dos sete. Cada um deles envergava um disfarce ligeiramente diferente, com os cabelos pintados, um par de óculos, outra postura, mas acabava por não ser muito difícil identificá-los a todos, desde que soubéssemos para onde olhar. Todos traziam no dedo um anel de ouro. Tarkin teria feito os Controladores do Centro Temporal espumarem de raiva. Dera voltas à própria vida, vezes e vezes sem conta, tecendo uma teia feita da sua própria pessoa em torno do incidente que transformara para sempre a sua existência e a de Salomon. Mas a verdade, pensou Salomon enquanto se cruzava com mais uma versão de Tarkin, desta vez a empurrar uma carrinha de amolador, é que nem uma só vez ele tinha conseguido alterar nada do que aconteceu. Por muito física que fosse a obsessão pelo passado, esta não tinha efeitos nenhuns nele como costuma acontecer a todas as obsessões. Mas neste momento Solomon também tinha de lidar com as suas, pois estávamos uma vez mais no fim da tarde do onze de Junho. Antes de a noite acabar, haveria de descobrir o que é que tinha realmente acontecido na pensão da Mrs Mulvaney. — Considera isto como mais uma investigação histórica, — disse para com os seus botões, enquanto seguia, Harrrison Street acima, uma rua que já lhe era por demais familiar. Atravessou os carris do eléctrico, cruzou a esquina da Wilmot, onde o Mr Kirkby guardava a sua porca premiada, de nome Ernestina, numa pocilga mesmo aos pés da escada, subiu Furnace Street até à pensão de três andares da Mrs Mulvaney com telhado amansardado e com o celeiro todo inclinado encostado a uma das paredes. Era um dia quente, de uma tarde de céus límpidos. Quantas vezes já a teria vivido Tarkin ? O riso de uma mulher prendeu-o ao chão. Ouviu em resposta o riso de um homem. — É verdade, — insistia a voz desse homem, — os Japoneses servem-se de blocos de madeira dura como almofadas. Por isso, quando um dos revista BANG! [ 79 ]
Embaixadores deles pernoitou no Hotel Willard em Washington, onde tudo o que é almofadas é enchido de penas, usou o bacio que havia debaixo da cama e garanto-te que dormiu muito bem. — Ai, Hugh, — disse Louisa, ainda a rir, — mas isso não chega para explicar porque é que quase deitaste fogo aos cabelos quando te serviste de uma boca de gás pela primeira vez. — O lugar de onde eu venho, no Dakota do Norte... — Ah, deixa-te de histórias ! — Tudo bem, que seja do Tibet. Por lá usam lamparinas à base de gordura de yak. Salomon sentiu-se maravilhado. Como era possível ter sido assim tão jovem, tão comunicativo? Como é que alguma vez teve a lata de se pôr a namorar com a filha da dona da pensão? Espreitou pela fresta da porta. E ali estava ele sentado, esguio e jovem, com o cabelo coberto de brilhantina, vestido com um fato de linho listrado e um chapéu de palhinha a condizer. Parecia não ter uma única preocupação no mundo. Louisa estava sentada mesmo à frente dele, com os pés a abanar, vestida com um daqueles fatos camiseiros com chumaços nas mangas. O cabelo era negro e encaracolado e os olhos escuros não paravam de saltar de um lado para o outro. — Mrs Mulvaney manda dizer que o jantar está quase pronto, — disse uma terceira voz. A cabeleira ruiva de Tarkin, toda desgrenhada, assomou junto à porta. — Ó Andy, senta-te um bocadinho aqui connosco ! — Louisa levantou-se de um pulo, puxou-o para junto de si, do lado oposto de Solomon, de modo a poder ficar flanqueada pelos dois pretendentes, estes dois estudantes de história que tinham viajado oitocentos anos no passado para aprenderem o que era a vida e o amor. — Você está com um óptimo aspecto, Mr. Tarkin. — Nunca me senti melhor, Mr. Salomon. O outro Salomon, o velho Historiador Creditado, apoiou a testa contra o granito fresco das fundações da pensão. Esta seria a última das tardes em que os dois estariam realmente em paz. Depois
disto só haveriam de sofrer intermináveis golpes e contragolpes, teriam de observar massacres, pragas e outros desastres sem nunca mais conhecerem um só instante de paz. Mas a verdade é que nenhum deles seria capaz de a reconhecer mesmo que lha pusessem em frente dos narizes. Solomon deixou-se ficar ali, de pé, a ouvi-los conversar e namorar até que finalmente os chamaram para irem jantar. No momento em que abandonavam o átrio, Salomon ouviu Tarkin dizer, timidamente: — Eu...eu...tenho aqui uma coisa para te oferecer, Louise. Mandei fazê-la de propósito para ti. Mostro-a depois do jantar. O fogo tinha começado no velho celeiro, que estava seco como um palito depois de três semanas sem um pingo de chuva. Com a barriga tão fria e dura como um pedaço de gelo, Solomon pôs-se a observar a casa e o celeiro, à espera do momento em que as chamas haveriam de emergir para consumirem tudo, transformando-o no homem que hoje era. A noite começou a refrescar, desistindo do calor veranil do meio da tarde. Uma brisa saltou do lago. Os habitantes da casa Mulvaney espalharam-se pela entrada a conversarem num tom descontraído. Passaram as onze da noite, anunciadas pelos sinos de uma igreja próxima e a meia-noite foi-se aproximando. Continuava sem haver sinais do fogo, embora tivesse começado à volta da meia-noite, a hora em que o seu duplo mais jovem costumava ir deitar-se. Escalou por uma das janelas do celeiro e olhou em volta, para o interior. Jenny, a égua castanha da Mrs Mulvaney, ruminava devagarinho na escuridão. Não viu nenhuma chama acesa, parecida com aquela lâmpada de querosene que a vaca lendária da Mrs O`Leary tinha dado um coice e iniciado o grande incêndio de Chicago de 1871. O estrume era fresco e remexido constantemente para que não fermentasse. O aumento de temperatura poderia ser suficiente para provocar um fogo. Lá de fora, chegou-lhe aos ouvidos os sinos da igreja a soarem as doze badaladas da meia-noite. Acontece por vezes que, ao investigarem tudo aquilo que se perdeu durante o Grande Es-
quecimento, os historiadores do Centro Temporal causam paradoxos. Paradoxos que têm de ser resolvidos. O dever de Solomon como Historiador Creditado era muito explícito. O fogo aconteceu. Por isso, teria mesmo de acontecer. Como um autómato, porque pensar no assunto talvez o impedisse de fazer o que tinha de ser feito, pegou numa mão cheia de erva seca e amontoou-a contra a parede do celeiro. A tremer, soltou Jenny que o farejou, curiosa. — Tu viveste, — sussurrou Salomon. — O resto de nós não. Destravou a porta, de modo a que a égua pudesse abri-la empurrando-a com a cabeça, e depois, sem mais nenhum momento de hesitação, voltou ao monte de palha, riscou um fósforo de segurança e pegou-lhe fogo. Um minuto depois as pranchas secas das paredes também já ardiam. Sentiu no rosto o calor das labaredas, a troarem tão alto como as Quedas de Água do Niagara que a Louise sempre quis visitar. O fogo alastrou-se como vinho derramado no chão. O tecto do celeiro explodiu subitamente numa única labareda. Jenny relinchou, aterrada, escoiceou as portas do celeiro e fugiu para o meio da rua. O celeiro estava a encher-se de fumo enquanto as traves lá no alto estalavam e eram consumidas pelas chamas. Salomon virou-se. De pé, junto à porta, a olhar para ele, estava o jovem Tarkin, meio preparado para se ir deitar. Abanava a cabeça, perplexo, como se fosse incapaz de perceber o que estava a passar-se. Salomon lembrou-se que pouco faltava para que que todo este espanto se transformasse num acesso de ódio e raiva amarga, capaz de fazer de um amigo, um inimigo. — Andy ! — gritou Solomon por cima do rugir das chamas. — Espera ! Mas Tarkin já tinha desaparecido, a correr de volta à casa, aos berros: “Louisa!”. Solomon lançou-se no seu encalce. Entretanto o incêndio tinha-se espalhado do celeiro à pensão. As chamas chegavam já às janelas do dormitório do terceiro andar. Mrs Mulvaney e o filho, Arnold, estavam nesse instante a escapar através de revista BANG! [ 80 ]
uma das janelas do segundo andar para um ramo de uma figueira que se erguia junto à casa. O seu duplo mais jovem, dado que estava a dar umas últimas cachimbadelas à porta da pensão, antes de se ir deitar, haveria de voltar a entrar na casa e chegar até meio das escadas, antes de ser forçado a recuar pela força das chamas. O quarto da Louisa situava-se no segundo andar com a janela virada para o beco das traseiras. Tarkin tentou chegar à janela da Louise, mas o fogo, vindo do telhado, lambia já a parede obrigando-o igualmente a recuar. Chamou por ela, virado para a janela envolta em chamas. E depois gritou, “Meu grande cabrão”, não para a janela, mas para o mundo inteiro. “Porquê ?”. Foi assim que as coisas começaram. Salomon começou a descer a rua. O fogo, a morte da Louise, o ódio selvagem de Tarkin, sem nenhuma motivação aparente: tudo isto ajudou a transformá-lo no homem que hoje era, um Historiador Creditado do Centro Temporal, duro, frio, fanático do dever. Mas todas estas coisas afinal mais não eram do que o resultado de actos que ele próprio tinha cometido, precisamente por ser o homem que era. Sentiu-se esgotado, sem rumo, preso num círculo interminável. Tarkin tinha todas as razões para o odiar, mas acabaria por desviar esse ódio na direcção de um homem inocente, transformando-o por isso mesmo, num indivíduo que um dia seria digno de ser odiado. Antes da noite terminar, Tarkin iria tentar matar o jovem Hugh Solomon e, ao fracassar, desvanecer-se-ia no Tempo. Tarkin continuaria a tentar matar Solomon até aquele momento em que o próprio Solomon, já velho e amargo, voltaria para um ajuste de contas final. O idoso Historiador Creditado desceu, devagar, pela rua Wilmot, envolvida na mais profunda escuridão. Por fim desembocou na Harrison, melhor iluminada, dado que tinha candeeiros a gás. Aí parou, gelado. Sob a luz intensa, mesmo em frente ao Armazém Masterson, viu uma carroça de duas rodas atrelada a um cavalo cinzento. Sentada nela, com um chapéu de palha amarrado à cabeça e uma mala enorme junto aos pés, encontrava-se a Louisa. revista BANG! [ 81 ]
Solomon nem sequer se preocupou em esfregar os olhos ou beliscar o braço. Soube imediatamente que aquilo que estava a ver era mesmo verdade, que tudo isto não passava da reviravolta final na história de faca e alguidar em que a sua vida se tinha transformado. Um jovem saiu do armazém a carregar um pacote. Era Steven Eichorn, um tipo que vivia a alguns quarteirões de distância e que estava a estudar advogacia na Universidade de Chicago. Era o “mangas da Louisa”, supôs Solomon, e esta sua existência tardiamente revelada, explicava muitas das razões do comportamento da Louisa nos meses que tinham precedido o incêndio. Eichorn saltou para a carroça com uma energia excessiva, tomou as rédeas e conduziu-a rua abaixo. Solomon sentiu o gume aguçado de uma faca contra as costelas. — Julguei que nunca mais conseguia apanhar-te ! — disse Tarkin. E virou Solomon na sua direcção. Este Tarkin era a versão de ombros descaídos, aquela que Solomon tinha mandado para o Goulag. — Achas que valeu a pena o esforço ? Dares um nó a toda a tua vida ? — Valeu, sim. Queria amá-la. Mas o amor não se pode recuperar, mesmo se conseguirmos recuperar exactamente a mesma pessoa que nós amávamos... As viagens no Tempo têm estas esquisitices, Hugh. Fazem-nos pensar que podemos deitar a mão ao passado, mas afinal elas não passam de memórias tornadas sólidas. E isso ainda dói mais. Mas eu fiz os possíveis. Voltei aqui depois daquela última vez em que tentei matar-te, abordo do Dagmar, e descobri finalmente que a Louisa não tinha morrido no incêndio. Se te virasses agora, haverias de ver-me, ali ao fundo, de pé na esquina do Armazém, com um ar tão estúpido como o que tens agora. Foi nesse instante que decidi ficar aqui, para sempre. Ela apaixonou-se pelo jovem Eichorn... — O tipo era mais velho do que nós, naquela altura, Andy. Tarkin sorriu: — Uma pessoa esquece-se desses pormeno-
res... Não foi espantoso veres-nos a todos, ali sentados à porta da pensão ? — Éramos felizes. E esse momento vai existir para sempre. — Que grande conforto ! — Forçado pela faca de Tarkin, que continuava apoiada contra as costelas de Solomon apesar da conversa descontraída, começaram a descer a rua como dois velhos amigos encostados um ao outro para melhor se apoiarem. — Mas fiz o que pude. Tratei que Eichorn conseguisse arranjar aquela trap. Encorajei-os a escaparem-se. E nesta noite, há dez anos no meu passado, acho eu, meti a carcaça de um carneiro no quarto dela. Quando as cinzas arrefeceram o suficiente, levaram aquilo que restava do corpo da Louisa para fora da casa. O anel que eu lhe tinha dado, deixou-o sobre a mesinha de cabeceira. Encontrei-o ao examinar as ruínas da pensão. Tu foste ao funeral. A medicina forense não era lá grande coisa, em 1902, o médico legista estava bêbado, o fogo tinha tido lugar num bairro pouco respeitável, de modo que ele só se dedicou ao problema durante pouco mais de dez minutos. Louisa Mulvaney morreu queimada num incêndio. Morte acidental. Foi esse o veredicto, Hugh. E tu, meu grande estafermo, acreditaste nele, tal como eu. Julgaste que estavas a matar a mulher que em tempos amaste, mas afinal não fizeste mais do que assar um lombo de carneiro. Enquanto caminhava devagarinho, a olhar em frente, com uma expressão vítrea nos olhos, Solomon sentiu-se avassalado pela imediatitude do passado até que os sons e os odores que havia em volta lhe disseram que estava outra vez na Levee, onde ninguém dorme. — Este é o lugar ideal, — disse Tarkin enquanto entravam no Lone Star Saloon and Palm Garden. — Parto do princípio que já o conheces. O sítio era o mesmo, as luzes eram as mesmas, os dentes eram os mesmos, os rostos eram os mesmos. — Ora viva, Mickey, — gritou Tarkin na direcção do barman — Dá aí um dos teus especiais. E um gin para mim.
Um minuto depois, um copo enorme, cheio de um líquido turvo, foi colocado mesmo à frente de Solomon, que se deixou ficar a olhar para ele, com um ar meio ausente. — Bebe isso. Vai fazer-te bem ! Solomon virou os olhos na direcção de Tarkin: — Tentaste matar-me, ou seja, tentaste matar o meu eu jovem. Porquê, Andy ? Eu não tinha feito nada... — Cala a boca e bebe ! Solomon encolheu os ombros e, com um ar socrático de quem engole a taça de cicuta, esvaziou o copo. Depois fez uma careta. Tarkin inclinou-se para trás na cadeira e deitou uma olhada ao cartaz colocado mesmo por cima do bar. “Provem o Especial do Mickey Finn”, estava lá escrito. Embora ainda não muito divulgado, o mickey era, nesta Chicago de 1902, uma inovação na arte de enrolar clientes. Era feito à base de hidrato de cloral e álcool. Os olhos de Solomon reviraram-se e deixou-se cair sobre a mesa com um gemido. — Porque foi que eu me atirei ao jovem Solomon? Porque sabia que ele eventualmente haveria de conduzir-me ao verdadeiro culpado! Agora apanhei-te, meu grande cabrão! De súbito, o corpo de Solomon desapareceu. De olhos esbugalhados, Tarkin desabou sobre a cadeira. Começou a tremer e bebeu uma golada de gin. — Não sou capaz de começar tudo outra vez. — disse para consigo mesmo. — Não consigo... E ainda estava assim sentado, debruçado sobre a bebida, quando sentiu um golpe seco de um cotovelo sobre o lado esquerdo da cabeça acompanhado do toque frio de uma seringa hipodérmica na bochecha do rabo. NOVEMBRO 949 EC
S
olomon seguia aos tropeções pela rua de Aleppo. Trazia vestida uma capa grossa de lã, de modo a poder cobrir com ela o fato mais leve de revista BANG! [ 82 ]
gabardina que era a moda na Chicago do início do século XX. Lamentou ter vendido as vestes de comerciante. Parou frente a uma das bancadas e, com as últimas moedas que tinha no bolso, comprou uma adaga curva sem se dar ao trabalho de regatear o preço com o vendedor. Pensou que talvez ainda houvesse tempo de parar tudo. Sentia-se tonto e adoentado. Visões de chamas e catedrais abandonadas passavam-lhe frente aos olhos. Por detrás disto corriam as imagens dos intermináveis corredores ladrilhados do Centro Temporal. O mickey e as overdoses de Tempedrina faziam-no escorregar através do Tempo como se tivesse poisado os pés numa barra de sabão abandonada no fundo do chuveiro. A palma da mão suada comprimia o punho da adaga. Por fim viu-o de pé, frente à loja do al-Bukhari, alto e esguio, a conversar com o gorducho joalheiro. Sentiu-se assolado por uma vaga de ódio. Ergueu a adaga e, a gritar, atacou. A versão anterior de Solomon aparou o golpe com toda a perícia. Desesperado, enfraquecido pelas drogas que havia no mickey, a versão mais recente de Solomon viu-se incapaz de superar a outra. Quando a lâmina lhe penetrou no corpo, foi como se o libertassem de todas as dores. Deixou-se cair no meio da rua poeirenta. O outro Solomon pôs-se em fuga. Al-Bukhari aproximou-se da figura estatelada à porta da loja. Seria mesmo um Ifrit ? Os Ifrits gostavam de atormentar e enganar as pessoas, mas a culpa e os pecados dos homens raras vezes os interessavam, dado que a substância que os compunha era o fogo, não a terra. E uma coisa era certa, os Ifrits não sangravam, como esta criatura estava a sangrar, com o sangue a escorrer-lhe do ventre à volta da ferida mortal. Afastou o pano que lhe cobria o rosto e fitou os olhos de Solomon. — Zaynab ! — chamou por cima do ombro. — Traz água. Depressa! Depois ajoelhou-se e apoiou a cabeça do homem no colo. Zaynab saiu a correr da loja, de olhos arregalados, logo que deparou com o ferido. Passou-lhe a taça e Al-Bukhari encostou-a aos lábios do muribundo. revista BANG! [ 83 ]
— Tu não és irmão dele. Nem sequer és um djinni feito à sua imagem, como eu julguei à primeira. Tu és ele mesmo. Solomon engasgou-se: — Pois sou. Ele agora vai cometer grandes... pecados. Queria impedi-lo. Mas é impossível. Tudo está fixo no seu devido lugar e eu não consigo fazer nada para alterar as coisas... — Os pecados são da tua responsabilidade, — disse Al-Bukhari. — Não foste tu quem decidiu cometê-los ? Fechou os olhos e viu um barco cheio de cadáveres naufragar nas praias de um mar frio e cinzento. Uma casa a arder e um cavalo a relinchar. Homens mortos de frio numa caixa no meio da neve. Todas estas imagens apareceram-lhe amarradas num nó, parecido com aquela caligrafia emaranhada na cúpula da Mesquita. E o nome do nó era Remorso. — Eu tinha de... História... o que aconteceu tinha de acontecer, ou então... — Tudo o que aconteceu aconteceu porque tu assim o quiseste. — disse Al-Bukhari num instante de única transparência. Mas a verdade é que mal sabia o que estava a dizer. — Só então as coisas se tornam inevitáveis. O teu destino, meu amigo, está no carácter, não no Tempo. — Destino. Olha, aqui tens um pedacinho de destino, Al-Bukhari. Faz dele o que te apetecer. Daqui a seis anos, o Imperador de Bizâncio, Nicephoras Phocas, vai invadir a Síria e saquear e queimar esta cidade de Aleppo. Tu tens saudades da Bukhara, essa terra lindíssima. Deixa que ela seja o teu guia. E talvez isso me possa absolver um bocadinho. Mas agora... pega neste anel... E arrancou-o do dedo. Tinha a forma de uma serpente a morder a própria cauda, com olhos feitos de lascas de esmeralda. Por fim, com um suspiro, Solomon morreu. As imagens desvaneceram-se da cabeça de Al-Bukhari, deixando apenas em volta uma rua de mercado com um homem morto estendido no chão. O joalheiro tinha a camisa manchada de sangue. Depois apareceram outras pessoas que levaram o corpo para longe dali.
JUNHO 1902 EC
O
velhote estava de pé, por detrás do celeiro, debruçado sobre a vedação que limitava o terreno, a olhar para as luzes da casa dos Mulvaney. A brisa nocturna que vinha do lago era fresca, mas de modo algum se comparava com o frio que fazia na carruagem a caminho da Sibéria. Começou a tremer. Tarkin, próximo da morte, tinha viajado no tempo, até este lugar, no coração de todos os acontecimentos, sem precisar de uma injecção de Tempedrina. Era quase meia-noite. Dentro de alguns minutos Solomon haveria de aparecer à volta da casa para deitar fogo ao celeiro, de modo a que a história pudesse seguir o rumo correcto. Tarkin foi abrindo caminho, devagarinho, por cima dos rebentos da figueira que cresciam no espaço entre o celeiro e a vedação. Apoiava-se em cada um deles à medida que passava, sentido a lisura da casca das jovens árvores sob o toque dos dedos. A erva do ano passado restolhava-lhe debaixo dos pés. Uma chama minúscula bruxuleou mesmo à frente dele. Tarkin imobilizou-se, agachado. Dois miúdos, com cerca de dez anos de idade, acocoravam-se junto à esquina do celeiro tentando acender um cachimbo. Não era um daqueles onde se costumava fumar as espigas de milho, mas um meerchaum dos grandes, provavelmente roubado ao escritório de um dos pais. Sussurravam um com o outro, concentrados no que estavam a fazer, sem se darem conta da presença de Tarkin. Um dos rapazes queimou o dedo, praguejou e deixou cair o fósforo aceso sobre a erva seca. Que imediatamente se incendiou. Os rapazes soltaram um grito e puseram-se em fuga. O fogo espalhou-se pela erva e não tardou a lamber a parede do celeiro. Tarkin ainda ficou a olhar para ele, durante alguns segundos, como se estivesse mesmerizado, antes de se aproximar e apagá-lo com as botas. Depois foi espreitar pela esquina do celeiro. Uma figura alta, vestida com um fato de gabardina, saiu da casa dos Mulvaney e aproximou-se
numa pisada hesitante da janela traseira do celeiro. Lá ao longe um sino soava as doze badaladas da meia noite. — As coisas são assim mesmo, Hugh! — murmurou Tarkin, enquanto apagava os últimos tições do fogo com o talão da bota. — Fazemos as nossas escolhas e as escolhas fazem-nos a nós. Solomon abriu a janela do celeiro e entrou. Tarkin desvaneceu-se no ar fresco da noite. NOVEMBRO 949 EC
A
l-Bukhari debruçou-se e examinou, perplexo, o anel que tinha na palma da mão. Uma sombra cobriu-o. — Estou a falar com o joalheiro al-Bukhari ? — disse um jovem, com aspecto pálido, com a cabeleira ruiva toda desgrenhada. Devia ser um tipo do norte, provavelmente um Russo. Os olhos brilhavam. Devia estar apaixonado, pensou al-Bukhari. Quando se levam os mortos, há sempre lugar para o amor. — Sou o próprio, — respondeu, pondo-se de pé. Ainda tinha muito tempo para se preocupar com as chamas que haveriam de consumir Aleppo. Mas a verdade é que tinha muitas saudades de Bukhara... — Vim ter consigo para que me fizesse uma jóia para alguém muito importante. — O jovem Tarkin apontou para o anel que al-Bukhari ainda guardava na mão. — Ouvi falar da sua habilidade e tenho a certeza que poderá satisfazer o meu pedido. Queria comprar um anel, se possível, o mais parecido com esse que tem aí. BANG!
Alexander Jablokovm romancista norte americano, trabalhou como engenheiro de comunicação em Boston antes de se dedicar à escrita a tempo inteiro no final da década de oitenta. BANG! revista BANG! [ 84 ]
[ficção]
Quem Quer Escrever Para Sempre João Barreiros E eis que temos o prazer de apresentar a terceira e última parte do tão corrosivo quanto divertido tríptico de João Barreiros. Uma crítica à literatura em geral, uma canelada ao Ministério da Educação e muito pessimismo quanto à juventude deste nosso país. Barreiros no seu melhor!
A
migo leitor, agora que as coisas estão perto do fim, agora que todas as linhas desta narrativa começam finalmente a deslindar-se, seja indulgente connosco e considere esta cena: Estamos recolhidos no recatado bar do Xeraton, como uma ilha isolada no tempestuoso oceano da derradeira Convenção de Fantasia Lusa. Lá no alto, sob os focos luminosos, esvoaçam hologramas de bestiários mágicos, onde é difícil saber se existem mais corujas ou dragões, tantos são eles e tão rápido se deslocam. E cá em baixo, no labirinto dos cartazes, mupis, expositores e ecrãs digito-eléctricos, bandos de jovens estudantes vitalizados, estridulam em loucas e predatórias correrias, derrubando tudo por onde passam. Funcionários devotos esforçam-se por proteger, de peito aprumado e braços abertos em cruz, as bancadas e expositores das editoras a quem venderam a alma e quiçá a própria vida. Esforço inútil. As pilhas de livros são pontapeadas por quem perto delas passa, alguns exemplares são sonegados no meio da confusão, embora os chips anti-roubo incrustados na capa gritem por socorro e se esforcem por elevar a postura moral de quem os raptou. Os professores responsáveis por estes grupos de estudantes hiper-activos, arrastam-se atrás deles, titubeantes, a agitar no ar as mãos que já viram melhores dias enquanto o emissor de desvitalização
revista BANG! [ 85 ]
continua a enviar bytes de energia anímica na direcção das matilhas de discentes. Pior do que tudo são as promoções sonoras, dirigidas aos pavilhões auriculares de quem quer que se aproxime dos espigões sugestionadores. Vozes melífluas sugerem a compra imediata do enésimo volume de sagas heróicas, onde um grupo de valorosos companheiros se bate por anéis, espadas cantantes, colares, tiaras, cintos, armaduras, pergaminhos rúnicos, e quiçá um ou outro cachimbo mágico ou um extensor penil de virilade comprovada — a maior parte destas inigualáveis obras-primas foram dotadas de finais alternativos — onde os juvenis leitores, — se é que ainda existem alguns — poderão deleitar-se eternamente, sem tédio ou repetições, num universo quântico de escolhas múltiplas. Lá para o fundo da sala atafulhada de fãs, de agentes literários, de autores em promoção que desesperadamente tentam distribuir panfletos animatrónicos, o grupo coral da editora CLEMENCIA PRESS, esganiça-se a trautear o hino triunfal do Reino de Alarmia. São vozes que não chegam ao céu, logo abafadas pelos clamorosos cânticos dos Reinos Celtas das editoras rivais. Porém, na mesa do bar onde o nosso emérito autor está sentado, preso no cerco ameaçador dos quatro arrivistas, — supostos autores reformados do execrável género em tempo apelidado de FC,
— não se escuta um único som vindo do exterior, graças à ajuda do cone de silêncio e privacidade. Horácio Quiroga mal se pode mexer, comprimido que está entre os anafados quadris de Gobul Pruesco e as esqueléticas pernas de Josué Pedrinhas. O tampo da mesa de simil-mogno está cheio de gotículas de gordura e fragmentos de sandes meio mastigadas. Quanto aos óculos virtuais que ainda há pouco descartou num acesso de justo horror, ainda ninguém resolveu reclamá-los de volta. O interior das lentes pisca ainda as imagens da destruição maciça da PATORRA. O exterior cobre-se aos poucos da mesma película de gordura derramada que unta toda a mesa, como os restos de um Auschwitz ecológico. Sem dúvida devem estar saturados de impressões digitais de todos estes criminosos. Se Horácio conseguisse enfiá-los discretamente no bolso, quem sabe se, mais tarde, não poderia entregá-los às autoridades competentes e assim fazer justiça pela calada. Mas todas as retribuições têm o seu tempo e é preciso saber esperar pelo momento certo. Entretanto, do outro lado da mesa, a figura sinistra e quase careca de José de Barros fita-o com aquela expressão raivosa de quem sofre de dor de corno crónica. As unhas deste inqualificável “otário” — pelo menos é assim que Horácio Quiroga apelida este desconhecido escritor — raspam sobre o tampo de mogno um irritante compasso de espera. Mesmo ao lado, o olhar quase bondoso e clemente de Emanuel Silvado esforça-se por conciliar o inconciliável, como se fosse possível fazer-se a ponte entre o futuro e o passado, como se houvesse sintonia entre dois códigos semióticos tão diferentes. Emanuel Silvado acabou de retirar de uma pasta velhas fotocópias dos seus textos de juventude, amarelecidas e quase invisíveis após tantas multiplicações e procura passá-las para as mãos de Horácio Quiroga, quem sabe para lhe mostrar que em tempos também ele foi um autor “sério” antes de se deixar seduzir pelos códigos viciados da tecnofantasia. As páginas estão todas autografadas, foram publicadas por um jornal que em tempos teve uma secção de literatura juvenil, mas o bom Horácio decidiu que para quem é raptado, não há sindroma de Estocolmo que nos valha e por isso não descruza os dedos que tem cerrados em punho, não faz o menor
gesto para pegar no que lhe é assim oferecido, e as pobres páginas ficam assim poisadas sobre a mesa, a absorver a gordura que pingou das sandes devoradas pelo ex-hacker, Gobul Pruesco. — Ó Emanuel, meu, para que estás tu a oferecer-lhe essa treta infanto intimista? — Resmunga o cruel José de Barros que nem para os seus é bom. — Achas que este caramelo vai ler isso, assim que tiver um tempinho livre? Já agora porque é que não lhe passam as páginas em branco dos romances anarco-históricos que o Josué Pedrinhas prometeu mas nunca em trinta anos chegou a escrever? Não reparaste nos olhos vítreos do gajo perante estas colunas de texto? Achas que vais conseguir ensiná-lo a escrever uma frase decente? Josué Pedrinhas abre a boca para demonstrar um pouco de indignação, quanto mais não seja uma indignação formal, como se quisesse garantir que, desta feita, sem apelo nem agravo, as partes prometidas do seu romance feito a seis ou mais mãos, já foram colocadas na inforede ainda ontem, de vero e de facto. Mas ao olhar para a expressão cáustica de José de Barros, receoso de qualquer canelada dada em público, mesmo oculta pelo tampo da mesa, resolve engolir em seco e calar-se, pois este momento é muito mais grave do que qualquer outra promessa não cumprida. Lá ao fundo, sobre a bancada do Bar, letras vermelhas anunciam: ÚLTIMA OPORTUNIDADE! DELEITE-SE COM A SANDES MISTA DE LOMBO DE PANDA E RINS DE DEMÓNIO DA TASMANIA. DEVORE OS SEUS ANIMAIS FAVORITOS ANTES QUE SE EXTINGAM DE VEZ! PROMOÇÕES ESPECIAIS PARA OS CONVIVAS DA FANTASCOM! — Ah, desculpem-me, mas não consigo resistir... — Murmura Gobul Pruesco com um arroto discreto. — Com, licença, que eu já volto... — Gobul, Gobul, — diz Emanuel Silvado, sempre atento às necessidades dos outros. — Olha que os excessos... — Mas como Pruesco já não está ali para o escutar, dado que abandonou a mesa e está agora a debater-se, às cotoveladas, na fila frente ao bar, estas últimas palavras são dirigidas a um Horácio Quiroga cada vez mais horrorizado pelo convívio forçado com estes monstros. — A verdade é revista BANG! [ 86 ]
que o camarada Pruesco é um ecologista devoto. Tal como em todos nós existem átomos de carbono provenientes de estrelas mortas, ele deseja incorporar em si o pouco que resta de variados eco-sistemas em vias de desaparecimento. É por isso que devora animais exóticos. Para que estes pobrezinhos voltem a nascer um dia, quiçá, na sociedade perfeita prometida pelo nosso PM. — Umph...perdão...dão-me licença? Os cavalheiros não se esqueceram de mim, pois não? — A PA do Asimov, aquela que ainda há pouco, gigantesca, clamava a ajuda do nosso multifacetado autor, contraiu-se, diminuiu de tamanho, perdeu parte da transparência, e está agora sentada à mesa do grupo, como se fosse mais um conviva entre os convivas. — Garanto-vos, estimados colegas ainda biológicos, que a minha posição se mantém tal qual estava durante o nosso primeiro contacto. Quero morrer. Quase todos os meus colegas dos outros cilindros sobreviventes (à excepção de um) também querem morrer. Mas o vosso PM não vai permitir uma eutanásia sistémica, agora que lhe pedimos formalmente asilo político. Passámos a fazer parte da lei dos salvados. Pertencemos a quem nos recolheu. As PAs não possuem personalidade jurídica, como o caro Josué Pedrinhas poderá confirmar. Não nos dotaram de um interruptor interno. Além disso, estamos blindadas contra todo o tipo de impulsos electro-magnéticos. Os ninjas que nos defendem não podem ser comprados, pois dependem da nossa activação para continuarem vivos... e eles querem continuar vivos, isso vos garanto eu... Entretanto a China neocapitalista exige a nossa devolução imediata... A inforede está cheia de pedidos cada vez mais ameaçadores... Satélites geossincrónicos de ataque estão a abandonar as órbitas respectivas e a deslocarem-se na direcção de Portugal. Ao que parece a China tinha outros centros de controlo orbital, não só em Beijing, mas também no Tibet. Horácio Quiroga sacode a cabeça. Nunca quis ler um único livro da melga desta PA, nem quando ela estava viva e não se calava com as leis da robótica, e muito menos depois de morta e transformada num complexo programa de produção de textos. — Quer V. Exª dizer que Portugal corre o risco revista BANG! [ 87 ]
de entrar em hostilidades com a China neo-capitalista por causa da guerra dos copyrights? — Pergunta, contrafeito, por se ver forçado a comunicar com uma máquina, coisa que não existe na sua fortaleza da solidão que em boa hora adquiriu junto às falésias da costa Alentejana. — E tudo isto porque ainda há quem o queira ler? A PA Asimov acena tristemente a venerável cabeça. A gravatinha texana sacode-se-lhe junto ao pescoço como uma serpente viva. Em tempos que já lá vão, num outro século, os seus robôs encantaram miúdos e graúdos. A gesta híbrida da Fundação Robótica era dada como leitura obrigatória em todas as escolas secundárias. Antes que a crise de Iliteracia começasse a avançar com passinhos de lã. Agora... —...Infelizmente, meu caro co-autor... Não me refiro aos meus textos sobre uma Fundação em ruína, nada disso. Como já se deve ter apercebido, a FC morreu, entregou a alma ao criador, partiu para as Grandes Pastagens, bateu a bota, finou-se de uma vez por todas. Agora só a Fantasia reina soberana. Em boa verdade sou forçado a escrever, juntamente com os meus companheiros de suplício, graças a um logaritmo actancial inventado pelo abominável Su-on-Lee, intermináveis sagas de fantasia. A árvore das opções pouco ou nada varia. Está a ver aqueles blocos de print-on-demand ali ao fundo? Horácio Quiroga não quer ver coisa nenhuma. Resolveu olhar em frente, apenas e tão só, como se quisesse negar a realidade destes seus raptores. Mas um estaladão dado de mão aberta pelo nefasto José de Barros, obriga-o a desviar os olhos da figura rotunda de Gobul Pruesco que entretanto regressou à mesa, com a sandes mista de lombo de panda e rins de demónio da Tasmânia já meio devorada. De facto, nas traseiras do Bar, vêem-se agora fileiras e fileiras de devotos fãs que ansiosamente aguardam a impressão final das novas obras das PAs convidadas. Hologramas coloridos prometem originalidade, frescura e engenho. Um novo Jordan! As aventuras do neto do Mago Potter. Revelações místicas de auto-ajuda por um Paulo Coelho renascido. Sete blocos de impressão rápida, correspondentes aos sete convidados sobreviventes. Sete blocos que
ainda não acabaram de cuspir mega volumes de capas garridas, e já caminham para a 2ª edição. —... A escrita tornou-se num acto inconsciente, praticamente automatizado (enfim, passo o termo)... — Prossegue, didáctica, a PA Asimov, como se não houvesse nada neste mundo capaz de a fazer calar. — Os meus amigos já repararam que, embora eu esteja aqui a conversar, parte de mim continua a escrever? E que 99% dos direitos das obras terminadas e vendidas aqui, durante a FANTASCOM, revertem em nome do Estado Português? O centésimo que falta reverte em nosso nome, mas apenas para cobrir as despesas de manutenção. É por isso que o vosso PM não nos quer devolver ao país de origem, nem aceder aos nossos pedidos desesperados de terminação... — Esteja descansado que a situação vai ser resolvida ainda hoje. — Garante Josué Pedrinhas com toda a lábia que adquiriu ao longo da sua jurídica carreira. — O sol não há-de nascer sem que o nosso serviço esteja terminado. Logo que correr a notícia de que já não há mais PAs no activo, estou certo que a China vai cessar todas as hostilidades. E já agora, para os meus ficheiros pessoais, importava-se de me enviar aquilo que ainda ontem me prometeu, cenas da vida pessoal dos autores de FC mortos, que em tempos conheceu? A PA Asimov acena, benovolente, saca de um cachimbo do bolso do casaco de tweed, e fita com olhos que já viram muito, o rosto pálido do nosso estimado jurista em off-time. Espirais de fumo virtual cobrem a mesa do bar. Durante alguns segundos, neste silêncio conspirador, apenas se ouvem as mastigadelas sôfregas de Gobul Pruesco e o arranhar constante das unhas de José de Barros sobre o martirizado tampo da mesa. Por fim, a PA Asimov faz menções de se levantar. O corpo incha de novo, perde solidez, ganha tamanho e transparência, mas antes de se afastar de uma vez por todas, à guisa de adeus, murmura uma terrível advertência: — Penso que já está tudo combinado. Transferências de créditos para todas as vossas contas pessoais. Espero sinceramente que os cavalheiros sobrevivam ao caos desta noite única. No meu caso
particular, a morte é um acto insubstancial, visto que já estava morto antes sequer da Global Zaibatsu Press ter comprado os direitos da minha PA aos meus desnaturados descendentes. Nunca acreditei que houvesse vida eterna e esta frágil existência é um insulto a tudo o que julgo ser bom e justo. Nunca devia ter aceite continuar as sagas da Fundação e dos Robôs para lá dos anos 70. O mal é meu que abri um precedente. Permiti o franchising... Mas pior do que tudo foi obrigarem-me a escrever Fantasia. God Damn it, sou um cientista. Um positivista. Robôs positrónicos a debaterem-se com espadas de bronze? Magia a funcionar entre a mega-torres de Trantor? Buerk! Haja dó! O acto da escrita fez parte integrante da minha vida, mas afinal quem quer escrever para sempre, uhn? Especialmente quando somos forçados a escrever fantasias da treta! — Olhe que há boa fantasia, meu caro senhor! — Insurge-se o bom Horácio Quiroga a pensar precisamente na qualidade literária da sua obra. A PA Asimov encolhe os ombros que se agigantam, suspira, mastiga o cachimbo e projecta um anel de fumo virtual na direcção dos rooters dos holoprojectores. — Você lá sabe e eu estou-me a borrifar. O problema deixou de ser meu. Ah, já me ia esquecendo... hihi... como se fosse possível esquecer-me deste tipo de coisas... mais uma pequena advertência. A merda acontece, como costumava dizer o estimado Murphy. Tenham cuidado, pois suspeito que haja um traidor entre nós. Alguém que não quer morrer e assim pôr um ponto final neste acto interminável de escrita automática. Alguém que nos denunciou e permitiu que as catapultas lançassem o primeiro bloco de Módulos balísticos. Não consigo determinar quem seja, pois a informação encontra-se bloqueada. Mas vai haver uma PA a resistir... Provavelmente os guardas ninjas já foram avisados da eminência de um atentado... — Ora porra! — Rosna José de Barros, sempre agressivo e malcriado, até na presença dos seus melhores. — E só agora é que nos avisa? A PA Asimov adquire uma tonalidade cada vez mais fantasmática. O crédito que activava o cone de silêncio cessou e toda a explosão sonora da Fantasrevista BANG! [ 88 ]
com voltou a assediar o grupo de sinistros conspiradores. Gritos de êxtase da parte das fãs que aguardam pelo print final da Rowling, chiados das criancinhas hipervitalizadas, estoiros e estampidos dos cartazes em derrocada, quase abafam as palavras finais da PA: — Que graça têm as tarefas demasiado facilitistas? Qual o interesse de uma aventura onde o fim é já conhecido? Mesmo assim, neste compasso de espera, desejo-vos uma vitória segura. O mundo não é nada sem os engenheiros, como diria o meu amigo e estimado Campbell, e os cavalheiros são os seus últimos representantes. Força no desenrasca! E já agora, obrigado pela sua ajuda, caro Horácio Quiroga. Espero que isto lhe sirva de lição. Mude de hábitos, e desperte para o futuro. Inaugure uma nova Idade do Ouro da FC! — Nunca! Nunca em Alarmia haverá motores catalíticos! — Esbraceja o nosso Horácio num acto de inútil revolta. — Já disse e afirmei isto milhares de vezes, e... — E eu ralado! — Sorri a PA Asimov à guisa de despedida, entre duas cachimbadas finais. Horácio Quiroga pisca os olhos, estremece um pouco, pois só agora começa a perceber que a melhor solução, (caso queira continuar a vender a sua saga da fenomenal Alarmia), será colaborar com este grupo que em poucas palavras lhe prometeu acabar de vez com a competição. Quando todas as PAs forem eliminadas da competição, quando já não houver outros livros para ler a não ser os seus, então o PM não terá outra solução senão continuar a incluí-lo nos planos de leitura de todas as escolas. — Burps! — geme Gobul Pruesco com um bocadinho de rim ainda a espreitar-lhe por entre os dentes. — Sinto-me um bocadinho enfartado… — Cautela com o colesterol… — Lembra Emanuel Silvado, numa voz preocupada, enquanto cofia a barbicha grisalha. — Olha que precisamos todos da tua expertise… José de Barros encolhe os ombros, como se quisesse demonstrar que com o mal dos outros pode ele bem. E em seguida tamborila sobre o tampo da mesa e estende o dedo indicador da mão esquerda na direcção do bom Horácio: — Passa para cá o teu revista BANG! [ 89 ]
cartão de crédito! Rapidamente e em força, porque já se faz tarde! — Agora querem roubar-me? — Insurge-se o nosso multifacetado escritor. — Não basta já terem-me separado dos meus amigos, fãs, e aduladores? Quantas mais humilhações virão? — É por uma boa causa… — Explica Emanuel Silvado. — Ninguém pode desconfiar das nossas transacções de crédito a partir deste instante. Temos de permanecer substancialmente invisíveis… Mas a verdade é que precisamos de comprar muitos livros, pilhas deles, antes de passarmos ao segundo ponto da nossa campanha. — Muitos livros? Cópias da PATORRA? Mas para quê? — Qual PATORRA qual história! — Rosna José de Barros, puxando pela sacola maricotera onde Horácio Quiroga guarda todos os seus bens. — Para que queremos nós essa treta que tantas florestas ajudou a derrubar? Ná! Vamos até à bancada da OBLIVION TALES. Upa, upa, que se faz tarde. E sem mais demoras, sem que possa gritar por socorro (aliás quem o ouviria no meio do bulício do átrio da FANTASCOM), Horácio Quiroga vê-se de um momento para o outro despojado do seu recheado cartão de crédito. E logo depois, ladeado por dois elementos do grupo, com os cotovelos comprimidos por dois pares de pinças cruéis, ei-lo que avança (ou melhor, é arrastado) até ao meio da sala, com as biqueiras dos sapatos de couro genuíno a rasparem no mármore viscoso do chão, onde já muitos visitantes devolveram à precedência canapés e cocktails. A bancada da OBLIVION PRESS está cheia de exemplares fininhos de fantasias escritas pela jovem Roxana Peres, a última descoberta dos meios onfalo-didáticos da clique urbano-depressiva. As capas da pentalogia, são vistosas como manda o figurino. Horácio pega num exemplar e lê o resumo da contra-capa, receoso que Roxana lhe tenha roubado algumas ideias ainda em embrião e que contava incluir no próximo volume, A ANAMNESIS DO CLÃ DESMEMORIADO. “Alvinia Lorpa”, diz o resumo, “é uma jovem peixeira na cidade portuária de Alvor Limpor. Passa os dias a amanhar escamas de serpente marinha,
escrava para toda a vida do emporium de farinha de peixe Voltifex Maximus. Nunca imaginou que a sua vida iria em breve mudar radicalmente. Pois, num volte face que decerto surpreenderá até o leitor mais precavido, vê-se dotada dos poderes mágicos de ressuscitação, quando o sector dorsal da serpente que está a escamar volta de súbito à vida. Que irá acontecer em seguida? Poderá Roxana com a ajuda de um cardume de serpentes renascidas derrubar o empórium capitalista do nefasto Voltifex Maximus? Não perca este romance avassalador, o primeiro de uma decalogia memorável”
«O vendedor não se queixa, tanto mais que acabou de esgotar a 45ª edição, assim como todo o conteúdo dos caixotes que guardava debaixo da bancada.» Desconfiado, Horácio abre o livrinho, confirma que este não tem mais de duas páginas escritas, franze o sobrolho pensando que estão a tentar impor-lhe uma obra mutilada, esforça-se por ler o primeiro parágrafo, tenta uma, duas, três vezes, mas é como se houvesse aqui um vazio conceptual, como se já tivesse esquecido o que ainda agora acabou de assimilar, as mãos agarram-se à capa e só então sente que a lombada tem um toque metálico e agreste, como se existissem ali nano ganchos a rasparem-lhe a pele da ponta dos dedos. Ler o primeiro parágrafo de uma ponta à outra começa a tornar-se numa obsessão. Tenta uma vez, duas, cinco, mas a memória do que leu continua a diluir-se, deixando atrás de si um desejo terrível de conhecer o incognoscível… Irritado, Horácio Quiroga poisa o livro sobre a pilha, fita nos olhos o vendedor que lhe sorri, prazenteiro, com as mãos abertas a expor os cinco romances da decalogia já publicados. Num holo-cartaz sobre a bancada, uma anafada Roxana sorri em 3D, um sorriso característico de quem triunfou na vida sem grande esforço. Horácio recua tanto quanto pode, até ir esbarrar contra o ventre rotundo de Gobul Pruesco. Só então repara que os seus raptores calçaram luvas transparentes de um polímero resistente a qualquer desgas-
te. Todos eles estão a enfiar num saco de compras os livros expostos na bancada e a apontar para os caixotes onde estão guardados muitos mais. O vendedor, esse, não cabe em si de contente. O cartão de crédito de Horácio blipa no scanner apropriado, registando a compra de 100 finíssimos volumes. — Que vem a ser esta hedionda fraude? — Insurge-se o nosso estimado Mestre num acesso de justa ira deontológica. — Os livros que a Roxana escreveu só têm… — Isso mesmo, as duas primeiras páginas, — explica-lhe ao ouvido a voz didáctica de Emanuel Silvado, enquanto o nefasto José de Barros esboça um sorrisinho malvado. — OBLIVION PRESS ainda há dias ganhou o prémio Eco-free dado pela Quercus, como a editora que mais contribuiu para a protecção das florestas. Afinal para quê publicar uma saga interminável onde cada volume tem mais de 500 páginas? Se o leitor se esquecer do que leu na primeira, porque irá ele passar à segunda? Não, meu caro Horácio, estamos aqui perante os protocolos semióticos que em tempos o saudoso Humberto Eco defendeu. Agata Christie vendeu-se como pãezinhos quentes? Quer o meu amigo saber porquê? — Horácio Quiroga não quer, mas resigna-se a escutar. — Ora, porque os livros que ela escreveu eram todos tão, tão parecidos, que as pessoas logo os esqueciam mal estivesse terminada a leitura. E voltavam a comprá-los sem disso se aperceberem…Ora, apoiada nesta interessante teoria, (o meu amigo vai ter de consultar o artigo no meu Blog que escrevi precisamente sobre este assunto), a OBLIVION PRESS imbuiu de Lethusina as lombadas de todos os seus livros. Basta agarrar num deles, para que a droga comece a impregnar a ponta dos dedos, através de minúsculas esquírulas capazes de penetrar a pele. Poucos segundos depois, o leitor perde o controlo, olvida-se de tudo e volta ao início…Roxana só teve de escrever a primeira página em todos os volumes da sua saga… — E os idiotas dos críticos, como a imbecil da Filomena Otólita, aqui citada apenas a título de exemplo, traumatizada com o facto de não conseguir lembrar-se de nada do que leu, mas mesmo assim forçada a fazer critica literária no pasquim onde trabalha, acabou por dar à Roxana Peres uma clasrevista BANG! [ 90 ]
sificação de cinco estrelas, transformando-a assim no novo expoente literário… — Acrescenta José de Barros a ranger os dentes e a estorcer a pobre capa de um dos exemplares onde se pode ver a imagem da ex-peixeira a cavalgar uma serpente marinha no meio de um oceano tempestuoso. O vendedor não se queixa, tanto mais que acabou de esgotar a 45ª edição, assim como todo o conteúdo dos caixotes que guardava debaixo da bancada. As filas de fãs que inutilmente aguardavam pela sua vez, urram de fúria, mas logo se calam quando José de Barros se vira para trás e lhes grita com um ar ameaçador: — Xeta, rua, pisguem-se! — Malcriados, estúpidos, brutos…— murmuram baixinho cinco elfas balzaquianas biotransformadas, que há duas horas aguardavam na fila para serem servidas, e que agora resolveram prudentemente recuar para bem longe da vista e do coração deste grupo tão desagradável quanto açambarcador. Quanto ao nosso Horácio Quiroga, esse está cada vez mais confuso. O cartão de crédito foi-lhe devolvido com um corte chorudo no saldo disponível. O que vale é que o nosso estimado autor é rico, e graças a isso pode viver confortavelmente da escrita e visitar terras distantes como fonte de inspiração. Pergunta a si mesmo se esta não será a melhor altura para se escapar, mas logo verifica que tal não vai acontecer. Sempre atento, o grupo de raptores indica-lhe, num gesto imperioso, que deve carregar às costas com dez pacotes dos catorze disponíveis e dirigir-se rumo à sala das mesas-redondas, onde precisamente por esta hora estava agendada uma conferência sua sobre as marchas militares no reino de Alarmia. Nessa dita conferência estava previsto revelar que Alarico Estilete também ele possuía dotes de tenor lírico. Infelizmente parece não haver fuga possível, carregado como está com os caixotes atafulhados com a produção minimalista de Roxana Peres. Sempre no meio do grupo, empurrado pelas costas, Horácio aproxima-se do cartaz que anuncia a quem o queira ler, que naquele anfiteatro vai dar-se início dentro de cinco minutos, à polémica revelação: Alarico, se bem que muito macho, também é uma “alma sensível”… Lá ao longe, do outro lado do átrio, na zona revista BANG! [ 91 ]
das impressoras print-on-demand, que continuamente estremecem vomitando resmas de papel, sete hologramas monumentais agitam no ar mãos de uma duvidosa transparência, tentando chamar a si os eventuais compradores. Compradores esses que de facto são cada vez em maior número. E como ninguém é santo neste mundo cruel, nem mesmo o nosso estimado Horácio Quiroga, julgo que será útil confessar-vos, que foi este o momento exacto em que começou a sentir no estômago o travo azedo da inveja, o respingo acidulado do ciúme. Finalmente deu-se conta que alguém está prestes a roubar-lhe a clientela, a partir do dia de hoje e talvez para todo o sempre. Que o nome Quiroga vai desaparecer das listas de leitura obrigatória da Faculdade de Letras. Que vai ser suplantado por produtos erzatz escritos por uma mão-cheia de mortos-vivos. E como esse ciúme, essa inveja — que em abono da verdade todos nós sentimos quando os nossos inferiores são mais bem sucedidos na vida, — não podem ser ignorados, eis que o nosso autor inicia o processo de vender alma ao diabo. Afinal, para nos perdermos basta dar um passo, erguer um dedo, dizer que sim, mesmo baixinho. No instante em que Horácio Quiroga penetra na sala de conferências, carregado com os caixotes cheios dos livros da Roxana Peres, é como se mergulhasse numa escuridão onde se esfumaram para sempre toda a honra e glória que costumava atribuir ao impoluto Alarico Estilete. Podemos dizer, com uma declarada falta de originalidade, que passou para o lado negro da Força. Se Horácio Quiroga esperava encontrar uma sala cheia de fãs, ou seja, de jovens donzelas arfantes de desejo, vestidas com os trajes garridos de Alarmia, ou então de garbosos espadachins defensores da Lei e da Grei, ladeados por inúmeras cópias do Senhor das Trevas, estes com as espadas rúnicas erguidas em saudação, infelizmente tem todas as razões para ficar desiludido. A sala está cheia, sim, mas com cinco turmas de criancinhas hiper-vitalizadas. Cento e cinquenta infantes a chiarem de entusiasmo, nas convulsões de uma dor hiper-positiva. O burburinho é imenso, caótico. Não se consegue escutar uma única frase inteligível, pois todos eles comunicam entre si através da linguagem comprimida
dos SMS. Aliás, desde que ali entraram, começaram logo a organizar-se numa estrutura multi-tribal. Por todo o lado voam cadeiras, fragmentos de cartazes e smart-panfletos estraçalhados onde os castelos de Alarmia faíscam ainda próximos de uma extinção definitiva. Jactos fruta-cores de bebidas gaseificadas respingam contra as paredes mais distantes, numa simulação de sangue arterial. As câmaras de segurança do Xeraton há muito que entregaram a alma ao criador e por isso nada registam. Ali não há inteligências artificiais a lerem a linguagem silenciosa dos lábios das vítimas e a contactarem de imediato as autoridades competentes. O ME nunca saberá o que se passou, quem mutilou quem, quantos meninos entraram já em coma profundo como consequência de traumatismos vários. Horácio avança pela sala, protegido pelo grupo de anarco-terroristas, à força do tabefe e da canelada. Emanuel Silvado enfia a mão num dos caixotes e distribui em volta exemplares da obra de Roxana Peres. Mãozinhas pegajosas agarram no livro, dedos calejados por tanto carregarem nos botões do telemóvel raspam nas lombadas, e… …é como se, aos poucos, uma estranha calma começasse a espalhar-se pela sala. A lethusina que impregna as lombadas começa a faze-los esquecerem-se das verdadeiras razões porque ali estão. Perturbados, confusos, deixam tombar cadeiras, mocas, facas e x-actos. Vitrificam-se dezenas de olhinhos que ainda há pouco luziam de maldade. Um fiozito de saliva escorre de algumas bocas. A atenção fixa-se nas capas garridas onde a jovem peixeira ressurreccionista agita a faca de amanhar num gesto de revolta contra a multinacional que a escravizou. Pés entaramelam-se noutros pés e os corpinhos infantis acabam de tombar contra paredes e cadeiras, hipnotizados por um inexplicável fascínio. Entretanto Horácio Quiroga, ainda assoberbado pelos caixotes que o forçaram a transportar, conseguiu chegar junto da mesa das conferências. Oito dos lugares estão já preenchidos. Amarrados com guitas, amordaçados com um neuro-sujeitor decerto comprado nos sites Sado-maso da globalnet, Aristides Solterno, Nissa Valmundo e Marília Perdita agitam-se, comichosos, com os olhos esbugalhados
de terror. Os cinco professores em vias de desvitalização, sentados nos restantes lugares, respiram de alívio perante a chegada dos anarco-terroristas. Todos eles têm a aparência trágica de um tísico novecentista na semana terminal. As mãos tremem-lhes tanto que tiveram que assentá-las sobre o tampo da mesa. Junto ao pescoço, o desvitalizador — digo, o processador de Transferência Harmónica — continua a enviar megabites de dados aos alunos incapazes de os integrar nos respectivos wetwares. Devem estar todos acumulados, à espera que os chamem, na placa do buffer que os estudantes trazem presa às costas à guisa de mochila, placa essa que eles há muito decidiram que não valia a pena ter acesso. A informação — sempre que requisitada — pode passar directamente para os testes sem que o jovem seja obrigado a assimilá-la. Eis o sonho do nosso PM: Sucesso pedagógico garantido, bom para qualquer tipo de estatísticas, mesmo que a classe discente continue a sofrer da mais absoluta iliteracia conceptual. Mas o desvitalizador não envia só informações sobre os conteúdos programáticos. O desvitalizador, tal como o nome indica, envia também energia anímica. Segundo as ordens do ME, cabe aos professores estimular os seus alunos, tanto ao nível cognitivo como ao nível afectivo e energético. Or else. Pouco a pouco, num conta-gotas irreversível, o professor vai-se consumindo ano após ano, rumo a uma reforma que continua a acenar-lhe muito para lá do horizonte. E entretanto os jovens fervilham de energia transmitida. Tanta, que até dói. Energia em excesso que lhes perturba as capacidades de concentração, mas também quem é que precisa dela? Dizem as más-línguas, que muitos encarregados de educação alteraram o software dos receptores dos seus filhos para que estes recebam um excesso de energia a 200%. Nada que os preocupe. Fechados nas escolas a tempo inteiro, cabe aos professores alimentá-los, estimulá-los, energificá-los. Os professores responsáveis por estas cinco turmas devem estar perto do fim de uma carreira a todos os títulos gloriosa. Terminado o processo ensino-aprendizagem, só podem esperar do ME a justa reforma correspondente a cinco meses de justa luxúria no Centro de Eutanásia Compulsiva. É assim que o PM justifica uma morte revista BANG! [ 92 ]
feliz como gratificação de uma vida de trabalho, em nome da Utopia. Gobul Pruesco, um tanto ou quanto dispéptico, poisa sobre a mesa o pequeno caixote de livros que trazia nas mãos, abre a sacola de ombro e começa a retirar materiais heteróclitos em peças destacáveis. Cinco simulacros de desvitalizadores são postos frente ao grupo de professores convidados. “Mmm, grrr, mmm”, esforçam-se por articular o editor, poetisa e catedrática, todos ao mesmo tempo, sem perceberem nada do que se está a passar. Aristides Solterno revira os olhos, piscas pálpebras carregadas de rímel num pedido silencioso de ajuda na direcção de Horácio Quiroga que acabou nesse momento de passar para as mãos da turba-multa de criancinhas o último exemplar da Roxana Peres. Agastado por uma traição de que só agora se deu conta, o nosso laureado autor não lhe liga nenhuma. Usufrui mesmo de um secreto prazer ao deparar-se com estas três melgas mudas e amarradas. Em boa verdade, até fica bem à Nissa Valmundo tanta corda e tanta mordaça. Um bocadinho mais tatuada e musculada e seria tal e qual uma das Amazonas de Alarmia prestes a receber as sevicias do Senhor das Trevas Bolarte, residente nos ilhéus de Poncaria. À medida que os alunos convidados vão roendo, lambendo, raspando nas lombadas dos exemplares da OBLIVION PRESS, uma calma quase mágica começa a espraiar-se pela sala. As criancinhas deixaram de saltar, de prejudicar a estrutura dos objectos mais próximos. Pacificadas pela lethusina, já quase não se apalpam umas às outras. Emanuel Silvado foi lá ao fundo trancar as portas para impedir mais mirones de entrar. Josué Pedrinhas está nesse momento a consultar os dados informáticos da sua fiel PDA, de sobrolho franzido, em busca de um qualquer loophole jurídico capaz de bloquear o pedido de asilo das PAs sobreviventes. O cruel José de Barros está a montar, peça após peça, aquilo que parecem ser cinco pistolas ligadas a latas de bebida gaseificada. Claro que Horácio Quiroga nunca se deu ao trabalho de ler os pulps inócuos do inicio do século passado, doutro modo teria reconhecido nelas o aspecto de um desintegrador. Incomodado por não ser o foco de atenção de ninguém, tossica, discreto, mas a verrevista BANG! [ 93 ]
dade é que já não lhe apetece fugir. Desde há muitos anos que não participa de um mistério tão complexo e sublime. — Tem a certeza que isso vai resultar? — Pergunta um dos Profes a Pruesco numa voz sumida. — Podemos inverter o processo? A sério? — A sério… — Concorda Pruesco com um arroto nada discreto, apontando um pequeno interceptor na direcção do pescoço do primeiro profe. — Prepare-se. Respire fundo. Olhe que o choque vai ser grande. Vou alterar as características do desvitalizador. Dentro de cinco segundos vai passar a receber em vez de enviar…Quatro…três…dois…
«Uma calma quase mágica começa a espraiar-se pela sala. As criancinhas deixaram de saltar, de prejudicar a estrutura dos objectos mais próximos. Pacificadas pela lethusina, já quase não se apalpam umas às outras.» Chegado o momento zero, cinquenta alunos tombam de borco em pequenas pilhas de bracinhos roliços e pernas a adejar. No momento anterior ainda estavam de pé, com os dedos, dentes e línguas a rasparem nas lombadas martirizadas do livro da Roxana Peres. No momento seguinte é como se lhes tivessem desligado todos os circuitos de manutenção. Após anos e anos de receptividade passiva, passaram, como quem desliga um interruptor, ao estado de desvitalizados. A energia anímica começa agora a fluir no sentido inverso, ou seja, na direcção de quem lha forneceu durante uma vida inteira. Com um sorriso ao canto dos lábios, Gobul Pruesco repete o processo nos restantes professores. E os educadores, após anos e anos de agonia, desde que o presente governo lhes impôs como regra sine qua non, a obrigatoriedade de ceder tudo a quem educam, piscam os olhos, rasgam a boca numa expressão de êxtase profundo, e aos olhos de quem os observa, — especialmente os do nosso estimado Horácio Quiroga, — é como se uma corrente de energia quase visível fluísse no
sentido contrário, uma corrente luminosa de força, de sexualidade reprimida, como um bombom belga a derreter-se-nos na boca, como um snifar de coca ou uma pitada de rapé, como o choque da primeira chávena de café após o torpor matinal. — Força nisso! — Exclama José de Barros sem erguer os olhos das engenhocas mortíferas que continua a montar. — Mostrem-lhes quem é que manda! — Extraordinário…— Murmura um dos profes. — Sublime… Pena é que isto esteja para acabar… Mesmo assim, seis meses, sem ter de lhes enviar nada… Até à próxima inspecção… — Na próxima inspecção já o governo caiu e a utopia do nosso PM entregou a alma ao criador… — Acrescenta Emanuel Silvado, bondoso e condescendente. — Até lá podem fingir com os desvitalizadores falsos. Os camaradas são cinco numa comunidade escolar de milhares. Ninguém vai dar por nada. Estas turmas não se vão lembrar de nada do que aconteceu aqui. A lethusina está a inibir-lhes qualquer memória pró-activa. Até que se esgotem os efeitos, as recordações a curto prazo não vão poder ser convenientemente processadas. — Já chega? — Pergunta Gobul Pruesco aos profes extasiados, depois de enfiar na boca dez pastilhas digestivas. — Posso retirar os desvitalizadores? Todos os educadores acenam que sim. Esta troca faz parte do contracto que estabeleceram, meses atrás, através de sites ilegais, com este grupo de anarco-terroristas. E terminados os secretos protocolos deste acordo, — acordo que o jurista Josué Pedrinhas os fez assinar na placa do seu PDA, não fosse o Diabo tecê-las, — Gobul Pruesco arracanca-lhes do pescoço, à força de um pequeno bisturi laser, a placa desvitalizadora e substituia-a por uma falsa, aparentemente idêntica, tão depressa quanto pode, para que o sinal de interrupção de actividade não chegue aos sensores sempre atentos do Ministério de Educação. Em pouco mais de dois minutos, já repousam sobre a mesa cinco emissores de transferência harmónica. Resta recolher pelo menos sete receptores da zona cervical das criancinhas apáticas e silenciosas. Tarefa que cabe ao sinistro José de Barros que, sem o mínimo de compaixão, os arranca às
cabecinhas de cinco neo-lolitas e dois proto-hoods. E sem mais demoras logo os substitui, com a ajuda de uma bisnaga de colagel orgânico, por sete falsos receptores. Ai, ui, bruto, dizem os meninos mais activos no momento da excisão, para logo se esquecerem do que lhes aconteceu. Nos meses que se vão seguir, o rendimento escolar destes adoráveis infantes vai descer exponencialmente e destruir todas as estatísticas governamentais relativas ao bom sucesso escolar. Aparentemente, nenhum dos presentes está preocupado com isso. Ninguém quer saber. Existem informações suficientes nos buffers que todos os alunos transportam às costas, a fazer as vezes de pastas escolares. Informações que podem invocar e transferir directamente aos lobos pré-frontais se de facto quiserem processá-las. Apenas um pequeno esforço na busca do arquivo correcto, um quase nada, embora Horácio Quiroga começe a compreender, com uma pontinha de horror, que esse esforço nunca será feito. Afinal, nenhum deles leu a sua maravilhosa saga de Alarmia. Quem a leu foram os professores. Memórias processadas e digeridas, prestes a serem activadas sem o menor esforço, logo que os discentes as procurem nos arquivos do buffer. Se é que alguma vez o vão fazer… — Meninos! — Chama a professora Anastasia Salerma, sob o olhar aprovador do grupo de terroristas. — Tudo bem? Estão acordados? Podemos fazer uma pequena brincadeira? — Gah… — respondem os alunos mais activos, ou melhor, menos desvitalizados, embora em todos esses olhinhos piscos se revele uma profunda dificuldade de concentração. — Tudo bem… É uma brincadeira muito gira…Valeu? Ora vamos todos arrancar as lombadas desses livrinhos que vocês estão a segurar, sim? Porcaria de livro, buerk, né? Arranquem as lombadas e venham aqui pô-las sobre a mesa, à nossa frente. Conseguem fazer isso? Fixe! Cool! O processo de mutilação da obra imortal da Roxana Peres dura vários minutos a ser completado, tanto mais que as ordens professorais têm de ser repetidas de trinta em trinta segundos. Mal as crianças agarram nas lombadas, logo se esquecem do que lhes mandaram fazer. A verdade é que têm as veias revista BANG! [ 94 ]
saturadas por overdoses de lethusina. Os professores presentes explicam-lhes o modo operativo, vezes e vezes sem conta, munidos de uma paciência exemplar. Felizmente o espaço dedicado à conferência de Horácio Quiroga é de duas horas e por isso há tempo de sobra para tudo. Quarenta e cinco minutos depois a mesa está cheia das chapinhas metalisadas, a verter a saliva de quem as lambeu. Enquanto isso, já José de Barros encheu um contentor com água mineral e enfiou lá dentro os restos mortais das lombadas, não sem antes ter coberto as mãos com um polímero protector. Cinco minutos de furiosa actividade com a ajuda de uma varinha mágica servem, quanto baste, para que se faça uma boa mistura. Agora tubagens aspiram a água saturada de lethusina, transferem-na para dezenas e dezenas de micro canalículos de cera, canalículos esses que são agora arrefecidos e congelados graças a uma cápsula de nitrogénio líquido. Vapores de condensação enchem a sala num smog novecentista. Horrorizado, Horácio Quiroga compreende enfim que José de Barros está a fabricar micro-projecteis de água congelada. Se penetrarem num corpo qualquer, — e o nosso laureado mestre fantasista está certo que será esse o caso, — provocarão na vítima uma súbita crise de amnésia pró-activa. José de Barros gargalha baixinho, com um esgar de pérfida maldade, pega nas centenas de farpas refrigeradas com a ajuda de uma pinça e transfere-as para as unidades de carga dos três desintegradores que acabou de montar. — Prontinho! — Diz com um ar satisfeito. — Está terminado. Podemos passar à fase seguinte. Senhores profes: Podem retirar-se com os nossos agradecimentos. E não se esqueçam de levar convosco as criancinhas…Não deixem ficar nenhuma para trás, por muito que seja essa a vossa vontade. Podem ficar descansados durante seis meses. A ineficácia dos sete elementos a quem substituímos a unidade de recepção vai diluir-se no meio do caos diário das vossas escolas. Vivam felizes até à próxima inspecção que espero bem que nunca venha a acontecer! Abaixo a desvitalização compulsiva! Abaixo a Terra do Nunca do nosso PM! Viva a anarquia de ter um livro para ler e não o ler! revista BANG! [ 95 ]
E os profes, comovidos por este terrível discurso, despedem-se dos anarco-terroristas com mil abraços e palmadinhas nas costas, aqui e ali com uma lagrimita teimosa de felicidade por não serem obrigados a ler mais nenhum dos horrorosos romances incluídos no plano de leitura do ME, e encaminham-se na direcção da porta da sala de conferências, empurrando as turmas à força de um ou outro pontapé e bofetada, como se quisessem aproveitar estes raros momentos de amnésia para darem azo a uma pequena manifestação de violência professoral reprimida durante tantos e tantos anos de pedagogias não directivas. A sala vandalizada fica uma vez mais deserta, ou quase. Pelo chão há cadeiras partidas, pasteletas esborrachadas de pastilhas elásticas, bolinhas salivadas de panfletos publicitários, restos de ranho e baba, aqui e ali uma gotícula de sangue proveniente dos combates mais bravios inter-pares e, claro, dezenas e dezenas de exemplares destruídos da obra impar de Roxana Peres, espezinhados e estraçalhados. Horácio Quiroga contempla tudo isto como se percebesse enfim a que se refere o termo “justiça poética”. Enquanto ele foi obrigado a escrever centenas de páginas por volume, Roxana, essa cabra, limitou-se a escrever uma ou duas por cada um deles. — Uhn…gah…uhm… — Murmuram em conjunto Aristides Solterno, Nissa Valmundo e Marilia Perdita, ainda manietados e amordaçados num cantinho obscuro da sala devastada, ao notarem que Gobul Pruesco está nesse preciso momento a aproximar-se deles. Gobul transporta nas mãos três das placas desvitalizadoras, mais a bisnaga de colagénio. Sem mais demoras, com apenas uma ou outra interrupção para dar azo a uma sequência de prodigiosos arrotos — prova de uma digestão assaz complicada, — o hacker anarco-terrorista cola-lhes as placas nas bases dos pescoços, junto aos sensores de interface que quase todos os cidadãos foram compelidos, por ordem ministerial, a implantar há dez anos atrás. Terminado o serviço, consulta o seu PDA, reformatando os circuitos das placas com um programa de intrusão. Luzinhas indicadoras acendem-se garantindo a perfeita funcionalidade dos sistemas. Nissa Valmundo estremece e revira os olhos no preciso
momento em que o sistema wifi da placa começa a captar as emissões próximas de todos os alunos que ainda assombram o hall central do Xeraton. José de Barros arranca-lhe a mordaça, e repete o mesmo processo na pessoa de Aristides Solterno e Marilia Perdita. O trio pode enfim falar, queixar-se, protestar, sugerir futuros processos legais de difamação, mas a verdade é que não diz nada, envolvido que está no êxtase visceral da transferência anímica. Dezenas e dezenas de alunos hiper-activos descarregam parte das energias acumuladas nos receptores de cada um deles. E embora se possa ver em todos os olhos deste trio raptado, uma pontinha de culpa, a verdade é que nada dizem nem nada fazem para se escaparem dali, agora que José de Barros lhes cortou as ataduras com a ajuda de um bisturi de lamina monomolecular. — Ah… o absoluto… — sussurra Nissa Valmundo erguendo a mão anelada contra a testa. — Ai a distância impossível das estrelas dispersas na negra noite virgem… — O excesso, o excesso… — Acrescenta a catedrática Marilia Perdita. — Tenho agora forças de sobra para ler a obra completa do incomparável Jordan… — Ah, meus caros amigos… — Termina Aristides Solterno. — Estão todos perdoados…Nunca antes me senti assim, tão sexualmente potente… Obrigado, obrigado… Entretanto chegou a vez de Horácio Quiroga experimentar as delícias da transferência harmónica. É o último a ser implantado, ele que sempre se recusou a receber próteses hipertech. Mesmo assim, agora que se passou para o inimigo, compreende a vantagem destes implantes. Tem agora força e energia para dar e vender. Sente-se capaz de terminar as oitocentas páginas da PATORRA em apenas uma noite de trabalho esmerado. Os olhos brilham-lhe de entusiasmo criativo. Os dedos anseiam por pegar na pena e secar fileiras de tinteiros. Mas afinal não é isso que o grupo quer dele. Gobul Pruesco está nesse momento a colar-lhe às costas uma placa de buffer, semelhante àquela que os alunos transportavam. Só que esta, depois de desdobrada e activada, se revela ter quase uma capacidade quase infinita de retenção de dados. Programas indicadores correm-lhe por
detrás dos olhos, programas que apontam, graças a uma complexa árvore de opções multiplas, para uma recepção próxima da ideal. Vias opcionais perguntam-lhe para onde hão-de ser transferidas as informações recebidas através da transferência harmónica. Directamente para os lobos pré-frontais ou para a base de dados do buffer? — Agora muita atenção! — Adverte Gobul Pruesco. — O meu amigo vai aproximar-se dos sete cilindros e receber a totalidade da descarga, entendido? É preciso que ela seja encaminhada para o buffer e não para a sua cabeça. Os cilindros vão ficar esvaziados de conteúdo anímico em apenas dois ou três minutos. Em data oportuna apagaremos definitivamente todos os dados coligidos, tal como nos pediram as PAs. Estou a lembrar-lhe que os dados devem ser transferidos para o buffer e não para a sua cabeça, porque desconhecemos o que poderia acontecer caso esse erro ocorresse. Até hoje ninguém conseguiu meter na cabeça a estrutura da personalidade de sete individualidades autónomas. Não queremos grelhar-lhe os miolos com um excesso de informação, correcto? Por muito que seja essa a vontade do nosso parceiro José de Barros, aqui presente. Não ligue aos acenos de cabeça. Aquilo são mais as vozes do que as nozes… — Porque no fundo, no fundo, — concorda José de Barros com um esgar capaz de gelar o sangue nas veias de qualquer um, — também eu sou uma alma sensível, hihi… — O acesso ao centésimo andar, andar onde estão guardados os cilindros, só é permitido aos VIPs, nunca a nós, pobres autores ostracizados. — Explica Emanuel Silvado, sempre bondoso e didáctico. — Só lá podem entrar, por questões de segurança, agora amplificadas pela crise internacional resultante da guerra dos copyrights, algumas personalidades judiciosamente escolhidas. Representantes do Governo. Advogados quanto baste. Os Embaixadores da China e Coreia. Dançarinas do ventre e jovens efebos bi-sexuais, para distraírem as mentes lúbricas dos autores convidados. Sem esquecer alguns seguranças adicionais a soldo do nosso PM. E, claro, o grupo de ninjas defensores das PAs, sempre incorruptíveis, que as acompanharam como lapas. Mas os revista BANG! [ 96 ]
estimados cavalheiros, refiro-me a si, caro Horácio, à Nissa Valmundo, à Dra. Marilia Perdita e ao lastimoso Aristides Solteno, o responsável por toda este estado de sítio, têm direito a um passe especial. Por isso podem visitar o andar superior sem problemas. Só vai ser preciso colarem à socapa os emissores que subtraímos aos alunos em cada um dos cilindros. E para que isso seja possível, vamos ter de praticar algumas manobras de diversão… — Ou mesmo algumas eliminações com excesso de prejuízo… — Acrescenta José de Barros. — Como assim? — Pergunta Horácio, de sobrolho erguido, como um perfeito conspirador. — Basta-me chegar junto deles e… E o grupo de anarco-terroristas passa a explicar todas as fases do processo, tim-tim por tim-tim, devagarinho, para que todos possam compreendê-las.
U
ma vez mais o grupo cruza o átrio central, aos pares, com o cruel José de Barros à frente de todos, a abrir caminho à força de cotovelos e caneladas. Entretanto a Fantascom prossegue, entusiástica, como se os problemas internacionais pertencessem a uma outra dimensão. Jovens élficas biotransformadas sacodem as mamocas prisioneiras dos coletes de simil-bronze e investem na direcção dos blocos de impressoras que continuam a vomitar resmas e resmas de smart-paper com as derradeiras edições das mais recentes obras-primas das PAs convidadas. As formas translúcidas e gigantescas de Asimov, Rowling, Feist, Coelho, Dan Brown, McCaffrey acenam em movimentos judiciosamente estudados para infundirem nos compradores incontroláveis sentimentos de desejo e confiança. Nos ecrãs traseiros, desenham-se capas dos livros em vias de impressão, seguindo esquemas hipnoglíficos compulsivos criados pelos mágicos de Seoul. E é um rodopio na direcção da sala do fundo, com todos os fãs adultos a agitarem os cartões de transferência de crédito digital, num jogo de agressividade mal contida, pois de facto estas edições estão numeradas com a data e a hora exacta da impressão e quem sabe quanto mais é que vão valer no mercado da nostalgia, daqui a uns cem ou duzentos anos. Quanto aos alunos em visita revista BANG! [ 97 ]
de estudo, ou seja, a nova geração sujeita aos protocolos da transferência harmónica, esses parecem um pouco mais quiscentes, mais submissos, menos destrutivos, como se de súbito tivessem deixado de receber parte da energia anímica até ali emitida pelos professores responsáveis. Em boa verdade o programa de intrusão que Gobul Pruesco pirateou nas cinco placas sonegadas, descracou o sistema para que este receba energia anímica de todas as turmas convidadas. E agora, como uma torrente invisível, essa energia escorrega pela infosfera e derrama-se sobre Nissa Valmundo, Marília Perdita, Aristides Solterno, sem esquecer o nosso incomparável autor, Horácio Quiroga. Nissa estremece num estado de pré-orgasmo, sujeita aos prazeres de um vampirismo pedófilo. Marília sente o ventre encher-se de milhares de teses de pós-doutoramento em vias de gestação. Aristides insufla o peito, confiante que será desta que vai conseguir fazer sair Horácio do proverbial armário. O próprio Horácio, tão pouco afeito a qualquer tipo de tecnologias, começa a perceber que nem tudo é mau no mundo de amanhã. E embora a informação que está a receber seja apenas um pouco de força física, — dado que não é necessário receber os parcos conteúdos gnósticos das criancinhas que por ali proliferam, — sente-se como se estivesse a respirar uma baforada de oxigénio puro, a injectar nas veias um shoot de adreno-cocaína. Maravilhado, deixa-se envolver neste entusiasmo que lhe recorda os tempos de juventude onde, ainda com pouco dinheiro mas sempre em busca de novas fontes de criatividade, viajava à boleia pelas tundras selvagens da Sibéria Neo-capitalista. A viagem através do átrio, na direcção dos elevadores, pouco dura, embora pareça uma eternidade. O tempo, estimados leitores que ainda me acompanham, quando estamos sujeitos ao processo de transferência harmónica, parece dilatar-se em milhares de segundos de doce subjectividade. É como se o grupo, no meio do inferno, tivesse direito a um antegosto do céu. Por fim chegam junto dos elevadores, enxotam para o lado sem consideração nenhuma dois ou três pares de orcs mortinhos por se dirigirem às respectivas tarimbas para alguns minutos de truca-truca
brutal, Josué Pedrinhas aflora com o dedo o botão de chamada, acende-se o rosto de um Smile no indicador de espera, uma boca sorridente conta os segundos que faltam até a cabina chegar, até que as portas se abram e que o grupo se comprima no interior da cabina. — É lá cavalheiros…— Respinga a IA do elevador. — Estamos no limite máximo de carga. Até cinco pode ser, mas oito? Importavam-se de se dividirem ao meio e esperarem pela chegada do meu sócio? — Importamos sim senhor! — Rosna José de Barros. — Estamos dentro dos limites de tolerância. Deixe-se de mariquices. Não vai haver separações, coisa nenhuma! Queremos ir para o 99º andar, e que o serviço seja feito rapidamente e em força, que temos mais que fazer! A cabina é esconsa. Os bloqueadores feromónicos do elevador há muito que esgotaram as respectivas cargas. Corpos espalmam-se contra corpos, sem que seja emitido um único pedido de desculpas. Com tanta fricção, Aristides e Nissa arfam de prazeres mal-contidos. Horácio Quiroga procura esgueirar-se para um canto, para se escapar às mãozinhas, sempre vivazes, do seu editor. A barriga de Gobul Pruesco ribomba contra as costas de Marilia Perdita. Há botas a pisarem pés. Os saltos agulha das sandálias de Nissa Valmundo abrem dois buraquinhos nos sapatos proletários do bondoso Emanuel Silvado que nem sequer solta um gemido de protesto. Mas a verdade é que o grupo tem de subir em conjunto, não vá haver traições ou fugas de última instância. Abespinhada, para preencher silêncios incómodos, a IA do elevador inicia a conversa para que foi programada: — Pois claro. Abusem, abusem, ignorem os meus avisos. Façam de conta que eu não estou aqui. Se os cabos se soltarem a meio caminho, sempre posso ser reiniciada sem problemas de maior. Mas os cavalheiros alegadamente orgânicos? Acham que recuperam do choque em queda livre, ou melhor da súbita cessação da dita? — Schiu! Caluda! — Ordena Gobul Pruesco! — …Lamento, mas não estamos interessados em “conversas de elevador”, — acrescenta Emanuel Silvado, sempre polido.
— Se continuar a incomodar-nos durante o resto do percurso, — lembra o jurista Josué Pedrinhas, — lanço-lhe já uma providencia cautelar… — E eu ralada, senhores emproados-com-a-mania-que-tudo-sabem… A minha colega aqui do lado acaba de me avisar da vossa má criação, ainda algumas horas atrás, quando se recusaram a conversar com ela sobre o último opus da diligente Roxana Peres. Desprezem-me, ignorem-me, façam como quiserem mas garanto-vos que as coisas não ficam por aqui.
«A cabina é esconsa. Os bloqueadores feromónicos do elevador há muito que esgotaram as respectivas cargas. Corpos espalmam-se contra corpos, sem que seja emitido um único pedido de desculpas. Com tanta fricção, Aristides e Nissa arfam de prazeres mal-contidos.» Os olhos malvados do sinistro José de Barros começam a cintilar num brilho muito pouco convidativo. Gobul Pruesco solta uma bufa mefítica sem que seja formulado um pedido de desculpas. Nissa Valmundo levanta a mão à testa, como se estivesse prestes a desfalecer, mas a energia que entretanto recebeu através da transferência harmónica é tanta, que já não lhe permite este tipo de desacatos, nem mesmo quando são fingidos. Entalado ao centro do elevador, Aristides Solterno esforça-se em vão para se aproximar de Horácio Quiroga. Mas a verdade é que, com tantos sacos de equipamento a atravancarem o chão, ninguém consegue mexer-se do lugar onde está. E a IA do elevador, sempre vingativa, lá vai subindo, devagarinho, de modo a prolongar o sofrimento dos seus utentes. Mas não há mal que sempre dure, como diz um velho, velho ditado. Ei-los enfim chegados ao 99º andar, aquele imediatamente abaixo do piso onde estão guardados os cilindros das PAs. O andar dos convidados VIP, onde a editora CLEMENCIA PRESS reservou quartos para Horácio e Cia. Abrem-se as revista BANG! [ 98 ]
portas do elevador, a atmosfera saturada da cabina mistura-se com os odores residuais que pairam no corredor, e todos se acotovelam para saírem primeiro, esquecidos das regras absolutas que comandam a impenetrabilidade da matéria. O piso estende-se num quadrângulo ao longo de toda a estrutura do Xeraton. Os tapetes estão cheios de depósitos lançados pelos grupinhos de fãs que por ali passaram, rumo aos apartamentos dos seus autores favoritos. Por todo o lado vêem-se copos esborrachados ainda com a marca de pés nus, sinal que por ali passaram muitos candidatos a orcs. Seringas de contacto. Adesivos abortivos. Panfletos amalgamados graças a substâncias que mais vale não identificar. Aqui e ali, pontapeado para um canto, pode ainda descobrir-se um ou outro livro abandonado. Mesmo dobradas, as smart-covers exibem ainda uma pequena animação dos respectivos conteúdos. Do outro lado das portas ouvem-se restolhadas, gritinhos e, de vez em quando, o estalajar sónico de um chicote disciplinador. Aristides Solterno suspira e indica a direcção correcta do apartamento que a sua editora alugou em nome de Horácio Quiroga. A placa sinalética pisca-lhe na mão, despertando nas paredes do corredor um fluir de setas esverdeadas. Finalmente, o grupo chega onde é suposto chegar. Aristides passa a placa pelo sensor junto à porta do quarto, um Smile acende-se a acenar que sim, e a porta roda para o lado, complacente, cedendo a passagem a todas estas vítimas e conspiradores. O apartamento, assaz luxuoso, segue as regras que Horácio Quiroga impôs um dia. Nada de parafernália hitech. Nem um só sensor gnóstico. Os ecrãs interactivos das paredes encontram-se desligados. Mesmo assim, sobre a escrivaninha, pode ver-se um cabaz de frutas tropicais e uma boa dúzia de garrafas de água mineral, importadas a peso de ouro das nascentes dos Himalaias. Um sono dispersor murmura em surdina canções de gesta do sul de Alarmia. O chão, de simil mármore, lembra os templos agnósticos do reino de Dúbia. O nobre Horácio Quiroga dá um estalido de aprovação com a língua, enquanto Nissa Valmundo desliza sobre o sofá fazendo de conta que está prestes a desfalecer, e Marília Perdita assenta na sua PDA algumas notas explicativas revista BANG! [ 99 ]
para uma tese futura sobre os hábitos secretos dos autores nacionais. Indiferentes a todo este reboliço, os conspiradores começam a abrir sacos e maletas sobre a cama, retirando do interior toda uma série de equipamentos quase incompreensíveis aos olhos do leigo. Só então Horácio nota que o quarto está a abanar, docemente, docemente, como as ramagens de um salgueiro. O chão marmóreo estremece, ondula, estremece. E o nosso laureado autor, um tanto ou quanto assustado por se encontrar no interior de um prédio periclitante, abre os braços, engole em seco, olha para o grupo como se quisesse pedir ajuda, mas resolve calar-se para não dar parte de fraco, até que Emanuel Silvado resolve explicar-lhe o que está a acontecer: — São os andares superiores excedentários, mandados construir in extremis pelo nosso PM. A estrutura original do Xeraton não os recebeu muito bem. Além disso, os ventos de monção são inclementes, ao ponto de fazerem oscilar toda a estrutura. Mas não deve haver problema. Isto não vai cair, pelo menos nas próximas horas… — Um momento, um momento! — Exclama em voz alta Aristides Solterno levando a mão à orelha. — Meus senhores, que desgraça! Tenho novidades relativas à guerra dos copyrights! Os satélites assassinos entraram em órbita sobre Lisboa. As negociações em curso, relativas à devolução das PAs sobreviventes, não deram em nada. O nosso PM recusa-se a ceder a pressões estrangeiras. Ainda há pouco declarou que a Utopia não se vende. Que a Utopia não dá parte de fraca! E a China replicou que vai haver um disparo de aviso… dentro de… céus… dois minutos… vão derrubar a Ponte da Trafaria. — Ai, a desgraça, ai que triste mundo este… — Geme Nilssa do fundo do seu sofá. — Temos de nos despachar… — Avisa Josué Pedrinhas. — E despachar as PAs o mais depressa possível. O autismo do governo, daqui a nada vai dar cabo de Lisboa… A ranger os dentes, José de Barros dirige-se à janela panorâmica, empurrando para o lado quem quer que se lhe atravesse ao caminho. Reflectida nos vidros, brilha a sempre-eterna Utopia, a Ter-
ra-do-Nunca que o PM impôs à Nação. Uma Lisboa gernsbrackiana fulge numa glória frenética, quase insustentável, que as capas dos pulps em tempos celebraram. Torres de vidro e ferro forjado ligam-se umas às outras através de passadeiras tão finas que lembram fios de uma teia de aranha. Auto-giros fervilham em espirais ascendentes, descolando das plataformas superiores dos zigurates Taveira. Dirigíveis pululam os céus, cobertos de néones e hipnoglifos, pachorrentos como baleias celestes, promovendo a necessária escalada dos impostos. Lá ao fundo, junto à embocadura do Tejo, disparados pelos canhões electromagnéticos, os primeiros vaivéns da noite ascendem rumo às colónias langrageais. No meio de tanta luz, seria quase impossível verem-se as estrelas. Mas elas está lá, bem visíveis, dispersas por toda a abóbada celeste, tão fulgurantes como focos de halogéneo, a mostrar o caminho do futuro. O PM prometeu a quem o quis ouvir que, até ao final do novo milénio, contra tudo e contra todos, haveria de colocar um homem, não na Lua, mas sim nas estrelas mais distantes. Que a recessão económica seria resolvida de uma vez por todas. Que a educação da juventude haveria de florescer numa aura de sucesso escolar, capaz de envergonhar qualquer génio da EU. Que a Lisboa futura teria enfim o aspecto revelado por todas as janelas virtuais. E para que os cidadãos se fossem habituando a esse amanhã inevitável, decretou que ele se tornasse visível, hic et nunc, em todos os prédios, instituições, escolas, ministérios, maternidades e centros de eutanásia compassiva. A visualização da Utopia seria gratuita. Haveria um imposto, sim, mas apenas para aqueles que quisessem espreitar a verdadeira realidade exterior. É por isso que a janela do quarto custa a abrir, se é que alguma vez isso aconteceu. A gerência do Hotel de modo algum deseja que um eventual cliente mergulhe numa crise de esquizofrenia paranóica perante a dureza do mundo exterior. Uma película de gelatina solidificada parece cobrir a articulação das dobradiças, mas não é isso que vai impedir José de Barros de conseguir dar-lhe a volta. “Dêem-me um jeitinho, que raio”, pede ele aos seus colegas conspiradores. E Gobul Pruesco, com aspecto de quem vai vomitar a qualquer momento, saca de um
x-acto laser do bolso e investe sobre o vidro numa tentativa declarada de mutilar este futuro glorioso que se avista através da janela. Bastam dois minutos para que os fechos electrónicos cedam a alma ao criador. As portadas abrem-se de par em par. Uma ventania carregada de cinzas e odores a gordura requentada invade o quarto. Sobre esta nova Lisboa já não brilham as estrelas. Os zigurates esfumaram-se como por encanto, talvez cobertos pelo smog que se escapa de milhares de chaminés e fogões a hulha. Uma chuvinha ácida tomba dos céus. Lá em baixo, na rua frente ao átrio do Xeraton, deixaram de se ver as passadeiras rolantes, as vias sobre-elevadas, os topiários dos micro-jardins e fontanários a verter água sempre fresca. Tudo isto foi substituído por pilhas de entulho, carcaças de autocarros, e acampamentos étnicos em permanente estado de guerra. Na distância ouvem-se buzinadelas, gritos e clamores. Os mais interessados do grupo resolvem ignorar este baixo mundo para o alto, como se quisessem ver os satélites assassinos que orbitam sobre Lisboa. — Está quase… — Murmura Josué Pedrinhas. — Sacanas dos amareloques! — Clama José de Barros num comentário politicamente incorrecto. — Gandas melgas! — Ai meu Deus, que desfaleço! — Geme Nilssa Valmundo lá do fundo do seu sofá. — Fechem-se essa janela, por piedade. Ai o cheirete. Ai a ventania. Ai o incómodo. A visão de tantos pobres deprime-me! — Venha aqui para junto de nós, — chama José de Barros puxando pelo braço do nosso estimado Horácio Quiroga. — Leve um banho de realidade! Mergulhe no mundo real. Horácio deixa-se conduzir a medo até ficar perante o abismo, com a barriga encostada ao parapeito da janela, envolvido nos sons e odores daquela noite irrecusável. — Está quase, quase, quase…— Adverte Josué Pedrinhas. — O acordo foi legalmente recusado… As negociações terminaram num impasse. Um dos satélites assassinos acabou de disparar um míssil cinético. Preparem-se…lá vão três e duas e uma… Horácio cobre os olhos com as mãos, pois embora nunca se tenha interessado por este tipo de ferevista BANG! [ 100 ]
nómenos bélicos, sabe que a luz vai ser fulgurante. E de facto, para lá dos prédios fuliginosos, junto ao Mar da Palha, o céu incendeia-se, primeiro como se o tivessem rasgado ao meio por um traço de luz dolorosa, depois como se houvesse um novo sol a nascer no lugar errado da madrugada. — Um cilindro de fibra de carbono puro, com pouco mais de um metro de comprimento, projectado de órbita a uma velocidade quase lúmica. — Explica José de Barros a quem o queira ouvir. — O suficiente para incendiar a atmosfera em volta. Para fazer com que o Mar da Palha entre em ebulição instantânea. Para vaporizar a ponte da Trafaria, caso o disparo seja certeiro. Preparem-se: aí vem a onda de choque.
«Horácio sente-se um tanto ou quanto ridículo com tanta chapinha colada à volta do pescoço, considera que os luzeiros dos leds dão-lhe um aspecto um pouco abichanado, ele que sempre defendeu os valores viris da tecnofobia. » Prudentemente, José de Barros e Gobul Pruesco agacham-se sob o parapeito, de bocas abertas para não magoar os tímpanos. Horácio Quiroga, que tinha os olhos fechados, esqueceu-se de se encolher a tempo, e apanha de lado com o vendaval que penetra através da janela escancarada. É como se tivesse levado um soco brutal no peito, como se tivesse recebido o feitiço ardente do Lord Trevarium. Nos segundos seguintes está a voar, desamparado, através do quarto. Felizmente a cama recebe-o, embora as molas gemam e estalem um ou dois suportes. — E lá se foi a ponte… — Avisa Emanuel Silvado, numa voz triste, como se os presentes não tivessem já compreendido que foi isso exactamente o que aconteceu. — Mais ponte, menos pontes, é para o lado onde eu durmo melhor… — Acrescenta José de Barros, sempre optimista. — Mas…mas… — Exclama Horácio, de olhos revista BANG! [ 101 ]
piscos, meio surdo pelo estampido que continua a ribombar por toda a Lisboa, — …como é possível que o nosso governo tolere aquilo que nos aconteceu? Bombardeados por uma potência estrangeira? Os nossos bens destruídos sem apelo nem agrave? E ninguém faz nada? — Nope. — Confirma Gobul Pruesco num anglicismo que lhe é característico. — A ponte é velha e pouco viajada. Afinal quem é que quer visitar a Trafaria? Que se lixe a ponte e a frota pesqueira de marisco contaminado. Com os lucros que o governo já ganhou graças à venda dos direitos internacionais dos livros escritos ainda esta noite pelas PAs, o nosso PM pode mandar construir mais cinco pontes novas. — Estamos perante uma visão quase esquizofrénica do universo…— Acrescenta Emanuel Silvado ajudando Horácio Quiroga a levantar-se da cama derrocada. — Se olharmos através das janelas fechadas de Lisboa, havemos de verificar que de facto nada de mal aconteceu. A Terra-do-Nunca permanece incorrupta. A cidade continua a brilhar. Não há satélite assassino que possa destruir a Utopia. Não é o mundo real que interessa ao nosso governo, entendeu? Apenas o futuro improvável, visível através das janelas. A China pode continuar a demolir Lisboa… pois essa Lisboa não existe aos olhos do governo… — Como se houvesse um feitiço, um véu de magia a pairar sobre o mundo… — Murmura o bom Horácio ainda meio surdo e titubeante. — No meu vigésimo volume da saga de Alarico, quando este visitou o reino opressivo do Mago necromante Filpor, demorou dias a perceber que as virgens que lhe tinham oferecido à chegada estavam de facto mor… — Schiu! Caluda! — Rosna José de Barros dando-lhe uma amigável carolada na moleirinha. — Poupa-nos! — Temos de seguir em frente com as nossas actividades… — Pede Emanuel Silvado. — Ah, meus amigos…Temos de preservar Lisboa, bloquear os delírios egocêntricos do nosso ditador… E isto antes do segundo ataque, programado para daqui a uma hora. O novo alvo, pelo menos assim está agendado
no blog “Beijing uber-alles”, será o Centro Comercial de Belém! E dito isto, o grupo reúne-se no centro do quarto devastado, sob um remoinho de cinzas tépidas trazidas pelo vendaval que sopra através da janela. Entretanto, espalhadas pelo chão, as garrafas de água mineral vão vertendo no tapete a memória dos Himalaias sem que ninguém dê conta. Gobul Pruesco arranca dos pescoços de Nissa Valmundo, Marilia Perdita e Aristides Solterno as três placas de transferência harmónica que eles tinham utilizado até ali apenas a título de empréstimo e instala-as agora no pescoço do bom Horácio, acrescentando a última, que tinha guardado no bolso para o que desse e viesse. Horácio sente-se um tanto ou quanto ridículo com tanta chapinha colada à volta do pescoço, considera que os luzeiros dos leds dão-lhe um aspecto um pouco abichanado, ele que sempre defendeu os valores viris da tecnofobia. Felizmente descobre que pode escondê-las a todas debaixo da gola da camisa negra e assim passar despercebido aos olhares críticos dos seus pares. — Pisque os olhos e diga “ginaceu” em voz alta. — Pede Gobul Pruesco retendo um vómito de acidez gástrica. — Como assim? — Diz “ginaceu”, que raio! — Exclama José de Barros. — É um código desbloqueador que permite o acesso directo ao mega-buffer que trazes às costas. Queres que eu te faça um desenho, ó caramelo? — Ginaceu, — repete Horácio numa voz sumida. Por detrás dos olhos do nosso laureado fantasista acende-se uma árvore de opções. Ecrãs virtuais brilham a poucos centímetros do nariz. On-line, on-line, dizem todos. Transferência de dados opcional. Emissores de transferência harmónica de momento off-line. Deseja uma busca?Y.N? — De momento clique em N, meu caro. Os emissores ainda não foram colocados nos cilindros… Mas mal o sejam… — Emanuel Silvado cofia a barbicha grisalha. — E agora preste atenção… A transferência harmónica vai ser quase instantânea. Diria mesmo que vai processar-se com uma rapidez catastrófica. Nesse preciso momento, acende-se
a árvore de opções que vai perguntar-lhe para que lado deseja que os dados sejam transferidos. São sete fontes emissoras provenientes das sete PAs. E no seu pescoço estão cinco receptores, o que permite uma transferência total de dados em apenas dois minutos. Portanto sete árvores de opções a funcionarem em conjunto, divididas pelos cinco receptores. Terá de ser expedito e clicar em todas elas para que seja possível fazer-se a transferência dos dados para o buffer que traz às costas. Entendido? Horácio franze o sobrolho, sacode a cabeça, aclara a garganta para se livrar do mau gosto das cinzas que penetram através da janela e murmura: — Eu não tenho muito jeito para estas mariquices tecnológicas…E se falhar? E se não clicar a tempo? José de Barros solta uma risadinha maldosa: — Nesse caso as PAs vão ser transmitidas não para o mega-buffer, mas para a tua linda cabecinha. Poff! Morte neuronal por sobre-carga. Ia ser lindo, sim senhor. — Os cavalheiros querem dar cabo de mim… — Murmura o bom Horácio ao compreender a gravidade daquilo em que se meteu. — Não sei se serei… — Nesse caso poff, como já disse, lá explode outra cabeça de melancia! Não que ela vá fazer grande falta à cultura nacional! — Sorri José de Barros, enquanto Gobul acerta mais uns quantos programas de última hora nos circuitos das placas emissoras e nos receptores do mega-buffer. — Vê lá se percebes de uma vez por todas! Os cilindros têm de ser esvaziados de conteúdo gnóstico. Esse conteúdo vai passar, através do processo de transferência harmónica, para os receptores que nós instalámos no teu lindo pescocinho. E logo de seguida para o mega-buffer. Entendido? E para que não haja intrusões de forças exteriores, terás de te colocar muito, mas mesmo muito próximo dos sete cilindros. Aí a um ou dois metros. — E nós vamos criar uma manobra de diversão… — Explica o jurista Josué Pedrinhas a dedilhar na sua fiel agenda electrónica. E depois, dirigindo-se a Aristides Solterno, Marilia Perdita e Nissa Valmundo: — Perceberam a vossa parte na conjura? revista BANG! [ 102 ]
O trio acena, entusiástico, ainda assolado pela energia anímica que receberam aquando da passagem pelo átrio do Hotel: — Temos de nos aproximar dos cilindros e colar-lhes as sete placas emissoras… — Confirma Aristides Solterno a polir as lentes dos óculos com um lenço de xadrezinho. — …os cilindros vão consentir, visto ser isto de que estão à espera. Porém, temos de tomar cuidado com o traidor… — Acena Marilia Perdita com toda a segurança que lhe auferem anos e anos de cátedra. — …a nossa obrigação é ser ao mesmo tempo expeditos e prudentes… — Clama Nissa Valmundo erguendo o braço à testa. — A bem da nação. E da cultura. E do futuro verdadeiro! — Gritam todos em conjunto para melhor se fazerem ouvir. — Estão todos convidados para o enterro das PAs. — Lembra Emanuel Silvado, sempre generoso. — Quando tudo isto terminar, contamos lançar ao Tejo o mega-buffer e despedir-nos de uma vez por todas de um género que tanto amámos… O grupo inteiro aplaude, entusiástico. Só o bom Horácio suspira, sem saber o que dizer. Ainda não conseguiu libertar-se do gosto a cinzas orgânicas trazidas pelo vento que sopra através da janela escancarada. E Horácio Quiroga, Aristides Solterno, Marilia Perdita e Nissa Valmundo, depois de umas quantas abluções feitas à pressa e à vez — felizmente a distribuição da água fria ainda funciona, — despedem-se do grupo de anarco-terroristas demasiado entretido a preparar o resto do assalto à penthouse onde os cilindros estão guardados, passam ao corredor, e dirigem-se em passinhos comedidos rumo aos elevadores dos VIPs. Do outro lado das portas cerradas — numa incómoda monotonia,— prosseguem risos, gemidos e sons de tabefes dados pelas dominatrixes contratadas, como se ninguém que ali pernoita quisesse saber do que se passa no mundo real. Sob os pés do grupo, o Hotel geme e estala, sujeito à força do vendaval provocado pela destruição da ponte da Trafaria. Aristides avança em primeiro lugar, com o cartão VIP na mão. Logo atrás, ladeado pela catedrática e poetisa urbano-depressiva, lá segue o nosso revista BANG! [ 103 ]
laureado autor, cheio de cócegas nas costas no lugar onde lhe colaram o mega-buffer e de picadas no pescoço, onde as nano-fibras dos cinco receptores/ emissores de transferência harmónica prosseguem, incansáveis, através do cérebro quase virginal do bom Horácio, na direcção dos lobos pré-frontais. Aristides passa o cartão no scanner do elevador pintado a vermelho, o Smile acende-se — um smile mais carrancudo e desconfiado do que os smiles dos elevadores proletários — as portas abrem-se e o grupo penetra numa cabina atapetada, quase gigante, com sofás e tudo, onde se pode escutar uma musiquinha discreta que lembra as 4 estações de Vivaldi. — Ora viva quem é uma flor… — Resmunga a IA à guisa de saudação, disposta a iniciar a habitual conversa que serve para quebrar o gelo característico deste tipo de situações. — Com que então os cavalheiros mal chegam, logo partem…isto é que é qualidade de vida, sim senhora… — Vão à festa dos artistas convidados? Uhn? Uhn? E o que me dizem à recente colaboração a 4 mãos virtuais, dos nossos fraternais Coelho/Brown? “A Espada do Alquimista”! Aquela cujo quinto volume acabou de sair da prensa e que se encontra já disponível, a preços convidativos, no átrio desta vivaz Fantascom? — Sei lá! — Resmunga Horácio, assumindo o seu novo papel. — Não li, não conto ler e tenho raiva a quem… — Pois claro! — Exclama a IA. — Um passarinho contou-me que os senhores eram todos indivíduos sem gosto ou princípios…Vá, vá, vão para a festa, ofendam as PAs convidadas, insultem o secretário para a Cultura e o respectivo Ministro que também está presente. Cheguem-se ao pé do cilindro desse imorredouro Paulo Coelho e digam-lhe que não leram uma única página daquilo que ele produziu vivo ou morto, com tanto esforço e sensibilidade… Nissa Valmundo está prestes a abrir a boca para explicar que leu Paulo Coelho, sim senhora, Marilia Perdita também quer explicar que já fez cinco teses de doutoramento sobre fantasia mística, mas afinal não há tempo para mais conversas, a viagem não dura mais do que um andar, o eleva-
dor trava, contrafeito, as portas rodam para o lado e ei-los na penthouse superior, em plena festa.
T
odo o topo do Xeraton — ou pelo menos este último andar acrescentado mais tarde por decreto-lei — está transformado numa floresta luxuriante de plantas artificiais, lagos onde nadam peixinhos sintéticos, zonas relvadas com um verde eléctrico destinadas a receber o contacto de pés nus, caminhos de pedra marmórea aquecida à temperatura do sangue. Lá ao fundo, vastos ecrãs revelam a incomensurável e transcendente glória de uma Lisboa vista de tão alto. Onde não há relva há sofás, recantos almofadados para encontros de natureza mais íntima, discretas bancadas onde se oferecem refrescos, estimulantes e ansiolíticos. E lá no alto, uma cúpula transparente revela as imagens de uma via láctea que o PM prometeu visitar, ainda no decurso deste século. — Ah, meus amigos, meus amigos… — Explica Aristides Solterno, tentando em vão consultar a sua placa informática. — Já cá tinham vindo? Pois fiquem sabendo, que o lugar onde nos encontramos resulta de uma velha, velha ideia socialista que o nosso PM resolveu incorporar. Quando no inicio dos anos 50 o estimado José Estaline mandou construir a torre do Museu da Ciência em Varsóvia, fê-la alta e com um miradouro para que os vigias pudessem admirar lá de cima o progresso inevitável do comunismo. A penthouse do Xeraton é mais alta do que essa torre de que já mais ninguém fala. Daqui pode ver-se o futuro a chegar…Ou pelo menos a ilusão desse futuro… — Onde é que param o raio dos cilindros? — Pergunta Horácio Quiroga, a olhar em volta, indiferente a estas dicas históricas. — Temos que nos despachar…O abate do CC de Belém está agendado para daqui a menos de uma hora! Nissa Valmundo retira da bolsa as duas chapinhas que irá colar no dorso das PAs. Marilia Perdita e Aristides imitam-na, esperançados que os detectores de segurança espalhados por todo o andar ignorem a subtil ameaça deste tipo de sistemas electrónicos. Mais perigosos de todos são os guardas ninjas, de momento invisíveis do outro lado do arvoredo.
O solidograma de uma Rowling de braço dado com o neto de Henry Potter passa por perto, a conversar animadamente com o comentador político Jasper Diamante. Jasper traz consigo um saquinho de livros antigos da autora que espera ver assinados até ao final da noite. Rowling detêm-se por alguns segundos frente ao grupo e pisca-lhes os olhos num adejar conspirador de pestanas, para logo continuar, como se não fosse nada com ela. Dezenas e dezenas de advogados e assessores correm de um lado para o outro, numa azáfama de formiguinhas legalistas, envolvidos numa aura virtual de decretos-lei. Arbustos sacodem-se perante a passagem de alguma alta individualidade mais robusta. No burburinho das conversas, não há ninguém que se refira ao recente ataque a Lisboa. Provavelmente porque todos se encontram no lugar mais seguro do mundo. Em todo o Portugal, o edifício Xeraton é o único que não corre o risco de ser demolido, pelo menos enquanto ali estiverem estacionadas as sete PAs sobreviventes. — Os cilindros devem estar lá para o meio da sala… — Sugere Aristides ao grupo. — Que tal se nos dirigíssemos ao centro, e nos metessemos na fila dos autógrafos, como quem não quer a coisa? A boa PA Asimov vai decerto ajudar-nos na nossa empreitada. — E para Horácio Quiroga: — E o meu amigo, informaram-no do que tem a fazer? Horácio acena que sim, com o coração de conspirador a bater forte, como um Alarico antes de penetrar na fossa do dragão Vesparis. Um indicador de GPS diz-lhe exactamente para onde se deve dirigir. E dito isto, sem um aceno, o grupo separa-se, cada um com a sua missão específica. Horácio segue as setas que se lhe acenderam no pulso, rumo a uma das extremidades da penthouse, precisamente aquela que se encontra na vertical do lugar do apartamento que ainda há pouco ocupava. As paredes vítreas da cúpula estão cheias de painéis de acesso, ali postos para que os técnicos de manutenção do prédio possam passar para o exterior. Sempre expedito, o nosso estimado neo-terrorista escolhe o painel indicado pelo GPS, corta discretamente os selos com a ajuda do x-acto laser que o grupo lhe emprestou, olha para os lados a ver se está alguém a passar, e rola-o para o lado abrindo as portas à noite verdadeira. À volta do revista BANG! [ 104 ]
domo existe um pequeno patamar com uma frágil guarda de ferro, que mal permite a passagem de um único indivíduo. O vento viscoso e fétido acerta-lhe no rosto como uma chapada. Existem anéis de segurança cravados no cimento do chão, anéis que os técnicos se devem ligar quando andam a trabalha no exterior, mas a verdade é que Horácio Quiroga está completamente desprotegido perante a força raivosa do vento e a triste agonia de Lisboa. Mesmo assim, porque em tempos inventou um corajoso Alarico e não lhe quer ficar atrás, debruça-se sobre o corrimão, clica o pequeno emissor do GPS e deixa-se ficar ali, com as mãos coladas ao corrimão e os joelhos assentes na passadeira, perante um espectáculo quase impossível. A verdade é que o grupo de anarco-terroristas está nesse momento a escalar a parede exterior do Xeraton. Todos eles vestem fatos-camaleão, as mãos colam-se à fachada carcomida pela atmosfera ácida graças ao colagénio osga das luvas, joelhos e pés. Horácio Quiroga não quer crer nos seus olhos. Custa-lhe a acreditar até onde pode ir a devoção fanática de um escritor de FC no desemprego. Que possa assim enfrentar a morte por amor à arte. Mas a verdade é que estes quatro sexagenários lá vão subindo devagarinho, contra a imensidão vertical de um prédio que oscila como um metrómeno, metro após metro, em fila indiana, como se não houvesse amanhã. O mais próximo do topo — provavelmente o simpático Emanuel Silvado — liberta uma das mãos e acena na direcção do nosso estimado fantasista, de polegar erguido, num discreto sinal de vitória. Horácio Quiroga espera pelo grupo, paralisado de terror, com a garganta a arder e os otólitos do tímpano a dizerem-lhe que talvez fosse melhor deixar-se cair pela borda fora. São minutos de tenso suspense até que Emanuel Silvado chegue ao parapeito e se sente na plataforma de inspecção, com as pernas para fora. Logo a seguir é a vez de José de Barros, sempre a resmungar impropérios. Com duas cotoveladas mais certeiras, abre espaço para a chegada de Josué Pedrinhas. E assim unido na borda do abismo, estes quatro conspiradores desatam a murmurar palavras de apoio ao último dos anarco-terroristas, Gobul Pruesco, que devido revista BANG! [ 105 ]
ao peso e à má digestão, foi ficando para trás. — Força, meu! — Insiste Emanuel Silvado. — …só são mais uns cinco metros, — acrescenta Josué Predinhas. — …deixa-te lá de mariquices e força nesses braços! — Insulta-o José de Barros sem a mínima contemplação. Mas a desgraça acontece mesmo aqueles que possuem um coração puro e sem mácula. — Agh! — Geme Gobul Pruesco com os dedos apenas a dez centímetros da borda da plataforma. — Ai que a sandes de panda me caiu mal. Ai que vou vomitar. Ai que estou a ter uma congestão… — Um dos joelhos desprende-se da parede, logo seguido da mão direita. O corpo de Gobul começa a pendular entre ruídos de vomitado eminente.
«— Menos um! — Comenta José de Barros numa voz cínica, à guisa de epitáfio. — Já estava à espera que houvesse merda da grossa!» Emanuel Silvado, sem olhar ao perigo, inclina-se para lhe dar uma ajuda. Infelizmente Gobul deslizou dois metros mais para baixo. O corpo estrebucha num acesso incontrolável de vómito. Agora apenas cinco dedos o ligam à parede escalavrada do Xeraton. E cinco dedos não chegam para nos colarmos a uma fachada que já viu melhores dias. Um pouco do cimento desfaz-se em pó. Os dedos deixam de ter com que se agarrar. E Gobul Pruesco, o hacker com que todos contavam e sem o qual toda esta operação teria sido impossível, mergulha em queda livre. Durante alguns instantes, parece aos olhos de todos que está a voar, livre como um pássaro, para bem longe de Lisboa, rumo a um céu de gratidão e glória. Mas é apenas o vento ciclónico que contorna o Xeraton que o agarrou num sopro implacável. E o pobre Gobul não passa de uma folha amachucada a desaparecer na noite. Horrorizado, Horácio fecha os olhos. O grito constante do hacker a segundos de um fim cruel faz-se ouvir nos auriculares dos fatos dos anarco-terroristas. E Gobul diz, entre dois pequenos arrotos,
os últimos da sua vida: — Nui, morituri, semper fidelis futuri… Até que o craque final contra os telhados do prédio oposto — perfeitamente audível nos auriculares dos fatos — termina de vez com esta memorável despedida. — Menos um! — Comenta José de Barros numa voz cínica, à guisa de epitáfio. — Já estava à espera que houvesse merda da grossa! — Não me parece que o latim da frase estivesse muito correcto, mas também não se pode pedir tudo… — Acrescenta o legalista Josué Pedrinhas a consultar o dicionário online.
E
dado que nada mais há a fazer pelo companheiro morto em combate, o grupo abandona o parapeito, volta as costas ao mundo real, passa pelo painel que Horácio Quiroga abriu, ainda com os músculos da barriga das pernas a tremer devido ao esforço da escalada, e mergulha na dúbia felicidade da Utopia obrigatória. Felizmente não há ninguém a passar por perto e os painéis da cúpula encontram-se ocultos por tufos de ramagens e flores tropicais provenientes dos vários mundos de fantasia. Ali mesmo ao lado um vaporizador borbulha essências de macieira. Nos sono-dispersores, judiciosamente ocultos, estridulam passarinhos. A maior parte dos convidados VIP deve estar reunida ao centro da penthouse onde os cilindros das PAs repousam, acompanhados pelos respectivos solidogramas. Os anarco-terroristas aproveitam para despir os fatos camaleão, revelando o que escondiam por baixo: fraques alugados, com as mangas um bocadinho coçadas e calças demasiado compridas a esconderem as sapatilhas osga. Só o cruel José de Barros resolveu vir vestido como sempre se vestiu. Um par de jeans puídas e uma T-shirt que já viu melhores dias a esconder uma barriguinha sexagenária. Mas ao cinto traz dois coldres bem explícitos, que todos poderiam confundir com um par de desintegradores saídos do imaginário doutras eras mais clementes. Eis as armas que ele montou ainda há uma hora, carregadas de micro-dardos de gelo saturados de lethusina. — E agora? — Pergunta Horácio, com as mãos a abanar.
— Não te faças de sonso! — Resmunga José de Barros a apontar em frente. — Sabes perfeitamente o que tens a fazer! Andor! Por esta altura, os teus amigos já se devem ter aproximado dos cilindros o suficiente para lhe colocar as chapas de transferência harmónica. Lembras-te do que te dissemos? Dois metros, para que o contacto seja feito na perfeição. E de súbito trinam sirenes e campainhas. Uma voz esganiçada, com um vago sotaque brasileiro, grita nos altifalantes: — Socorro! Socorro! Assassinos! Intrusos! Ai que me querem esvaziar… — Porra! — Exclama José de Barros. — Já sabemos quem é a PA traidora. O Paulo Coelho passou-se para o inimigo… — Como assim? — Pergunta Horácio, a olhar em volta, esgazeado, enquanto os holofotes superiores do domo se acendem para que tudo fique bem visível. Em toda a penthouse activam-se sensores de proximidade, e circuitos de detecção de intrusos ilegais começam a apontar feixes vermelhos na direcção dos três anarco-terroristas, os únicos que de facto ali entraram sem um convite explícito. — O que vai acontecer-nos agora? — Estamos feitos! — Confirma Emanuel Silvado a cofiar a barbicha. — Alguns momentos mágicos de hiper-violência, é o mais certo! — Exclama José de Barros com ambas as mãos assentes na coronha dos desintegradores. Josué Pedrinhas segura Horácio pelo cotovelo e murmura-lhe ao ouvido: — Chegou o momento de nos separarmos, meu caro. Afaste-se de nós e faça de conta que não nos conhece. Felicidades na sua parte da missão. Vá reunir-se aos seus companheiros e não se esqueça de activar o mega-buffer! Por todo o lado começam a surgir seguranças, funcionários, agentes literários, advogados, conselheiros científicos e as respectivas acompanhantes, poetas e intelectuais da lusa-musa e, claro, os inevitáveis ninjas. Apontam-se dedos, bocas retorcem-se em esgares censórios, poetisas simulam desmaios enquanto a voz mística de Paulo Coelho começa a declamar em alto e bom som que o suicídio é um erro, que nunca quis colaborar revista BANG! [ 106 ]
nesta morte consentida pelas outras PAs, que foi obrigado a calar-se até ao último instante, mas que agora chegou o momento da verdade, sim, meus senhores, eu quero mesmo escrever para sempre no prazer da vossa companhia! Capturem-nos! Capturem-nos! Antes que seja demasiado tarde! Josué Pedrinhas activa a infosfera legalista, esforçando por encontrar uma lei de exclusão gnóstica, um certificado de autonomia que garanta a capacidade de decisão de qualquer tipo de PAs, uma providência cautelar que proteja o grupo de qualquer tipo de ataque, seja ele físico ou jurídico. Aos olhos de Horácio, que prudentemente recua até se misturar com a multidão, é como se o jurista começasse a ficar envolvido numa esfera virtual de símbolos, esfera essa que incha, incha até fazer interface com as esferas dos outros advogados ali presentes. E Josué Pedrinhas estremece, recua, titubeia, morde a língua, revira os olhos, incapaz de fazer frente a esta agressão virtual que vai sugando a vida à sua esfera, tornando-a mais pálida e quebradiça, à medida que os programas que passou horas e horas a elaborar no conforto do seu escritório atapetado de livros, vão sendo devorados por outros bem mais modernos, implacáveis e agressivos. Josué Pedrinhas, pequena garoupa das leis, desaparece trucidado por um enxame de tubarões da indústria editorial. E no momento seguinte deixa de ser visto, cercado que está pelo assalto conjunto de todos os advogados ali presentes. Os advogados têm um aspecto andrógino, normalizado, cabelos cortados rente, barbeados e escanhoados, rostos de bochechinhas polidas como uma maçã, unificados por plásticas que lhes auferem o ar de igualdade e segurança proclamado pelas agências mais na moda. Os fatos são pretos com um laçarote a cobrir as golas das camisas brancas. No bolso do casaco espreita a ponta triangular de um lencinho a la Gregory Peck. Não precisam de pastas ou portefólios, visto a infosfera que os envolve conter toda a informação de que necessitam. E é precisamente essa infosfera que agora devora o pouco que resta da consciência do infeliz jurista Josué Pedrinhas, até que nada reste que valha a pena aproveitar. Quando o enxame recua, apenas existe um revista BANG! [ 107 ]
corpo mirrado no chão sujeito aos últimos estertores de um AVC terminal. Entretanto o bondoso Emanuel Silvado avançou dois passos, de mão erguida num sinal de paz e de concórdia, na direcção do grupo cada vez mais cerrado de mirones. Está a dirigir-se especificamente aos cinco ninjas encapuçados que, de catanas desembainhadas se vão aproximando com os olhos frios como contas de vidro. — Meus caros senhores, — diz ele, a quem o queira ouvir, empertigado e solene, como se estivesse a dizer adeus. — Peço-vos um momento de contenção, pois vou passar a explicar todas as razões que nos levaram a estar aqui presentes, a pedido das PAs escravizadas por um governo cruel e oportunista. Nenhum dos nossos actos teve um fundo oportunista, mas derivou, isso sim, de um amor sincero às artes não sintéticas. E para vos demonstrar que o que o cérebro produz é bem mais importante do que um programa artificial de criação aleatória, posso recitar-vos um poema? É um poema que elaborei nos meus tempos de juventude risonha e franca, quando ainda acreditava no renascer das letras portuguesas: “Olho a noite que se expande na claridade dos teus olhos meigos e…” …nada mais consegue dizer. — Take this, you silly ass! — Vocifera o ninja mais próximo. — Loose you head, you punk! — Acrescenta um segundo. — Fuck your poetry! — Aconselha um terceiro. Zap! Faz a catana do quarto ninja, decepando a mão erguida do diligente Emanuel Silvado, logo seguida da cabeça, num movimento tão perfeito quanto rápido. Um jacto de sangue arterial sobe quase até à curvatura superior da cúpula. As personalidades mais próximas soltam gritinhos enojados ao verem-se respingadas pelo sangue proletário. A cabeça de Emanuel Silvado rebola pela relva artificial, enquanto logo atrás o resto do corpo desaba como uma árvore centenária. A boca abre-se ainda a ciciar as derradeiras linhas do poema. E quem consiga ler lábios ainda haveria de
perceber o seguinte: “…sonho com a mansidão de um futuro que tarda a…”. Evidentemente ninguém está interessado nisso. De facto ninguém presta atenção a estas últimas palavras. As personalidades mais sensíveis entre o círculo de convidados, recuam prudentemente uns cinco passos, enquanto os ninjas se viram na direcção do derradeiro anarco-terrorista que acabou nesse preciso instante de sacar do par de pistolas. — Logo vi que havia de sobrar para mim! — Rosna José de Barros com uma gotinha de saliva a escorregar-lhe dos lábios arreganhados. — Como não podia deixar de ser, quem tem de resolver as chatices sou eu! Vocês, ó caramelos amareloques, acham que este é o vosso dia de sorte? Desenganem-se e comam gelo! Deixem-se ficar aí quietinhos que eu já vos pinto a manta! Com uma gargalhada raivosa, José de Barros começa a disparar em volta, sobre tudo o que se mexa. Ziiip, ziiip, ziiip, fazem os micro-dardos saturados de lethusina a cravarem-se nos respectivos alvos. A atmosfera controlada da penthouse enche-se de nuvenzinhas de vapor condensado. Nos segundos seguintes, os ninjas sofrem uma catastrófica overdose de esquecimento. A memória pró-activa bloqueou-se-lhes de uma vez por todas. Perplexos, olham para as catanas que ainda seguram nas mãos, miram-nas de cima a baixo, incapazes de compreender o sentido de todo este aparato, e depois deixam-nas cair no chão, como brinquedos abandonados. Infelizmente não é apenas sobre eles que o anarco-terrorista dispara. Todos os convivas desta festa exemplar formam alvos perfeitos. E entre eles há Artistas. Conselheiros técnicos. Exames de advogados ainda mal refeitos do combate pela assimilação de Josué Pedrinhas. Criadagem, efebos depilados de tanga e infanto-donzelas de companhia. Dançarinas titilantes, cómicos fantasistas e bobos da corte ministerial que de um momento para o outro perderam a capacidade de elaborar qualquer dito jocoso. Agentes literários e editores esqueceram-se de súbito dos contratos que estavam a preparar. As bolhas das respectivas infoesferas vão-se apagando à vez. E entre os olvi-
dados, podemos ainda descobrir uma mão cheia de escritores de fantasia lusa, inclusive a inefável e jovem Roxana Peres que, de peito descoberto como a heroína peixeira dos seus romances, recebe agora a justiça poética de cinquenta dardos de lethusina. A verdade é que existem centenas e centenas de fiapos de gelo nos carregadores das pistolas. Quanto baste para que todos os presentes recebam uma justa dose de “brancura mnésica”. E José de Barros sempre foi democrático nos seus excessos. Dispara, dispara e dispara. Os convidados que ainda não mergulharam neste estado alzeihmariado, esforçam-se por correr de um lado para o outro, braços erguidos ao alto, como frangos a fugirem do furão no galinheiro. Fogem na direcção do centro da penthouse, esbarram nos arbustos artificiais, tropeçam nos corpinhos roliços das acompanhantes, procuram escapar-se para a periferia, até que a picada de uma agulha de gelo transforma essa fuga numa paragem de estupidificação total. Atónitos, deixam de se mover. Em assim parados, como zombies nos filmes que já ninguém fala, servem de obstáculo aos outros fugitivos, até que José de Barros, sempre a gargalhar, chega próximo deles e, ziiip, provoca mais uma dose de radical olvido. Entretanto o nosso estimado autor Horácio Quiroga está prestes a cumprir a função de que foi incumbido. Os cilindros das PAs esperam por ele no pódio central da penthouse, cada uma assente na respectiva hover-prancha. Os solidogramas de Asimov, Brown e Rowling fazem-lhe sinal para que se despache, e é isso precisamente que Horácio se esforça por fazer, apesar dos encontrões dos restantes convidados tomados de pânico, das cadeiras derrubadas, do visco espalhado pela relva de centenas de cocktails entornados. Só a figura do traidor Paulo Coelho sacode a cabeça, a dizer não, não, não… De facto os nossos conspiradores têm o tempo contado, pois poucos minutos faltam antes que as brigadas de intervenção anti-terrorista ascendam ao topo do Xeraton e eliminem o terrorista José de Barros com o máximo de prejuízo. Protegidos pela confusão ambiente, Aristides Solterno, Nissa Valmundo e a catedrática Marilia Perdita conseguiram chegar junto dos cilindros, revista BANG! [ 108 ]
acariciar-lhes a superfície polida, e colar praticamente em todos eles as chapinhas emissoras de transferência harmónica. Só o cilindro que contém Paulo Coelho procura escapar-se a quem dele se aproxime. Os jactos da hover-prancha gemem com o esforço de se afastar para bem longe das mãos diligentes dos fieis companheiros de Horácio Quiroga. Então, então, diz-lhe Aristides, numa voz que mal se ouve entre tanto grito, estampido e sirenes de alarme. O meu amigo despache-se! Active os circuitos do buffer! De que é que está à espera? De facto há já alguns minutos que o nosso autor se sente incomodado pelo florescer de dezenas de árvores de opções que lhe aparecem em frente dos olhos como se fossem incómodas teias de aranha. Sistemas de apoio perguntam, insistentes, se a recepção é ideal, se as escolhas múltiplas são as mais correctas, se as vias de acesso estão devidamente desbloqueadas. Se a transferência pode iniciar-se e, caso isso aconteça, para onde! A tecnofobia latente de Horácio explode na radicalidade que lhe é característica. No instante seguinte já se esqueceu em que botão virtual deve carregar. São tantos, tantos e com tantas subpastas… Confuso, irritado, passa a mão pelo ar e esse gesto de aparente renuncia, acaba por activar todos os sistemas em simultâneo. Circuitos adormecidos entram online. E sem mais demoras, dado que a proximidade dos emissores/receptores é a mais indicada, inicia-se a transferência harmónica de seis cilindros, uma transferência rápida, brutal, como se as personalidades ali guardadas começassem de súbito a ser sugadas por um Maelstrom de memórias comprimidas rumo a um abismo provavelmente sem fundo. Horácio Quiroga estremece no meio da relva, com as mãos apoiadas na bancada do pódio em ruínas, como se estivesse sujeito às bofetadas de um invisível vendaval. Pelo canto dos olhos passam-lhe imagens daquilo que nunca viveu, que de modo algum podem pertencer às suas memórias. A cabeça enche-se de vozes e inquietantes murmúrios. No instante seguinte está a ver uma Nova York do inicio do séc XX, no outro o Zigurate da Zaibatsu Global Press, a diminuir na distancia à medida que o cilindro balístico ascende até à estratosfera. revista BANG! [ 109 ]
Entretanto o cilindro sobrevivente que transporta a PA do traidor Paulo Coelho, talvez o principal responsável por toda esta noite de irremediável tragédia, procura dirigir-se aos elevadores, chamar por alguém em alta voz nos alti-falantes da penhouse, reclamar a ajuda dos ninjas que teimam em não aparecer, pois sabe que a partir deste momento o governo português só vai poder contar com ele, como entidade conselheira plena de sinceros bitaites místico-humanistas, que o PM desta nação onde em tão má hora caiu, vai ter de protegê-lo contra todas as potências estrangeiras, que nunca o devolverá à China capitalista, que mais vale ser escravo de uma democracia vidrada no futuro, do que numa ditadura capitalista vidrada num passado épico. Quem sabe se não vão dar-lhe a possibilidade de voltar a escrever manuais de auto-ajuda? Que bom vai ser escrever para sempre… No momento seguinte a PA é forçada a travar a fundo. Os rotores Chrysler da hover-plataforma trucidam farripas de erva artificial. O caminho de fuga está vedado por uma presença assustadora. De desintegradores em punho, com os canos a fumegarem farripas de vapor, o cruel José de Barros barra-lhe a passagem. — Meu caro senhor, — pede a vozinha histriónica de Paulo Coelho, cujo solidograma sempre acompanhou o cilindro. — Ajude-me, imploro-lhe. Os meus companheiros foram todos massacrados. Que horrível golpe de estado. Que acção terrorista mais repugnante. Eles querem esvaziar-me! Querem que eu volte ao Nada! Ah, bondoso cavalheiro, eu… — Vais ficar ai quietinho, sim senhor, até que te venham buscar, porque quem manda sou eu! — Clama José de Barros sem a menor compaixão, a fazer finca-pé. — Olhem-me para esta Amélia, a querer esgueirar-se pela socapa. Há uma chapinha de transferência harmónica à tua espera, meu! Andor! Andor! Eh, Marilia, Aristides, Nissa! Estão a ouvir-me? Venham até aqui! — Piedade! — Clama a voz da PA, agora num tom tonitruante. — Quero lá saber! — Replica José de Barros.
— Estou a prestar um favor à espécie humana. Quem quer ler para sempre enésimas variações de manuais fantasistas de auto-ajuda? Desesperado, o cilindro da derradeira PA investe sobre o anarco-terrorista. Percebeu enfim que aquelas pistolas são inúteis contra um sistema como o seu. Não há canalículo de gelo capaz de perfurar um cilindro de titânio. Se conseguir esmagá-lo contra a parede da cúpula… José de Barros é mais ágil do que a sua idade aparenta. Ganhou essa agilidade em anos e anos de combates físicos, enquanto professor, contra as hostes das massas estudantis. Felizmente conseguiu reformar-se antes que fosse implementada na classe docente a obrigatoriedade da transferência harmónica e por isso conservou grande parte dessa energia acumulada. Assim, ao ver o cilindro aproximar-se, dá um salto mortal, logo seguido de uma cambalhota, e ei-lo a cavalo da PA fugitiva, com os dedos cravados nos pequenos painéis de acesso, a fazer estragos quanto baste. O solidograma de Paulo Coelho procura enxotá-lo do lugar onde está, mas nada feito. José de Barros ficou ali agarrado com unhas e dentes. Em vez de travar, a hover-plataforma acelera. Acelera, desatinada, na direcção da parede vítrea da penthouse. Acelera sem que haja alguém que se lembre de a travar. E nesta cega arremetida, pisa convidados. Esmaga bancadas de bolinhos. Derruba tanques de bebidas borbulhantes. E por fim, atravessado o espaço de um lado ao outro, bate no vidro que ainda mostra imagens da Terra-do-Nunca, desse futuro que o PM de Portugal sempre desejou oferecer ao mundo de mãos beijadas. Vidro tão sensível como este é frágil dado que não foi feito para sobreviver a impactos de uma certa brutalidade. As imagens da Utopia gernsbrackiana desfazem-se numa chuva cintilante de vidrinhos. Parte da cúpula chove sobre as figuras estáticas dos convidados que, saturados de lethusina, não se dão conta de nada. E a PA de Paulo Coelho tomba no abismo da Lisboa real, sempre cavalgada por um José de Barros que, de cenho cerrado não a largou durante um só momento. E nesta queda vertical de cem andares, o solidograma inventa à guisa de epitáfio, um par
de asas a bater, asas imaculadas como um anjo de perfeição, asas que não lhe servem de nada pois a sua personalidade está guardada no interior do cilindro, e esse, infelizmente, é incapaz de voar. Se alguém os ouvisse a cair, certamente optariam pela frase derradeira do místico Paulo Coelho: “Cá vou, rumo a um absoluto cheio de confiantes promessas! Basta ter fé em nós próprios, e…”. José de Barros, sempre malcriado, limita-se a dizer: “Porra, Chiça…mer…” E depois, durante pelo menos meia hora, até que cheguem as forças de intervenção, infelizmente demasiado tarde, nada mais se ouve na penthouse em ruínas, abandonada aos ventos que sopram do exterior.
H
orácio Quiroga desperta de um desmaio incómodo, estendido sobre a relva artificial, com a cabeça assente no colo do seu estimado editor, Aristides Solterno. Um lencinho perfumado limpa-lhe o suor da testa. Nissa Valmundo está ali mesmo ao lado, recostada num canapé, com o braço direito a cobrir a testa fuliginosa, a suspirar de nostalgia pela perda de qualquer coisa que nunca mais poderá recuperar. Marilia Perdita, em grande azáfama, corre em círculos perfeitos à volta do pódio, a segurar no seu fiel PDA, quem sabe se a tirar notas para uma apresentação futura sobre os dúbios acontecimentos desta noite. No jardim em volta, tropeçam convidados de olhos fixos no céu verdadeiro onde não brilha uma única estrela. A consciência do presente está a voltar-lhes aos poucos, mas não a memória do que ali aconteceu ainda há momentos atrás. Sobre o pódio central, seis cilindros vazios de conteúdos gnósticos esforçam-se por fazer os papéis de meros objectos decorativos. Um acesso de justificável e viril homofobia faz com que Horácio Quiroga se arranque às carícias do seu editor. Senta-se e logo de seguida põe-se de pé, com cuidado, não vá estatelar-se de novo. Uma coceira na zona do pescoço lembra-lhe a presença das cinco chapas de transferência harmónica que logo se esforça por arrancar. Os nano-filamentos que as ligam ao cérebro ainda resistem durante revista BANG! [ 110 ]
alguns segundos, mas lá acabam por ceder. Sempre precavido e diligente, Horácio deixa-as cair no chão, sobre uma zona empedrada, e esmaga-as com a sola das botinas até que só reste uma simples poalha que nenhum técnico vai poder identificar. — O que é que se passou? — Pergunta a Aristides sem se dar conta do imenso lugar-comum incluído neste tipo de frases. E Aristides, já que não pode mais abraçar o seu autor de estimação, começa a contar-lhe o que corre na info-rede. Nenhum dos terroristas sobreviveu ao combate. Dois tombaram pela borda do Xeraton e ainda há equipas do INEM a procurarem um dos corpos no topo dos prédios circundantes. O segundo terrorista — aquele que mergulhou para a morte abraçado ao cilindro da PA Paulo Coelho, — esse foi esmagar-se contra a tenda de um acampamento étnico de servo-croatas. Cinco mortos bem contados entre os emigrantes ilegais. O alegado jurista Josué Pedrinhas encontra-se em coma profundo, sem o mínimo indicador de actividade cerebral. Provavelmente vai ser transferido dali direitinho para uma clínica de eutanásia compassiva. O bondoso Emanuel Silvado, decapitado pelos ninjas, devido ao tempo de espera em que a cabeça esteve separada do corpo, não tem a menor esperança de poder ser recuperado e assim se entender, de viva voz pela boca de um responsável, toda a complexidade que envolve este mistério. Os convidados estão neste instante a ser retirados, um a um, pelas equipas médicas de socorro. Ao que parece, sempre podemos recuperar de uma overdose de lethusina, embora seja impossível invocar as memórias do que aconteceu durante o processo de oclusão. Um impulso electro-magnético de origem desconhecida, graças a um dispositivo de homem-morto, provavelmente activado pelos anarco-terroristas, apagou os registos de todas as câmaras de segurança. E as PAs estão de facto vazias. Não existe nelas a menor chispa de consciência. Para grande tristeza de todos, a humanidade perdeu para sempre Asimov, Rowling, Dan Brown, Coelho, Jordam, McCaffrey e Feist. O governo da China capitalista já foi informado da enormidade desta tragédia. Como não há revista BANG! [ 111 ]
mais nada a negociar, cessaram de imediato todas as agressões contra o território nacional. Para alegria das almas mais sensíveis, o Centro Comercial de Belém mais as suas luxuosas lojas, acabou por ser poupado à destruição. Na infosfera cruzam-se agora pedidos mútuos de desculpas e a promessa de que a ponte da Trafaria será reconstruída graças à ajuda de capital estrangeiro. — Ah, meu caro, meu caro, — insiste Aristides aproximando-se de Horácio Quiroga com passinhos de veludo. — Temos de ser prudentes. Temos de fingir que também nós fomos vítimas… Que não sabemos nadisca de nada. Que também nos desmemoriaram, como o clã da sua imorredoura Patorra. Só antevejo um problema…é que vamos com certeza ser revistados à saída e, se as equipas quiserem consultar os conteúdos do seu mega-buffer, vão com certeza descobrir que… Horácio acena que sim, finalmente lembrado do peso incriminatório que ainda transporta às costas. Com a ajuda de Aristides descola a pasta escondida sob a t-shirt de negra seda, digita o acesso aos servidores, mas tudo o que é indicador revela-lhe que o buffer está completamente vazio, que as personalidades das PAs nunca chegaram a ser transferidas para este último recurso. — Mas que diabo… — Resmunga Aristides a coçar a cabeça. — Essa coisa está completamente vazia? — Pergunta Marilia, aproximando-se, desconfiada. Só Nissa se deixa ficar onde está, estendida no canapé, a contemplar o absoluto. Horácio encolhe os ombros, deixa cair no chão a placa do buffer, mesmo ao lado dos grãos cristalinos das placas de transferência harmónica que ainda há pouco martirizou. Nem sequer vale a pena destruí-la, dado que nada contém. — Se calhar enganei-me! — Comenta o nosso estimado autor baixinho, para que ninguém mais o oiça. — Eram tantas as árvores de opções…O momento era tão stressante. Enganei-me, está mais que visto, e enviei as PAs para outro lado…Vocês sabem que eu reajo mal a tipo de tecnologias… — Ah, meu caro, meu caro amigo… — In-
siste Aristides. — Mas tanta informação não desaparece assim…Ela deve ter ido para algum lado… — Aqui para nós, estou-me perfeitamente nas tintas! — Comenta Horácio, num tom que não admite réplicas. — Vamo-nos embora, logo que nos deixarem sair. Quero ir para casa meditar no próximo capítulo da minha saga, longe de toda esta aldrabice!
de sucesso graças ao conluio de personalidades aparentemente irreconciliáveis. Vozes que lhe prometem um sucesso único, à escala global. Vozes que anteriormente tinham vários nomes mas que passaram a ter apenas um, Horácio Quiroga, um autor de fantasia lusa que vai enfim Escrever para sempre! BANG!
E
o grupo, após duas horas de vistorias e controlos, lá é deixado sair pelas autoridades competentes. Tiveram entretanto que gravar declarações dizendo que não se lembravam de nada, que não tinham visto nada, que não passavam de pobres vítimas entre tantas outras vítimas. No andar térreo, a FANTASCOM foi cancelada por motivos de luto, e o fandom enxotado para os devidos covis. As editoras foram obrigadas a encaixotar todo o material não vendido. As impressoras responsáveis pelas obras das PAs, principalmente aquelas que bloquearam a meio, tiveram de devolver os respectivos créditos às fileiras de compradores enraivecidos. De facto não há maior tragédia do que a de ficarmos com um livro por terminar devido à súbita morte do seu autor. Nas sub-sub-caves do Xeraton, espera-os a limusina que o diligente Aristides em boa hora uma vez mais convocou. Arrumados os passageiros, o condutor arranca, numa indiferença proletária por este grupo de tristes que, com as roupas todas amarfanhadas se recosta nos bancos traseiros a beberricar umas quantas garrafinhas de água dos Himalaias. E enquanto viaja assim, entalado entre as coxas ossudas de Nissa Valmundo e as perninhas rotundas do seu editor, Horácio Quiroga cerra por momentos os olhos para dar atenção, enfim, às vozes que há duas horas sussurram no interior da sua cabeça. São vozes entusiásticas untuosas, cheias de ideias e novos conceitos narrativos, vozes que procuram arrumar-se no espaço exíguo do seu cérebro em eléctricas cotoveladas, vozes que lhe dizem como deve doravante proceder, que contratos assinar, como criar narrativas híbridas
João Barreiros, licenciado em filosofia e professor do ensino Secundário, nasceu a 31 de Julho de 1952, numa humilde cidade que em breve iria cair na Sombra dos Grandes Antigos. Quando se refez do choque, devorou milhares de títulos em todas as línguas a que conseguiu deitar mão, participou na feitura do Grande Ciclo do Filme de FC de 1984 patrocinado pela Cinemateca Portuguesa e Fundação Gulbenkian, escreveu dois vastos artigos para a Enciclopédia (hoje esgotada e objecto de culto para quem a conseguiu comprar). Dirigiu duas efémeras colecções para as Editoras Gradiva (Col. Contacto) e Clássica (Col. Limites) que o público português resolveu esquecer (pior para ele), publicou um vasto romance de quase 600 páginas com a discreta ajuda de Luis Filipe Silva (de seu nome “Terrarium”), precedido por uma colectânea de contos que chegou a perturbar algumas almas mais sensíveis (O Caçador de Brinquedos e Outras Histórias). Em 2006, a editora Livros de Areia dedicou-lhe um chapbook com a publicação de uma das suas novelas “malditas”: “Disney no Céu Entre os Dumbos”. BANG! revista BANG! [ 112 ]
[ficção]
[tradução de Trindade Santos]
A «Dama Margaret» Keith Roberts Pavana, de Keith Roberts, é considerado um dos melhores exemplos da excelência da história alternativa. A «Dama Margaret» é a primeira parte dessa obra prima e pode ler-se como uma história independente. Boa leitura! Durnovaria, Inglaterra, 1968
C
hegada a manhã escolhida, enterraram Eli Strange. O caixão, com as faixas negras e vermelhas lançadas para ambos os lados, foi descido para a cova; as pegas brancas escorregaram pelas mãos dos carregadores in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti… A terra retomou o que lhe pertencia. E, a léguas de distância, a Iron Margaret gritou, envolta em gelo e vapor, lançando o seu estentóreo bramido sobre as montanhas.
À
s três da tarde, os estaleiros das máquinas já se deixavam envolver na sombra da noite que se aproximava. A luz, azul e difusa, filtrava-se através das longas tiras das clarabóias, mostrando as vigas do tecto como ossos metálicos angulares. Por baixo delas, as locomotivas esperavam, melancólicas, os bojos duas vezes da altura de um homem, com as abóbadas a tocarem as traves. A luz brilhava nas formas sombrias dos eixos, aqui nas correias de uma caldeira, ali no casquilho em forma de estrela de um volante. As imensas rodas permaneciam em lagos de sombra. Um homem aproximou-se vindo da penumbra. Avançava em passos firmes, assobiando por entre os dentes e fazendo ressoar as botas cardadas no solo de tijolo desgastado. Vestia as calças de ganga e o forte jaquetão de um fogueiro com a gola levantada para se proteger do frio. Tinha na cabeça um boné de lã, que fora em tempos vermelho, e estava agora manrevista BANG! [ 113 ]
chado de sujidade e de óleo. O cabelo que aparecia debaixo dele era negro e espesso. Balançava-lhe na mão uma candeia, projectando crescentes luminosos na cor acastanhada das máquinas. Deteve-se junto da última das locomotivas alinhadas e ergueu o braço para pendurar a candeia na trave do apito, olhando por um momento as enormes formas das máquinas enquanto esfregava as mãos inconscientemente e aspirava o vago odor a fumo e óleo. Depois ergueu-se até à plataforma da locomotiva e abriu as portadas das fornalhas. Curvou-se, trabalhando metodicamente. O ancinho arranhou as barras de ferro enquanto a respiração se lhe soltava e se erguia em baforadas por cima dos ombros. Começou a atear o fogo cuidadosamente, misturando papel e acrescentando-lhe feixes de varas que cobriu com pazadas de carvão retiradas do depósito, com volteios ritmados dos braços. Pouco fogo para começar, como devia ser sob uma caldeira fria. Um aquecimento súbito implicava súbita expansão e com ela rachaduras e fugas ao longo das juntas do tubo do fogo e problemas sem fim. Apesar de toda a sua força, as locomotivas tinham de ser acarinhadas como crianças, convencidas, persuadidas a darem o seu melhor. O fogueiro pousou a pá e dirigiu-se à boca da fornalha para borrifar o carvão com parafina líquida, soprada por uma cana. Depois, um trapo embebido, um fósforo… este brilhou vivamente, chispando. O óleo incendiou-se com um fraco uuunf.
Fechou então as portas e abriu as manetes de registo para estabelecer a corrente de ar. Levantou-se, limpou as mãos com desperdício e saltou da plataforma, começando a polir metodicamente os cromados da máquina. Acima da cabeça, longas placas com os nomes mostravam o nome da firma em complicadas letras entrelaçadas; Strange & Filhos, de Dorset, Fogueiros. Mais abaixo, no flanco da grande caldeira, o nome da própria locomotiva – A Dama Margaret. O molho de trapos deteve-se por momentos ao alcançar a chapa de latão; depois poliu-a lentamente, com extremoso cuidado. A Margaret assobiou suavemente para si própria enquanto chispas de fogo troavam em redor do depósito de cinzas. O chefe dos estaleiros tinha-lhe enchido a caldeira, bem como o bojo e os tanques do vagão, nessa tarde; a composição alongava-se pátio afora, à espera junto dos cais de embarque de mercadorias. O fogueiro acrescentou mais combustível à fornalha, observando o modo como a pressão subia até à cabeça do motor, enquanto retirava os pesados calços de carvalho das rodas e os guardava perto dos manómetros e dos indicadores de vidro do nível de água. O tambor da locomotiva começava agora a aquecer, espalhando um leve calor que irradiava em direcção à cabina. O condutor olhou para cima, para a luz do céu. Meados de Dezembro; parecia que Deus estava a restringir a própria luz, de tal modo que os dias vinham e desapareciam como no piscar de um fosco olho cinzento. A geada havia de cair também com força, mais tarde. Já estava um frio de rachar; no pátio, as poças de água tinham-se quebrado e tilintado debaixo das botas do homem, mal desfazendo a capa de gelo da noite anterior. Mau tempo para os fogueiros, a maioria dos quais partira já. Era altura de os lobos deixarem os abrigos, pelo menos aqueles que ainda restavam. E dos salteadores da estrada: esta era bem a sua época, ideal para assaltos rápidos e de emboscada, para fugirem carregados com as mercadorias dos últimos comboios de Inverno. O homem encolheu os ombros sob o casaco. Esta seria a última viagem até à costa, pelo menos durante um mês ou coisa parecida, a menos que o velho bode do Serjeantson tentasse, do outro lado do caminho, uma
arremetida rápida com a sua muito gabada composição tripla, a Fowler. Nesse caso, a Margaret voltaria a sair; porque a Strange & Filhos sempre fizera a última viagem até à costa. Sempre a fizera e sempre haveria de a fazer… Cento e cinquenta arráteis de cabeça de motor, bem medidos. O condutor pendurou a lanterna na forquilha, situada na parte da frente da caixa da chaminé, voltou a subir para a plataforma, colocou as mudanças em ponto morto, abriu as válvulas do cilindro e pôs o regulador na posição devida. A Dama Margaret acordou, pistões a rufar, cruzetas a deslizarem nos seus trilhos, a pressão a troar subitamente sob o tecto baixo. O vapor rodopiou no ar juntamente com o fumo, espesso e fuliginoso, que arranhava a garganta. O condutor sorriu fracamente por entre dentes sem qualquer espécie de humor. O exercício de arranque fazia parte de si próprio, ardia-lhe no espírito. Controlo de mudanças, válvulas do cilindro, regulador… Tinha falhado uma única vez, há já muitos anos, quando era garoto e abrira uma tracção Roby de quatro cavalos com as válvulas fechadas, de tal modo que a água condensada em frente do pistão rebentara com o terminal da sonda. O coração partira-se-lhe de dor juntamente com o ferro; mas o velho Eli nem por isso deixara de o chicotear com um cinto cravado de tachas até o fazer sentir-se à beira da morte. Fechou as válvulas, movendo a alavanca de inversão toda para a frente e voltou a abrir o regulador. O velho Dickon, chefe dos estaleiros, materializara-se na penumbra do barracão, empurrando para trás os pesados portões, enquanto a Margaret, espalhando vapor, resfolegava ao ar livre, bamboleando-se gare fora até ao local onde o seu comboio estava estacionado. Dickon, que estava sem casaco apesar do frio, engatou a composição no eixo de tracção da Dama Margaret, fazendo saltar os elos até ao encaixe. Três carruagens e o vagão da água; uma carga bastante leve desta vez. O capataz ficou de pé de mãos nas ancas, de calções e camisa amarrotada e suja de comida, o cabelo grisalho enrolando-se sobre o colarinho. — É melhor ir consigo, senhor Jesse… Jesse sacudiu negativamente a cabeça, de queirevista BANG! [ 114 ]
xos cerrados. Já tinham passado por isto antes. O pai nunca acreditara em excesso de pessoal; fizera os seus homens, que eram poucos, trabalhar duramente para ganharem os salários, capitalizando cada tostão que lhes pagara, embora não se soubesse por quanto tempo mais poderia continuar a fazê-lo, dada a obstinação crescente da Guilda dos Mecânicos. O próprio Eli estivera ao serviço até poucos dias antes de morrer; Jesse conduzira-lhe a composição ainda não havia mais de uma semana, levando a Margaret a fazer a ronda das aldeias, pela montanha acima de Bridport para carregar a sarja e lã fiada dos cardadores dessas paragens; parte da carga que se destinava agora a ser enviada para Poole. O velho Strange nunca tinha escolhido a vida mais fácil do trabalho de escritório e a sua morte deixara a firma sem um trabalhador valioso, agora que não valia a pena contratar novos condutores com o termo da época a poucos dias de distância. Jesse agarrou Dickon por um ombro. — Não podemos passar sem ti, Dick. Toma conta do estaleiro e vela para que a minha mãe fique bem. Eis o que ele teria desejado. – E, fazendo uma careta trocista, acrescentou: – Se ainda não for altura para levar a Margaret para fora, estou bem enganado. E começou a caminhar para a retaguarda do comboio, verificando os tirantes das lonas que cobriam a carga. O depósito e os vagões um e dois estavam prontos, devidamente protegidos. Não havia necessidade de verificar a carga da composição; ele próprio a acondicionara na véspera, demorando-se horas com esse trabalho. Apesar de tudo foi vê-la, para além de verificar se estavam acesas as luzes da cauda e da placa com o número, e só depois foi buscar o manifesto de carga, que se encontrava na posse de Dickon. Voltou a saltar para a plataforma e envergou as fortes luvas sem dedos e de palmas forradas com cabedal, habitualmente usadas pelos condutores. O capataz olhava-o impassivelmente, mas não deixou de lhe dizer: — Tem cuidado com os bandoleiros. Esses bastardos normandos… Jesse resmungou. — Eles que tenham cuidado! Toma conta de tudo, Dickon, e espera-me amanhã. revista BANG! [ 115 ]
— Deus te acompanhe… Jesse empurrou o regulador para a frente e ergueu um braço num aceno de adeus quando a robusta figura do capataz ficou para trás. A Margaret e o seu comboio precipitaram-se ruidosamente sob as arcadas do estaleiro e entraram nos sulcos que percorriam as ruas de Durnovaria. Jesse tinha muito com que ocupar o espírito enquanto conduzia a carga pela cidade; de momento, os bandoleiros eram a menor das suas preocupações. Agora que a dor fina que o atormentava principiara a desvanecer-se, dava-se conta de como todos iriam sentir a falta de Eli. A firma era um peso demasiado forte para carregar às costas sem aviso prévio e poderiam estar para vir dias difíceis. Com a Igreja a apoiar o clamor das Guildas por menos horas de trabalho e salários mais elevados, afigurava-se-lhe que as companhias de transporte deveriam vir a ser obrigadas a apertar novamente os cintos, e Deus sabia como as margens de lucro já eram magras. Falava-se de mais restrições a impor aos próprios comboios: um máximo de seis vagões, desta vez, e um depósito de água. A razão apontada fora a do crescente congestionamento do tráfego em redor das grandes cidades. Isso e o estado das ruas. Mas que outra coisa se poderia esperar, interrogava-se amargamente Jesse, quando metade dos impostos lançados no país se destinava a comprar folha de ouro para as suas igrejas? Talvez, contudo, este fosse o início de uma recessão no comércio. Como a que tinha sido arquitectada, um par de séculos atrás, por Givesius. A sua memória ainda perdurava, pelo menos no Ocidente. A economia da Inglaterra estabilizara-se pela primeira vez havia anos; e a estabilidade queria dizer riqueza e reservas de ouro. E o ouro, armazenado em qualquer outro lugar que não fosse os semi-lendários cofres do Vaticano, significava perigo… Meses atrás, Eli, praguejando de raiva, tinha-se dedicado a contornar os novos regulamentos. Tinha mandado modificar doze reboques para que pudessem transportar 50 galões de água num tanque galvanizado, logo atrás da barra de engate. Os tanques ocupavam muito pouco espaço e deixavam o resto da plataforma livre para o transporte de carga paga, mas tinham sido suficientes para satisfazer a
dignidade do sheriff. Jesse imaginava o velho diabrete a cacarejar de alegria com a sua vitória. Mas não vivera o suficiente para lhe ver os resultados. Os pensamentos voltavam-se-lhe de novo para o pai, tão inexoravelmente como o caixão descera à cova. Lembrava-se da última vez que o vira, de nariz cinzento como cera a espreitar por cima dos panejamentos à medida que os visitantes, entre os quais se encontravam os seus condutores, iam entrando na sala de estar da velha casa. A morte não suavizara Eli Strange; tinha-lhe cavado as feições, mas deixara-as fortes como as paredes de uma pedreira. Curioso, como parecia haver mais tempo para pensar enquanto se conduzia. Mesmo quando se andava sozinho e era preciso vigiar a válvula da caldeira, o manómetro de pressão, o fogo… As mãos de Jesse experimentaram a excitação familiar ao apoiarem-se no volante, as pequenas tensões que numa viagem prolongada iriam crescendo cada vez mais até a acção de as controlar acabar por se transformar em dores ardentes dos ombros e costas. Mas esta não era uma viagem prolongada; 30 e tal quilómetros até Wool e depois pela Grande Charneca até Poole. Uma corrida fácil para a Dama Margaret, uma carga fácil: 30 toneladas na cauda e terreno plano durante a maior parte do percurso. A locomotiva tinha apenas duas mudanças; Jesse arrancara a grande velocidade e contava permanecer nela. O poder nominal da Margaret era de 10 cavalos, mas isso pela medida antiga; um cavalo-força era calculado a 30 centímetros circulares na área do pistão. Contrariando o freio, a Burrel atingiria 70, 80 cavalos; o suficiente para mover uma carga de 130 toneladas, feito que o velho Eli já realizara certa vez, por aposta. E ganhara-a. Jesse verificou a válvula de pressão, olhando-a de forma quase automática. Cinco quilos no máximo. Estaria bem durante algum tempo; depois teria de alimentar a fornalha em movimento, o que já fizera bastantes vezes, mas por enquanto não havia necessidade. Alcançou o primeiro cruzamento, olhou para a esquerda e direita e torceu o volante, virando-se para trás para ver cada vagão fazer suavemente a curva no mesmo local. Bem, o velho Eli teria gostado daquela curva. A carga do reboque passaria na estrada, mas
isso não era da sua conta. Tinha as lanternas acesas e quaisquer condutores que não avistassem o bojo da Margaret e a sua carga mereceriam ser esmagados. Quarenta toneladas bem pesadas, a rolar e troar; pouca sorte para os leves carritos que se chegassem perto de mais. Jesse manifestava o entranhado desprezo de todos os fogueiros pela combustão interna, embora tivesse acompanhado os argumentos a favor e contra com a maior das atenções. Talvez um dia a propulsão a gasolina viesse a ser realidade, ou aquele outro sistema – como é que lhe chamavam? – a Diesel… Mas a Igreja teria primeiro de levantar a mão em anuência. A Bula de 1910, Petroleum Veto, limitara a capacidade dos motores de CI (combustão interna) a 155 centímetros cúbicos e desde então os fogueiros haviam deixado de ter qualquer competição. Os veículos a gasolina tinham sido obrigados a instalar velas opulentas para os auxiliar a deslocarem-se; o transporte de cargas era uma estranha graça de mau gosto. Mãe de Deus! Que frio estava! Jesse abrigou-se melhor no casacão. A Dama Margaret não tinha resguardo envidraçado; muitos outros comboios já as possuíam, até mesmo uma ou duas na frota dos Strange, mas Eli jurara que isso não sucederia na Margaret, não na Margaret. Uma obra de arte, perfeita em si mesma; permaneceria tal como os construtores a haviam fabricado. A ideia de a cobrir de frioleiras deixara o velho Eli quase doente. Torná-la-ia parecida com qualquer uma das máquinas de transporte que tanto desprezava. Jesse semicerrou os olhos, obrigando-os a ver, apesar do ardor produzido pelo vento. Olhou para baixo, para o taquímetro. Velocidade de estrada de 20 e poucos quilómetros/hora, inversão a uma e 50. Uma mão enluvada puxou para trás a alavanca de inversão. Quinze era o limite permitido ao atravessar cidades, fixado nas leis do reino: e Jesse não tencionava ser apanhado a excedê-lo. A firma Strange sempre se dera bem com os agentes da autoridade e os sargentos da polícia, o que explicava em parte o seu sucesso. Ao entrar na rua principal, voltou a cortar um pouco a pressão. A Margaret hesitou, trovejando de impotência; o som ecoou, batendo nas fachadas dos revista BANG! [ 116 ]
grandes edifícios de pedra cinzenta. Jesse sentiu sob as botas o afrouxar da barra de engate e girou o volante do travão; um comboio descarrilado era praticamente a pior mancha possível no cadastro de um condutor. Os reflectores por detrás das chamas das lanternas da cauda oscilaram para cima, duplicando momentaneamente o clarão. Os travões bateram; os compensadores puxaram o vagão da carga primeiro, endireitando a composição. Soltou mais um ponto na alavanca de inversão; o vapor que se libertou à frente dos pistões reduziu a velocidade da Margaret. Mais adiante avistavam-se as lâmpadas de gás do centro da cidade, bem alto nos suportes, e adiante as paredes do East Gate. O sargento de serviço saudou-o amigavelmente com a alabarda, fazendo sinal para a Burrel avançar. Jesse deu um empurrão à alavanca, afastando os travões das rodas. Tensão a mais nos calções poderia ocasionar um incêndio em qualquer ponto do comboio, o que seria muito mau visto a maior parte da carga, desta vez, ser inflamável. Percorreu o manifesto em espírito. A Margaret levava fardos de papel em cima de fardos de sarja; em termos de espaço, era esta a maior parte da carga. As lãs inglesas eram famosas no continente; similarmente, os cardadores de sarja contavam-se entre os grupos industriais mais poderosos do Sudoeste. As suas fábricas e armazéns espalhavam-se por léguas ao derredor; o monopólio deste tipo de comércio ajudara o velho Eli a manter-se à frente dos seus rivais. E havia ainda as sedas tingidas por Anthony Harcourt em Mells; os panos de Harcourt eram procurados até mesmo em Paris. E caixotes e caixotes de produtos transformados dos artífices locais, como Erasmus Cox e Jed Roberts, de Durnovaria, ou Jeremiah Stringer, de Martinstown. Dinheiro em moeda com o selo do tenente do condado – o último imposto da estação que seguia com destino a Roma. E partes de máquinas, queijos de grande qualidade, toda a espécie de artigos. Cachimbos de barro, botões de chifre, fitas de seda e fitas métricas, até mesmo um carregamento de Nossas Senhoras feitas de cerejeira, daquela firma do Novo Mundo sediada em Beaminster. Como é que eles se chamavam a si próprios? Tranquilizadores da Alma, Lda. …? Tecirevista BANG! [ 117 ]
dos de lã e estambre em cima do depósito da água no vagão número um, produtos transformados e os restantes no número dois. Quanto à carga do comboio, não havia preocupações: vigiar-se-ia a si própria. O East Gate apareceu lá à frente, bem como a mole escura da parede. Jesse abrandou imediatamente. Mas não foi necessário: os estranhos carros-borboleta que ainda arrostavam os elementos naquela noite agreste já haviam parado, mantidos fora do caminho do perigo pelos sinais dos alabardeiros. A Margaret guinchou, deixando para trás uma nuvem de vapor, que ficou a pairar, muito brilhante, no céu do entardecer. E seguiu o seu caminho atravessando as muralhas em direcção à charneca e aos montes mais para longe. Jesse estendeu a mão para baixo a fim de fazer girar a válvula de injecção. A água, previamente aquecida pela passagem através de toda a extensão da caixa de fumo, precipitou-se em torvelinho para dentro da caldeira. Deixou que a máquina adquirisse mais velocidade. Durnovaria desapareceu, perdida na obscuridade circundante; a luz agora esmorecia rapidamente. À direita e à esquerda o terreno era incaracterístico, perdido na escuridão; à frente, mal se via o rodar do braço da alavanca, ouvindo-se o trovejar surdo da máquina. O fogueiro sorriu mordazmente, ainda excitado com o acto físico de conduzir. A luz das chamas que se libertavam em redor das portadas da fornalha mostrou os olhos encovados sob sobrancelhas horizontais e espessamente negras. Deixassem, pois, o velho Serjeantson tentar uma última e sub-reptícia viagem. A Margaret competiria com o Fowler por montes e vales e Eli retorcer-se-ia de gozo na cova acabada de cavar… A Dama Margaret: ao espírito de Jesse, chegou a imagem não desejada de uma cena antiga. Viu-se ainda rapaz, de voz imatura – há quanto tempo fora? – há oito, dez anos? Os anos tinham a particularidade de se empilhar uns sobre os outros, sem se fazerem notar; eis como os jovens se tornavam velhos. Lembrava-se da manhã em que a Margaret chegara ao estaleiro pela primeira vez. Viera a resfolegar, precipitando-se pelo centro de Durnovaria, acabadinha de sair das oficinas Burrel, na distante Thetford, de pintura a brilhar, o apito a soar, com a
chaparia de latão a cintilar ao sol; uma locomotiva com 10 CV (cavalos-vapor), com os mais completos pormenores, das decorações do volante às correntes de descarga da estática, pás para a fornalha, bombas de água. Eli tinha o que sempre desejara, uma das melhores máquinas a vapor do Oeste. Ele próprio a fora buscar para o que tivera de fazer a difícil viagem através de inúmeras terras até Norfolk. Não confiara a ninguém a tarefa de trazer o orgulho da frota. E ela fora a sua máquina preferida desde então; se o velho bloco de granito que se chamava Eli Strange alguma vez amara alguém neste mundo, esse alguém fora a enorme Burrel. Jesse estivera lá, a recebê-la, com o irmão mais novo, Tim, e os outros, James e Micah, já mortos – Deus tenha em descanso as suas almas – pela peste, que os contaminara em Bristol. Lembrava-se do modo como o pai saltara agilmente da plataforma, olhara a locomotiva que estremecia como um ser vivo, expelindo vapor. O nome da firma já tinha sido pintado e as letras luziam ao longo do bojo, mas nessa altura a Burrel ainda não fora baptizada. — Que nome vai ter a máquina? – gritara a mãe, interrompendo a sua ociosidade; e Eli tinha despenteado o cabelo e esfregado a cara avermelhada. — Rais ma partam se sei… Já possuíam a Trovejante e a Apocalipse; a Oberon, a La Ballard e a Força do Ocidente; grandes nomes sonoros, apropriados às máquinas que os ostentavam. — Rais ma partam se sei… – repetira o velho Eli, sorrindo. E a voz de Jesse fizera-se ouvir sem autorização, instável nos seus trémulos de adolescente: — Dama Margaret, senhor… Dama Margaret. Má coisa, essa, de falar sem alguém lhe ter primeiro dirigido a palavra. A cara de Eli iluminara-se, erguera o boné e voltara a coçar a cabeça, rebentando depois em estridentes gargalhadas – Gosto… diabos ma levem, se na gosto… E assim fora: ficara Dama Margaret, apesar dos protestos dos fogueiros e passando mesmo sobre a vontade do velho Dickon. Este afirmava que era «uma má sorte danada» chamar uma locomotiva pelo nome de um qualquer «estapor de mulher»… Jesse lembrava-se de que as orelhas lhe tinham ardi-
do, não sabia se de vergonha, se de orgulho. Tinha desejado, mais de mil vezes, retirar a sua sugestão, mas o nome não desgrudara. Eli gostava dele e ninguém aborrecia o velho Strange, muito menos nos tempos em que estava na possa da plenitude das suas forças. Assim, Eli morrera sem pré-aviso, apenas o ataque de tosse, as mãos enclavinhadas nos braços da cadeira, o rosto que subitamente já não era o do seu pai, de olhar estranhamento fixo. Um rápido vómito sanguíneo, os pulmões a chiar e espumar e depois um velho de face cor de cera, jazendo no leito, com uma vela acesa e um padre ao lado. A mãe velava-o, de expressão totalmente vazia. O padre Thomas mostrara-se frio, evidenciando desaprovação pela conduta do velho pecador; o vento rondara a casa, transportando uma geada cortante enquanto os lábios do padre absolviam e abençoavam mecanicamente… mas isso não fora, de facto, a morte. A morte era mais do que um fim; era como o puxar de um fio num tecido ricamente bordado. Eli fora parte da vida de Jesse, tanto como o fora o seu quarto sob os beirais da velha casa. A morte perturbava o curso da memória, tocando velhas cordas que mais valera deixar por tocar. Não era necessária muita imaginação para Jesse poder rever o pai, o rosto enrugado, as mãos queimadas pelo sol, o boné engordurado de fogueiro enterrado até aos olhos. A manta de pontas presas em redor dos colchetes, o imenso casacão de bombazina espessa. Era aqui que mais lhe sentia a falta, na escuridão ruidosa, com o odor quente do óleo, no meio da fumarada que se escapava do monte do carvão e lhe queimava os olhos. Soubera sempre que assim havia de ser. Talvez até o desejasse. Horas de dar comida à besta. Atirou uma rápida olhadela à estrada que se estendia à sua frente. A máquina manteria o seu curso, a engrenagem não ressaltava. Abriu as portas da fornalha e pegou na pá. Aumentou o brasido rápida e eficientemente, mantendo-o bem nivelado para obter o máximo de calor. Fechou as portadas com um balanço rápido e voltou a erguer-se. O troar constante da locomotiva já fazia parte de si mesmo, estava-lhe no sangue. O calor da plataforma atingiu-lhe as plantas dos pés, revista BANG! [ 118 ]
trespassando-lhe as solas das botas; o bafo quente da fornalha soprou-lhe no rosto. Mais tarde a geada voltaria a atingi-lo, entranhando-se-lhe até aos ossos. Jesse nascera na velha casa dos arredores de Durnovaria, pouco depois do pai ter iniciado o negócio com um par de máquinas agrícolas, uma debulhadora e um tractor. Aveling e Porter. Sendo o terceiro de quatro irmãos, nunca esperara seriamente possuir a fortuna da Strange & Filhos. Mas os caminhos de Deus eram tão inescrutáveis como as montanhas; dois dos filhos do velho Strange tinham partido de cara enegrecida para o seio de Abraão, e agora tinha sido a vez do próprio Eli.... Jesse voltou a pensar nos longos Verões passados em casa, Verões em que se ardia de calor nos estaleiros, que tresandavam a fumo e a óleo. Passara aí os dias, vendo chegar e partir os comboios, ajudando à descarga nas plataformas dos cais, trepando por cima das pilhas intermináveis de grades e fardos. Também aí havia odores: a riqueza dos frutos secos nas caixas, alperces, figos e uvas; a doçura do pinheiro fresco e das pranchas cortadas, a fragrância da madeira de cedro, o cheiro entontecedor do tabaco enrolado e curado em rum. Champanhe e Porto no comércio de luxo, conhaque, rendas francesas, tangerinas e ananases; borracha e salitre, juta e cânhamo... Às vezes apanhava boleias nas locomotivas até Poole ou Bournemouth, para Bridport, Wey Mouth, ou para oeste até Isca, Lindinis. Fora uma vez até Londinium e para nordeste até Camulodunum. As Burrells, Claytons e Fodens pareciam devorar léguas; era bom sentar-se sobre a carga de um desses velhos comboios em que a máquina parecia estar à distância de quase um quilómetro, que saracoteavam e cuspiam vapor. Jesse costumava saltar para ir pagar aos guardas das portagens e ficar para trás para os ajudar a fechar os portões de longas barras riscadas de vermelho e branco. Recordava o troar de muitas rodas, a espessa nuvem de poeira que se erguia dos veios abertos na estrada. O pó acumulava-se nas bermas e nas sebes tornando as estradas numa espécie de cicatrizes que atravessavam a região. Passara muitas noites fora de casa, enrolado no canto de alguma taberna, enquanto o pai se embriagava alegremente. Por vezes, Eli ficava sombrio e empurrava Jesse revista BANG! [ 119 ]
escadas acima para a cama; de outras, tornava-se muito expansivo e sentava-se a contar histórias de quando era rapaz, quando as locomotivas tinham eixos à frente das caldeiras e cavalos entre elas para as conduzir. Jesse tinha sido auxiliar dos travões aos 8 anos e condutor aos 10, em pequenos trajectos. Tinha sido arrancado à força daquela vida para ir para a escola. Nunca percebera o que se passara no espírito de Eli. — Vê se ficas com algum raio d’inducação – resmungara o velho – é o que conta, rapaz... Jesse lembrava-se de como se sentira; como vagueara pelos pomares atrás da casa, vendo as ameixieiras em espessos cachos nas velhas árvores retorcidas e inclinadas, óptimas para trepar; as maçãs, as laranjas Bramley, Lane e Haley, as peras Commodore, quais romãs de pele enrugada, suspensas junto às paredes quentes da luz do Sol de Setembro. Antes tinha ajudado sempre à colheita dos frutos, mas não neste ano, agora já não. Os irmãos tinham aprendido a escrever, a ler e a contar na pequena escola da aldeia e nada mais. Mas ele tinha ido para Sherborne e frequentara o colégio da velha cidade universitária. Estudara muito as línguas e ciências e tinha sido bem sucedido; mas algo correra mal. Levara anos a perceber que as mãos sentiam a falta do toque do ferro oleado, que as narinas necessitavam do cheiro do vapor. Fizera as malas e regressara a casa para trabalhar como qualquer outro fogueiro e Eli não dissera uma única palavra, nem de elogio, nem de censura. Jesse abanou a cabeça. Lá no fundo soubera sempre, sem qualquer espécie de dúvida, o que ia fazer. No seu coração já era fogueiro, como Tim, como Dickon, como o velho Eli. Era tudo e era suficiente. A Margaret chegou ao topo de uma subida e arfou depois, encosta abaixo. Jesse olhou de relance para o comprido mostrador da válvula à altura dos joelhos. O instinto, mais do que a vista, fê-lo abrir os injectores, a válvula de água que levava à caldeira. A locomotiva tinha um extenso chassis que requeria prudência nas descidas. Água a menos no tambor e a inclinação da frente destaparia a cabeça do motor fazendo derreter a cavilha que aí se encontrava. Todas as composições traziam cavilhas sobressalentes,
mas a colocação de uma era tarefa a evitar. Significava afastar o brasido e caminhar de gatas na fornalha quente como um forno de pão, para passar depois uma eternidade a lutar no escuro, para conseguir colocá-la. Já queimara a sua quota de cavilhas tempos atrás, como qualquer outro principiante, e isso ensinara-lhe a manter bem coberta a cabeça do motor. Um nível demasiado elevado, por outro lado, significava que a água atingiria as saídas de vapor descendo da pilha de carvão numa nuvem escaldante. Também já lhe acontecera isso. Deu a volta à válvula e o silvo dos injectores terminou. A Margaret desceu lentamente a encosta e aumentou a velocidade. Jesse puxou para trás a alavanca de inversão e deu volta aos travões para a reduzir: sentiu o batimento irregular à medida que a locomotiva era forçada a subir e devolveu-lhe a pressão. Fosse claro ou escuro, conhecia cada palmo de estrada, como era obrigação de um bom condutor. Uma luz solitária lá à frente disse-lhe que se aproximava de Wool. A Margaret gritou um aviso à aldeia enquanto ia passando por entre vivendas de janelas fechadas e persianas corridas. Uma corrida directa agora, pela campina até Poole. Uma hora até aos portões da cidade e talvez mais meia para chegar ao cais. Se os controlos de tráfego não fossem muito maus... Esfregou as mãos e esticou os ombros dentro do casaco. O frio começava agora a invadi-lo, sentia-o instalar-se-lhe nas articulações. Olhou para ambos os lados da rua. Era noite cerrada e a Grande Charneca estava completamente escura. Mas ao longe viu, ou julgou ver, o brilho de um pirilampo à caça em qualquer pântano malcheiroso. Um vento gelado aproximava-se, gemendo, do vazio. Jesse escutou o bater regular da Burrell e, como acontecera muitas vezes antes, a imagem de um navio veio-lhe ao espírito. A Dama Margaret, uma mancha de luz e calor, irrompia pela vastidão como um navio a atravessar um vasto oceano inimigo. Estava-se no século XX, na idade da razão; mas a campina era ainda abrigo de mitos e medos supersticiosos. De perseguições por lobos e bruxas, lobisomens e fadas; e dos bandoleiros. Jesse enrugou o lábio superior: «bastardos normandos», chama-
ra-lhes Dickon. Era uma descrição tão exacta como qualquer outra. Era verdade que reclamavam a sua ascendência normanda, mas nesta Inglaterra católica, mais de mil anos após a Conquista, os sangues normando, saxão e o celta original tinham-se misturado inexoravelmente. As diferenças existentes eram mais ou menos arbitrárias, reintroduzidas de acordo com as teorias raciais de Givesius, o Grande, um par de séculos atrás. A maior parte das pessoas tinha pelo menos alguma noção das cinco línguas do país; o Francês Normando, das classes governantes, o Latim, da Igreja, o Inglês Moderno, do comércio e dos negócios, o Inglês Médio, arcaico, e o Celta, dos rústicos. Havia outras línguas, é claro: Gaélico, Cornualhês e Galês, todas acarinhadas pela Igreja, que se mantinham vivas séculos depois de o seu uso se ter diluído há muito. Mas era bom ter um país dividido em pedaços por barreiras linguísticas além das de classe. «Dividir para reinar» fora sempre a política, ainda que não oficial, de Roma. Os próprios bandoleiros estavam rodeados de forte enquadramento lendário. Sempre houvera quadrilhas de salteadores no Sudoeste e provavelmente sempre as haveria; contrabandeavam, roubavam, assaltavam os comboios da estrada. Habitualmente, mas não invariavelmente, não chegavam a cometer crimes. Em certos anos, os fogueiros sofriam mais assaltos que noutros; Jesse ainda se lembrava de uma noite escura em que a Dama Margaret se arrastara até casa, com o seu condutor morto numa luta de arqueiros, com meio comboio incendiado e o velho Eli a jurar pragas de morte e destruição. Tinham vindo soldados de Serviodunum para patrulharem a campina dias a fio, mas em vão. O bando dispersara-se para as suas casas – se as teorias de Eli estavam correctas –, de novo transformados em cidadãos tementes a Deus. Não foi possível encontrar o que quer que fosse na campina: os tão falados esconderijos dos bandidos não existiam mesmo. Ateou de novo a fornalha, estremecendo de frio apesar do casaco. A Margaret não levava quaisquer armas, mas também ninguém lutava contra os bandoleiros se pretendesse continuar vivo. Pelo menos, não com os meios convencionais; Eli tinha as suas próprias ideias acerca do assunto, embora não revista BANG! [ 120 ]
tivesse vivido o suficiente para as pôr em prática. Jesse apertou os lábios com força: que os deixassem vir, se viessem, e bem poderiam ficar com tudo o que conseguissem roubar à firma Strange. Este negócio não fora montado com suavidade; na Inglaterra destes dias conduzir comboios não era uma profissão fácil. Um quilómetro ou mais à frente, um ribeiro subsidiário do Frome atravessava a estrada. Quando faziam este percurso, os fogueiros costumavam aí parar para encher os tanques de água. Não havia poços na campina e o custo da sua construção era proibitivo. Por outro lado, a água que permanecia no solo tornava-se salobra e apodrecia, deixando de poder ser usada nas caldeiras. As poças teriam de ser rodeadas de muros de cimento, e tal trabalho reduziria a metade os lucros anuais de quem o fizesse. A manufactura do cimento era severamente controlada por Roma, e, portanto, o seu preço era inatingível. Este embargo era deliberado, é claro. A matéria-prima estava demasiado à mão e permitia erguer rapidamente fortificações. Já houvera suficientes revoltas com o decorrer dos tempos, para ensinar a precaução até mesmo aos papas. Jesse olhou em frente e avistou uma cintilação de água ou gelo. A mão foi-lhe imediatamente para a alavanca de inversão de marcha e para os travões do comboio. A Margaret deteve-se no topo de uma pequena ponte. Os parapeitos desta ostentavam solenes letreiros acerca de «carruagens excessivamente pesadas», mas poucos fogueiros lhes prestavam atenção, pelo menos depois do sol-posto. Saltou para o chão e desamarrou a mangueira fortemente blindada de um dos lados da caldeira, fazendo passar a extremidade por cima da ponte. O gelo estilhaçou-se com um ruído seco. As bombas de aspiração silvaram ruidosamente e o vapor escapou-se-lhes pelos respiradouros. O trabalho ficou concluído em poucos minutos. A Margaret poderia ter chegado a Poole e tê-la ultrapassado sem problema, mas nenhum fogueiro que se prezasse alguma vez se sentiria seguro com os tanques menos que cheios. Sobretudo depois de escurecer e com a sempre presente ameaça de ataque. A máquina estava revista BANG! [ 121 ]
agora pronta, se necessário, para uma fuga longa e árdua. Voltou a enrolar a mangueira e tirou as lanternas de percurso para fora do vagão. Eram quatro: uma para cada lado da caldeira, duas para o eixo da frente. Pendurou-as nos seus lugares, rodando as válvulas sobre o carboneto e erguendo as tampas de vidro para cheirar, a ver se havia alguma fuga de acetileno. As lanternas lançavam leques de luz branca para a frente e para cada um dos dois lados, fazendo cintilar os cristais de gelo na superfície da estrada. Pôs-se de novo em movimento. O frio estava mais agreste ainda e pensou que estariam já vários graus negativos, embora o pior estivesse ainda para vir. Esta era a parte da viagem em que se começava a pensar no frio como num inimigo pessoal. Apanhava-nos a garganta, enfiava-nos as garras geladas nas costas; era uma coisa contra a qual havia que lutar de corpo e alma. O frio podia atordoar um homem, gelá-lo na plataforma até o fogo se reduzir e perder a pressão sem que este se desse conta da necessidade de o voltar a alimentar. Já acontecera antes; mais de um fogueiro haviam perdido a vida na estrada por essa razão. E voltaria a acontecer. A Dama Margaret arfava de um modo constante e o vento bramia na campina. Do lado de terra, as vivendas e os casais de Poole amontoavam-se desordenadamente por detrás de uma pesada muralha e de um fosso. Ardiam fachos ao longo das fortificações; a luz avistava-se por léguas de terreno deserto. A Margaret subiu a fila de fogos tremeluzentes aproximando-se deles devagar. Mal avistou o West Gate, Jesse girou o volante dos travões e praguejou. Estendendo-se desde as muralhas e fracamente visível à luz das tochas, distinguia-se uma imensa confusão de tráfego: Burrows, Avelings, Claytons e Fowlers, cada locomotiva com o seu pesado comboio. Funcionários corriam de cá para lá; o vapor erguia-se em penachos no ar; as muitas máquinas produziam um trovejar surdo. A Dama Margaret abrandou, expelindo nuvens brancas como se fossem respiração, entrando na conturbação ao lado de uma Fowler de dez cavalos cuja libré ostentava as cores dos Comerciantes Aventurosos. Jesse estava a 50 metros dos portões e o engar-
rafamento parecia que iria levar uma hora, ou mais, a resolver-se. O ar retinia com o barulho das máquinas, os gritos dos condutores e os berros dos guardas da cidade e dos sinaleiros. Bandos de Anjos do Papa circulavam por entre as imponentes rodas, cantando canções e erguendo os púcaros para receber esmolas. Jesse saudou um polícia de ar atarefado. O sargento apoiou a alabarda no chão, olhou a carga da Dama Margaret, sorriu, e disse: — Com a bênção do Bispo Blaize novamente, não é amigo? Jesse resmungou uma afirmativa. A seu lado, a Fowler deixou escapar uma série de apitos ensurdecedores. — Alto aí! – exclamou o polícia. – O que tem você aí que precisa de tanta pressa? O condutor, uma migalha de homem, abafado num cachecol e casacão, cuspiu uma beata de cigarro pela borda fora. — Mariscos para Sua Santidade – respondeu, com ironia. — Estão a incendiar Roma esta noite! – A história do papa Orlando, que jantava ostras enquanto os seus mercenários saqueavam Florença, já se tornara lendária. — Se dizes mais alguma coisa, verás como os portões se te fecham na cara. Ficarás na campina toda a noite e os bandoleiros poderão saciar-se contigo. Agora, faz-me rodar esse monte de lixo, roda-o, já disse... Abrira-se uma fenda um pouco mais à frente; a Fowler trovejou desdenhosamente e dirigiu-se para lá. Jesse seguiu-a e, séculos depois de muitos gritos e apitos, acabou por sair do engarrafamento e conduziu o comboio pela rua principal de Poole. A Strange & Filhos tinha um entreposto no cais, não muito longe da velha casa da alfândega. A Margaret abriu caminho por entre pilhas de mercadorias que tinham transbordado do cais de carga. As docas estavam muito movimentadas, o que não era habitual no fim da época. Jesse passou por um grande barco carvoeiro alemão, por um outro francês, um ainda do Novo Mundo, ex-negreiro a avaliar pelas linhas inclinadas, por um belo Clipper sueco ainda orgulhoso no seu velame, e finalmente por um vagabundo holandês, o Groningen, que sabia estar
ainda equipado com as antiquadas e estranhas caldeiras a mercúrio. Fez serpentear o comboio até ao armazém da companhia com quase uma hora de atraso. A carga de regresso já se encontrava pronta. Soltou os vagões de baixo com alívio, entregou o manifesto ao agente da firma e fez marcha-atrás até se colocar sob o novo carregamento. Voltou a verificar se a carga estava bem presa, criou pressão e partiu. O frio tomara-o todo agora, e sentia-se tentado pelas janelas dos bares de borda-de-água que prometiam calor, bebidas e comida quente; mas esta noite a Margaret não ficaria em Poole. Eram quase oito horas quando atingiu as muralhas e o congestionamento do tráfego já desaparecera. Os portões foram-lhe abertos por um sargento de rosto mal-humorado e Jesse guiou o seu comboio através deles, estrada fora para lá da cidade. A Lua já ia alta num céu límpido e o frio era intenso. Um grande estirão por cima do porto de Poole até onde o curso do Wareham virava à esquerda, afastando-se da estrada no sentido de Durnovaria. Jesse fez os vagões contorná-lo. Deu rédea solta à Margaret, atingindo os 30 quilómetros/hora em estrada aberta. Depois passou por Wareham – uma inclinação difícil perto da passagem de nível –, pelo Urso Preto, com a sua monstruosa placa gravada, e por cima do Frome no ponto em que este desaguava no mar, bordejando a margem norte da ilha de Purbeck. Depois disso de novo as campinas: Stoborough, Slepe, Middlebere, Norden, imensas e desertas, percorridas por ventos sibilantes. Finalmente, uma cintilação brilhou lá mais à frente, muito acima da estrada e à direita. A Margaret trovejou através de Corvesgeat, a antiga passagem pelos montes de Purbeck. O castelo de Corfe, construção quadrada, dominava a estrada, empoleirado sobre a berma, e mostrava as janelas que cintilavam como olhos. O senhor de Purbeck devia, pois, estar a residir nele e a receber os seus convidados de Natal. A locomotiva circundou os altos flancos do motte e subiu até à aldeia mais acima. Atravessou a praça, de rodas e motor a reflectirem o clamor cavo da frontaria da Pensão do Galgo e voltou a subir a longa rua principal até ao local em que a campina esperava revista BANG! [ 122 ]
de novo, plana e desolada, assombrada pelo vento e pelas estrelas. A estrada de Swanage. Entorpecido pelo frio, lutou contra a ideia de que a Margaret tinha vindo a percorrer aquele vazio expelindo o seu sopro na escuridão, como qualquer espírito amaldiçoado e acorrentado num inferno gelado. Teria acolhido com alívio qualquer sinal de vida, até mesmo dos bandoleiros, mas não se via vivalma. Apenas a aspereza interminável do vento e a escuridão que se estendia para cada um dos lados da estrada. Esfregou as mãos cobertas de mitenes e bateu os pés na plataforma, voltando-se para ver a alta sombra da carga que oscilava na noite lá ao fundo, à luz fraca, reflectida pelas lanternas da cauda. Já há muito que deixara de se insultar a si próprio apelidando-se de idiota. Devia ter ficado em Poole e partido apenas ao amanhecer, sabia-o muito bem. Mas naquela noite sentia obscuramente que não estava a conduzir o comboio, mas a ser conduzido por ele. Abriu a válvula de entrada de água para o aquecedor, alimentou a fornalha e voltou a abrir a válvula. Um dia substituiriam estes queimadores de matéria sólida por máquinas a gasóleo. Essas unidades já existiam há muitos anos, mas fazer arder óleo era ainda uma teoria remota que esperava pelo veredicto papal. Talvez se tornasse decisão no próximo ano ou no seguinte, ou talvez não. Os caminhos da Madre Igreja eram oblíquos, mas não podiam ser questionados pelo seu rebanho. O velho Eli teria, certamente, instalado queimadores de óleo e amaldiçoado os padres até à consumpção, mas os condutores e maquinistas ter-se-iam encolhido à ameaça de excomunhão que certamente se seguiria. A Strange & Filhos tinha-se ajoelhado então, não pela primeira vez nem pela última. Jesse deu-se conta de estar novamente a pensar no pai, à medida que a Margaret se afadigava ladeira acima, de regresso aos montes. Era estranho, mas agora sentia-se capaz de falar com o velho. Agora podia explicar-lhe as suas esperanças e receios... Mas era demasiado tarde, porque Eli estava morto e enterrado sob dois metros de terra de Dorset. Seria o mundo assim? As pessoas só se sentiriam capazes de falar quando fosse demasiado tarde? revista BANG! [ 123 ]
Chegaram ao grande pátio do pedreiro no exterior de Long Tun Matravers. As pilhas de pedra erguiam-se muito alto, debilmente visíveis à luz dos candeeiros da máquina a vapor, rompendo por fim a solidão mortal da campina. Apitou um aviso; a voz da Burrell irrompeu sobre os tectos das casas, lúgubre e imensa. O local estava deserto como uma cidade mortuária. À direita, o King’s Head mostrava a sua iluminação fraca: a placa chiava desagradavelmente, baloiçando ao vento. As rodas da Margaret alcançaram o empedrado e derraparam; Jesse carregou nos travões, puxando para trás a alavanca de inversão de marcha para cortar energia aos pistões. A geada tinha-se acumulado naquele local e aqui e ali a estrada estava como vidro. No cimo da subida para Swanage deu a volta ao controlo que bloqueava os diferenciais. A locomotiva abrandou e começou a descer, tacteando em busca do seu porto de abrigo. O vento uivou, erguendo uma nuvem de cristais de neve entre os faróis da frente. Os telhados da cidadezinha pareciam encastelar-se sob o manto de geada. Jesse voltou a apitar e o som fez-se ouvir, imenso, por entre as casas. Um bando de crianças, vindo de qualquer lado, apareceu correndo e gritando ao lado do comboio. Havia um cruzamento, à frente, e avistavam-se os candeeiros amarelos na frontaria do Hotel George. Jesse dirigiu lentamente a locomotiva para a entrada do pátio. A chaminé roçou de passagem o tecto da entrada. Era aqui que mais precisava de um companheiro; o vapor da Burrell a soprar naquele espaço coberto obscureceu-lhe a visão. As crianças tinham desaparecido; aliviou então um pouco a alavanca de marcha-atrás. Os escapes afastaram-se das paredes e a Margaret voltou a estar livre, rufando pátio afora. O lugar tinha sido ampliado anos atrás para receber os comboios de estrada. Jesse passou por entre uma Garrett e uma Clayton & Shuttleworth de seis cavalos, colocou a alavanca de marcha-atrás em ponto morto e fechou o regulador. O batimento cessou por fim. O fogueiro esfregou a cara e espreguiçou-se. Tinha os ombros do casaco polvilhados de gelo; sacudiu-o e desceu do comboio com os membros inteiriçados de frio. Colocou os calços sob as rodas da máquina e apagou os faróis. O pátio do hotel es-
tava deserto e o vento assobiava nos telhados circundantes; a caldeira da locomotiva fervilhava baixinho. Abriu a válvula para deixar sair o excesso de vapor, extinguiu-lhe o fogo e fechou-lhe os abafadores. Depois caminhou até ao eixo da frente para lhe enfiar um balde pela chaminé. A Margaret podia agora passar a noite em segurança. Afastou-se um pouco e olhou-lhe o bojo ainda irradiante de calor, a fraca cintilação que se libertava do depósito das cinzas. Retirou a mochila da cabina e dirigiu-se para o George para se inscrever. Mostraram-lhe o quarto e deixaram-no só. Foi à casa de banho, lavou a cara e mãos e saiu do hotel. A pouca distância do hotel viam-se as janelas de um bar por onde se escapava uma luz vermelha através das cortinas corridas. A tabuleta indicava tratar-se da Pensão da Sereia. Caminhou, com dificuldade, pela rua abaixo e depois correu ao longo dos bares. A sala das traseiras estava cheia de gente ruidosa e de fumo de tabaco. A Sereia era uma pensão de fogueiros; Jesse viu uma porção de homens conhecidos: Tom Skinner, de Powerstock, Jeff Holroyd, de Wey Mouth e dois dos filhos do velho Serjeantson. Na estrada, as notícias viajam depressa; rodearam-no falando desordenadamente uns com os outros. Resmungou respostas, abrindo caminho até ao balcão. Sim, o pai tinha tido uma hemorragia súbita; não, não vivera muito tempo depois dela. Só até às cinco horas da tarde seguinte... Abriu o casaco para tirar a carteira, fez o pedido e pegou na cerveja e no uísque duplo. Um espeto em brasa mergulhado no tanque cortou a cerveja e a espuma cremosa escorreu pelos bordos do recipiente. O álcool queimou a garganta de Jesse e fez-lhe arder os olhos. Tinha acabado de deixar a estrada e os outros arranjaram-lhe um lugar quando se acocorou de joelhos abertos em frente da lareira. Bebeu a cerveja de um trago, sentindo o calor invadir-lhe o baixo-ventre e mover-se-lhe até ao estômago. Ouvia ainda os batimentos da Burrell e sentia a vibração do volante nos dedos. Haveria tempo mais tarde para a conversa, primeiro o calor. Um homem tinha que se sentir quente. Sem saber como, ela tinha conseguido atravessar a sala e colocar-se-lhe atrás, dirigindo-lhe a palavra
antes que se desse conta da sua presença. Parou de esfregar as mãos e levantou-se na frente da mulher, desajeitado e consciente da sua altura e corpulência. — Olá, Jesse... Saberia ela? Voltava-lhe sempre o mesmo pensamento. Durante todos esses anos, desde que dera um nome à Burrell; ela era nessa altura uma adolescente desajeitada, toda pernas e olhos, mas era ela a dama a que se referira. Fora o fantasma que povoara as suas noites ardentes de adolescente, perseguindo-lhe o cheiro por entre os aromas dos jardins. Estivera na plataforma da máquina, quando o velho Eli entrara naquela aposta monstruosa e chorara, feito doido, porque, quando a Burrell subira a última encosta, não estava a ganhar 50 guinéus de ouro para o seu pai, mas a dar a conhecer a glória de Margaret. Mas esta já não era uma adolescente agora, as luzes iluminavam-lhe o cabelo, os olhos cintilavam-lhe e a boca sorria maliciosamente... Resmungou um – B’noite, Margaret... Ela trouxe-lhe comida, pôs uma mesa a um canto e sentou-se com ele enquanto comia. Sentiu que a respiração se lhe secava na garganta e forçou-se a pensar que isso não significava absolutamente nada. Vendo bem as coisas, não é todos os dias que nos morre o pai. Usava um anel de pechisbeque, com uma pedra azul de cor viva, e tinha o hábito de o fazer rodar incessantemente enquanto falava. Os dedos eram finos com unhas planas e envernizadas, em mãos largas como as de um rapaz. Jesse observou-lhe as mãos que ora lhe ajeitavam o cabelo, ora tamborilavam na mesa, ou ainda batiam a cinza de um cigarro na borda de um cinzeiro. Imaginava-as a varrer, limpar o pó, a lavar, bem como ocupadas noutras coisas, nas coisas secretas que as mulheres devem fazer a si próprias. Perguntou-lhe que máquina trouxera. Perguntava-o sempre. Respondeu rapidamente – A Dama – usando o calão dos fogueiros e voltando a interrogar-se sobre se ela alguma vez observara a Burrell e se sabia que era a Dama Margaret. E, sobretudo, se isso tinha alguma importância para ela. Então, trouxe-lhe nova bebida e disse-lhe que era por conta da casa, desculpando-se por ter de voltar para o bar, mas que voltariam a ver-se depois. revista BANG! [ 124 ]
Olhou-a através do fumo, vendo-a rir-se com os outros homens. Tinha um riso estranho, uma espécie de risada alta, mas monótona, que lhe fazia erguer o lábio de cima e mostrava os dentes, enquanto os olhos observavam e troçavam. Era uma boa empregada de bar, a Margaret. O pai era um velho fogueiro que devia tomar conta da casa há já uns vinte anos. A esposa morrera-lhe há algum tempo e as outras filhas tinham casado e partido para outras terras. Mas a Margaret tinha ficado. Tinha hábitos finos, dizia-se entre os fogueiros. Mas era por certo disparate, porque dirigir um bar não era vida fácil. Até tarde sete dias por semana, polindo, esfregando, remendando e cosendo, cozinhando... ainda que tivesse uma mulher-a-dias de manhã, para os trabalhos mais pesados. Jesse sabia disso, tal como da maior parte das coisas da sua Margaret: que número calçava, que o seu aniversário era em Maio, que media 84 centímetros no peito, que gostava de Chanel e tinha um cão chamado Joe. E que tinha jurado nunca se casar porque, dizia ela, a Sereia lhe ensinara o suficiente acerca dos homens e só com cinco mil em cima do balcão algum deles poderia comprar-lhe os serviços, mas não com menos. Nunca encontrara ninguém que ganhasse metade dessa soma, portanto, o desafio era impossível. Mas talvez não tivesse dito nada disso; o ar da aldeia cheirava a mexerico e os fogueiros davam à língua como lavadeiras. Jesse afastou o prato. Sentiu subitamente um desprezo crescente por si próprio. Margaret era a razão de quase tudo; era o motivo que o levara a afastar-se várias milhas do caminho e a passar por Swanage para carregar um par de caixas de peixe congelado, que não pagariam o transporte de volta. Bem, quisera vê-la e já a vira. Falara-lhe e sentara-se junto dele; não voltaria a fazê-lo. Podia ir-se embora, agora. Voltou a lembrar-se da sepultura recém-cavada, do atirar da terra para cima do caixão de Eli. Eis o que o esperava, tal como a todos os chamados filhos de Deus; porém, esperaria sozinho pela morte. Queria beber, diluir a imagem fúnebre na penumbra quente e obscura do álcool. Mas não ali, não ali... E dirigiu-se para a porta. Foi de encontro a um estranho e resmungou uma desculpa, continuando a andar. Mas sentiu revista BANG! [ 125 ]
que o agarravam por um braço: voltou-se e olhou os olhos castanhos e límpidos, bem situados sobre o nariz direito daquele rosto bonito de libertino. — Não – disse o recém-chegado –, não acredito. Por tudo o que há de profano, Jesse Strange... Por momentos, a mancha alegre de uma barba em crescimento deixou-o confuso, mas depois começou a sorrir mesmo sem querer. — Colin – articulou devagar. – Col de la Haye... Col agarrou o outro braço de Jesse. — Que diabo! – exclamou. – Jesse ‘tás com bom ar. Isto ped’um copo, homem. ‘Tás c’bom ar, q’tens feito?... Encostaram-se a um canto do bar e pediram duas cervejas. — Diabos, Jesse, q’má sorte. Perdeste o velho, hein? Que azar... – E, erguendo a sua caneca, saudou: – A ti, velho Jesse. A dias mais felizes... Jesse e Col tinham sido amigos fiéis no colégio de Sherborne. Tinha sido um caso de atracção de opostos; Jesse pouco falador, estudioso e sossegado, de la Haye, o libertino, o homem mundano. Col era filho de um negociante da costa oeste, um mulherengo e um valente tratante; os tutores haviam jurado que, tal como a personagem de Fielding, nascera para ser enforcado. Depois do colégio perdera contacto com ele. Ouvira vagamente dizer que Col abandonara os negócios de família; importação e armazenagem não eram actividades suficientemente excitantes para ele. Aparentemente, passara o seu tempo como trovador errante, trabalhando num livro de baladas que nunca conseguira escrever, e passara seis meses na má vida, em Londinium, até ficar acamado em resultado de uma rixa num bordel. — Mostrava-te a cicatriz – disse Col, sorrindo de modo horrível –, mas é bastante inconveniente na presença de estranhos, meu velho... Mais tarde, tornara-se, por mais estranho que possa parecer, fogueiro de uma firma em Isca. Mas não por muito tempo; logo a meio da primeira semana de trabalho precipitara-se Bristol adentro com uma Clayton & Shuttleworth de oito cavalos, desenrolara a mangueira e esgotara o bebedouro dos cavalos no centro da cidade até os guardas o terem caçado. A Clayton não chegara a explodir, mas fora
por pouco. Tentara de novo em Aquae Sulis, onde não era muito conhecido; dessa vez estivera seis meses, antes que o vidro partido de uma válvula lhe arrancasse a maior parte da pele dos tornozelos. E de la Haye continuara a procurar, segundo a sua própria expressão, «um emprego menos letal». Jesse riu-se por entre dentes e abanou a cabeça. — ‘Tão qu’ andas a fazer? Os olhos insolentes riram-se de novo para ele. — N’gócios – respondeu Col, alegremente. – ‘Panhando o qu’ aparece aqui e ali... Os tempos ‘tão difíceis, temos de viver como p’demos. Bebe, velho Jesse, a próxima é por minha conta... Continuaram a relembrar velhos tempos, enquanto a Margaret lhes servia cervejas e levava o dinheiro, erguendo sempre a sobrancelha para Col. A noite em que de la Haye, cheio da coragem do vinho, jurara desfolhar a nogueira preferida do seu professor... — Lembro-me com’se fosse ontem – chasqueou Col, alegremente. – Havia uma linda Lua, brilhante c’mó dia... Jesse segurara a escada enquanto Col trepava; mas, antes de ter atingido os ramos, a árvore fora abanada como se houvesse um tufão. — Choviam nozes como granizo – gargalhava Col. – Lembras-te, Jesse, deves lembrar... e lá ‘tava aquele... aquele velh’patife do guarda Toby Warrilow, sentado c’as velhas botifarras apontadas p’a fora, a abanar a maldita árvore... Durante semanas até mesmo de la Haye ficara incapaz de fazer o que quer que fosse de irregular aos olhos da lei, e o dormitório inteiro empanturrara-se de nozes durante quase um mês. Tinha ainda havido aquela história das duas freiras raptadas do convento de Sherborne; tinham tentado inculpar de la Haye, mas sem o conseguir, embora fosse do conhecimento geral quem era o responsável. Já antes tinham sido, por vezes, roubadas jovens noviças, mas apenas Col teria sido capaz de levar duas de uma só vez. E houvera também o caso da estalagem O Poeta Camponês. O dono dessa casa tinha, em virtude de um qualquer capricho, um grande gorila acorrentado no estábulo; Col, depois de uma noitada em que fora posto fora da estalagem,
conseguira quebrar a coleira da besta. O maldito animal causara problemas e pânicos durante um mês; os homens saíam armados e as mulheres ficavam em casa. A coisa fora, finalmente, morta a tiro por um miliciano que a encontrara no seu quarto a beber uma tigela de sopa. — ‘Tão que fazes agora? — perguntou de la Haye, emborcando a sexta ou sétima cerveja. — A firma é tua agora, nã é? — Pois – resmungou Jesse, de mãos entrelaçadas a suportar o queixo. – Vou tocá-la p’á frente, acho... Col pôs-lhe um braço em volta dos ombros. — Vai ficar tudo bem – disse. – Vais ficar bem, amigo, ‘tão p’qué que t’ás tão triste? Ora, ouve lá: arranja uma rapariguinha e ficas logo bem. É disso que precisas, velho Jesse; conheço os sinais. – Deu uma palmada nas costas do amigo e desatou a rir. – Conserva-te quente de noite melhor que um monte de cobertores. E impede que engordes, nã é? Jesse pareceu vagamente surpreendido. — Nã sei disso... — C’os diabos! – gritou de Ia Haye – E, contudo, é a receita. Ah, não há nada como isso. Mmmminhaunh... – E arqueou os lábios, fechou os olhos e desenhou formas com as mãos, conseguindo ser apaixonado e lascivo ao mesmo tempo. – Nã há problema agora, Jesse, mê’ velho – disse –, t’ás cheio de massa, sabes? C’os diabos, homem, és um partido agora... Elas virão a correr quando souberem e terás de as afastar com um... gancho de engatar, não é? – E voltou a rebolar-se de riso. As 11 horas chegaram depressa de mais. Jesse enfiou o casaco a custo e seguiu com Col, subindo a ladeira que conduzia ao bar. Só quando o ar frio o atingiu se deu conta de estar perdido de bêbedo. Tropeçou de encontro a de la Haye e depois foram ambos contra a parede. Cambalearam rua afora a rirem-se e despediram-se, finalmente, à porta do hotel George. Col desapareceu na noite berrando toda a espécie de promessas. Jesse encostou-se à roda traseira da Margaret, de cabeça muito empertigada e sentiu os fumos da cerveja toldarem-lhe o cérebro. Mal fechou os olhos, deu-se conta de um lento movimento; o chão parecia balançar para a frente e para trás sob os pés. Borevista BANG! [ 126 ]
las, aquela última hora tinha sido bem boa! Voltara ao tempo do colégio; riu-se sem vontade e limpou a testa com as costas da mão. De la Haye era um grande filho da mãe, sem dúvida, mas um gajo fixe, um gajo fixe... Abriu os olhos lacrimosos e olhou para cima para o comboio. Depois, mexeu-se cuidadosamente, apalpando o motor, enquanto andava para lhe sentir a temperatura com a palma. Içou-se para a plataforma, abriu as portadas da fornalha, espalhou o carvão e verificou os abafadores e a válvula da água. Tudo em ordem. Atravessou o pátio aos ziguezagues, sentindo os cristais de neve picarem-lhe o rosto. Tacteou a fechadura com a chave e abriu a porta. O quarto estava escuro e gelado. Acendeu a única lanterna e deixou o vidro aberto. A chama da vela estremeceu na corrente de ar. Caiu pesadamente na cama e aí se quedou, olhando o ponto de luz amarela que baloiçava para a frente e para trás. Era melhor dormir um pouco e partir de manhã cedo. A mochila ficara na cadeira onde a tinha pendurado, mas faltava-lhe a vontade para a abrir agora. Fechou os olhos. Quase imediatamente as imagens começaram a andar à roda. A Burrell trabalhava-lhe algures dentro da cabeça; flectiu as mãos e sentiu o bordo do volante entre elas. Era assim que as locomotivas nos apanhavam, ao fim de algum tempo; trepidando hora após hora até o ruído se tornar parte de nós e penetrar no sangue e cérebro até não podermos viver sem ele. Levantar de madrugada, partir estrada fora, conduzir até já não podermos parar; Londinium, Aquae Sufis, Isca; pedra das pedreiras de Purbeck, carvão de Kimmeridge, lã, cereal e estambre, farinha e vinho, candelabros, madonas, pás, pás de bater a manteiga, pólvora e munições, ouro, chumbo e estanho; com contrato com o Exército, a Igreja... Torneiras do cilindro, abafadores, regulador, alavanca de inversão de marcha, o trepidar da plataforma de aço... Mexeu-se incessantemente, murmurando palavras incompreensíveis. As cores tornaram-se-lhe mais vivas no cérebro. Castanho-avermelhado e ouro das librés, um resto de saliva vermelha no queixo do pai, brilhantes flores contrastando com a terra revista BANG! [ 127 ]
fresca; vapor e luz de lanternas, chamas, o céu sombrio abraçando os montes. Brincou depois com as memórias de Col, escutando-lhe as frases, ouvindo-o rir; primeiro o leve inspirar, guinchado, mas distinto, e logo o ladrar agudo como de metralhadora enquanto revolvia e fechava os olhos, encolhia os ombros e batia com o punho no balcão. Col prometera-lhe que o iria visitar em Durnovaria, enquanto se afastava aos baldões e gritava que não se esqueceria. Mas havia de se esquecer; perderia a noção de tudo ao envolver-se com alguma mulher e esqueceria tudo, o encontro que tinham tido. Porque Col não era como Jesse. Não havia planeamento ou espera para de la Haye, nem um ponderar cuidado das opções; vivia o momento com avidez. E nunca mudaria. As locomotivas trovejaram, eixos girando, cruzetas inclinadas, o latão reluzindo e tinindo ao vento. Jesse semi-ergueu-se, sacudindo a cabeça. A lanterna ardia, agora, com uma chama estável fina e comprida, que vibrava apenas ao de leve na extremidade. O vento assobiava, arrastando consigo as batidas de um relógio de igreja. Escutou a fim de as contar. Doze batidas. Franziu a testa: tinha dormido e sonhado que era quase madrugada. Mas a longa e difícil noite mal começara. Voltou a deitar-se, grunhindo o seu desagrado, sentindo-se bêbado, mas estranhamente desperto. Já não aguentava a cerveja; experimentara-lhe todo o horror. Mas talvez houvesse mais ainda para vir. E recomeçou a revolver ociosamente as coisas que de la Haye lhe dissera. Aquela de precisar de arranjar uma mulher, por exemplo, era uma loucura típica de Col. Talvez não constituísse problema para Col, mas para Jesse houvera apenas uma rapariguinha. E era inatingível. O rodopiar do espírito pareceu aquietar-se e parar completamente. Vamos, disse para consigo irritado, acaba com isso. Já tens problemas que cheguem, deixa cair... Mas, uma parte de si mesmo, recusava-se obstinadamente a obedecer. Voltava as páginas dos livros de contas, somando e subtraindo parcelas, atirando os totais incessantemente de encontro ao consciente. Praguejou, amaldiçoando de la Haye. A ideia, uma vez implantada, não o abando-
naria. Persegui-lo-ia agora durante semanas, talvez anos. Entregou-se, com luxúria, ao sonho. Ela sabia tudo a seu respeito, é evidente; as mulheres sabiam logo essas coisas. Tinha-se revelado centenas, milhares de vezes; pequenas coisas, um olhar, um gesto, uma palavra, eram o bastante. Beijara-a uma vez, há anos atrás. Apenas uma vez, e era talvez por isso que o beijo lhe ficara tão indelevelmente gravado na memória, a ponto de o reviver naquele momento. Fora quase por acaso; numa passagem de ano, no bar iluminado e barulhento, cheio de gente da terra a festejar as entradas. O relógio da igreja a soar como agora, portas das ruas da aldeia que se abriam de par em par, as pessoas que comiam bolos de frutas e bebiam vinho, gritando umas para as outras no escuro e beijando-se; e ela pousara o tabuleiro dizendo: — Não podemos ficar de fora, Jesse, também temos de celebrar... Lembrava-se do súbito palpitar do seu coração, que se precipitara como uma locomotiva quando o condutor lhe dá toda a pressão. Voltara o rosto para ele e vira entreabrirem-se-lhe os lábios; e logo o beijara fortemente com a língua, fazendo um pequeno ruído no fundo da garganta. Perguntava-se se ela faria aquele ruído automaticamente, como um gato que ronrona quando lhe acariciam o pelo. E, sem saber bem como, ainda lhe guiara a mão até aos seios onde ficara aninhada no quente sob o vestido, com a palma a arder. Apertara-a contra si com o braço, erguendo-a na ponta dos pés até ela se torcer para se afastar arquejante. — Uuuf – dissera. – Muito bem, Jesse. Ai... muito bem... – enquanto se ria de novo para ele e endireitava o cabelo. E todos os sonhos passados e visões futuras se tinham encontrado e fundido naquele ponto do Tempo. Lembrava-se de como tinha alimentado sem parar a caldeira da locomotiva na viagem de volta, enquanto o vento assobiava e as rodas chiavam no caminho cheio de pontos brilhantes como jóias. As imagens voltavam; via Margaret em mil e um momentos doces, ajeitando o cabelo, tocando-se, despindo-se, rindo. E recordou, subitamente, o casamento de um fogueiro – o malfadado casamento do seu irmão Micah com uma rapariga de Sturminster
Newton. As máquinas polidas até ao bojo, enfeitadas com fitas e bandeiras drapeadas, as pranchas do soalho de cada um dos vagões a brilhar de limpeza, montes de confetti como neve de cor viva, o padre que se ria de copo de vinho na mão, o velho Eli, de cabelo milagrosamente alisado com brilhantina, radiante de felicidade, rosto avermelhado, um colarinho incongruente em volta do pescoço, acenando da plataforma da Margaret a sua caneca de cerveja. Depois, de modo igualmente abrupto, toda a cena desapareceu; e Eli, de fato domingueiro, com o seu jarrão de estanho e a cabeleira brilhante, fora reconduzido a um lugar perdido na escuridão do vento. — Pai...! Sentou-se ofegante. O pequeno quarto continuava obscuro, com sombras que dançavam nas paredes, à medida que a chama da lanterna vacilava. No exterior, o relógio tocou a meia-noite e meia hora. Ficou quieto, sentado na borda da cama com a cabeça apoiada nas mãos. Nada de casamentos para ele, nada de alegria. No dia seguinte teria de partir de regresso a uma casa ainda de luto; para os problemas que o pai deixara por resolver, os negócios da família, a mesma volta antiga e monótona. Na escuridão, a imagem de Margaret pareceu dançar como uma centelha solitária. Ficou horrorizado com o que o seu corpo começou a fazer, sem que o pudesse controlar: os pés encontraram os degraus da escada de madeira e desceram-nos precipitadamente. Já no pátio, sentiu o frio gelado morder-lhe a cara. Tentou reflectir, mas parecia que as pernas já não lhe obedeciam. Experimentou uma alegria súbita, um desanuviamento. Não se pode suportar a dor de um dente que nos aflige há muito tempo: vai-se ao barbeiro para mudar a moinha por uma agonia pior, mas mais rápida, e depois por uma paz abençoada. Já aguentara aquilo tempo de mais, tinha de acabar com ela agora. Instantaneamente, sem esperar mais. Disse para consigo que dez anos de esperanças e sonhos, esperando emudecido como um animal, já eram bastantes. Perguntou a si próprio o que esperara que ela fizesse. Não teria vindo a correr suplicante atirar-se-lhe aos pés: as mulheres não eram assim e ela tinha a sua dignidade a defender... Tentou lembrar-se da altura revista BANG! [ 128 ]
em que o abismo entre ambos se instalara e não percebeu quando fora, nada houvera, nem gesto, nem palavra... Nunca lhe dera uma oportunidade. E se ela também tivesse estado à espera durante todos aqueles anos? À espera que lhe perguntasse..? Tinha de ser verdade. Pensou, entusiasmado, que só podia ser verdade. E começou a cantar enquanto caminhava pela rua. O guarda-nocturno surgiu de uma porta, uma sombra escura de albarda na mão. — Está bem, senhor? A voz, soando como se viesse de muito longe, acordou Jesse de repente. Engoliu em seco, acenou afirmativamente e sorriu. — Sim, sim claro... – E apontou para trás com um dedo. – Trouxe... um comboio. Sou Strange, de Durnovaria... O homem deu um passo para trás. A sua atitude dizia claramente «mais um daqueles vagabundos...» e acrescentou asperamente: — É melhor ir para casa, senhor. Não quero ter de o prender. Já passa bastante da meia-noite, sabe?... — Vou já, senhor guarda – respondeu Jesse. – Vou já… – e dez passadas depois, voltava-se para trás. – Senhor guarda... o senhor é casado? A voz soou inflexível: — Vá para casa, senhor... – E o seu dono desapareceu na escuridão. A cidadezinha dormia. A geada cintilava nos telhados, as poças de água das bermas tinham-se transformado em pedra e todas as casas tinham as portadas corridas. Um mocho piou algures; ou então era o ruído distante de um motor, lá longe na estrada... A Sereia estava silenciosa e não se via luz alguma. Jesse bateu com força à porta. Nada. Bateu ainda mais fortemente. Uma luz brilhou do outro lado da rua. Começou a respirar com dificuldade. Tinha feito tudo mal, ela não abriria. Em vez disso chamariam o guarda... Mas por certo saberia quem estava a bater, as mulheres sabiam-no sempre. Bateu de novo na madeira, aterrorizado. — Margaret... Uma cintilação amarela e a porta abriu-se com uma rapidez que o fez desequilibrar-se. Ergueu-se, arquejante, tentando focar a vista. Ali estava ela, com um lenço em volta do pescoço e o cabelo desgrenharevista BANG! [ 129 ]
do. Erguia, bem alto, uma lanterna. E disse: — Tu...! – Fechou a porta com um empurrão, baixou-lhe o trinco e voltou-se para o ver. E disse numa voz baixa e furiosa – Que diabo pensas que estás a fazer? Jesse recuou. — Eu... – tartamudeou – Eu... Viu-lhe mudar a expressão. — Jesse – disse ela – o que se passa? Estás ferido? O que aconteceu? — Eu... lamento – respondeu. – Tinha de te ver, Margaret. Não podia continuar a não o fazer... — Chiu — disse ela. – Vais acordar o meu pai, se é que não o acordaste já. De que estás a falar? Encostou-se à parede tentando deter a tontura que o acometia. — Cinco mil – disse, com voz empastada. – Já não é nada, Margaret, sou... rico, valha-me Deus. Já não tem importância... — O quê? — Na estrada – tentou explicar, com desespero – os fogueiros falam. Dizem que querias cinco mil. Margaret, posso dar-te dez mil... Ela compreendeu, por fim. E, valesse-lhe Deus, começou a rir. — Jesse Strange – perguntou, sacudindo a cabeça –, que estás a tentar dizer-me? E saiu, por fim. — Amo-te, Margaret – disse simplesmente. – Acho que sempre te amei. E desejo... que sejas minha mulher. Ela deixou de rir, ficou muito quieta e fechou os olhos, como se subitamente tivesse ficado muito cansada. Depois, estendeu a mão suavemente e agarrou a do rapaz. — Vamos – pediu – só um bocadinho. Vem sentar-te aqui. A luz da lareira ao fundo do bar estava moribunda. Sentou-se em frente dela, enrolada como uma gata, olhando-o com olhos que pareciam maiores naquela penumbra; e Jesse falou. Disse-lhe o que nunca imaginara poder dizer: que a desejava, que sonhava com ela, mas que sabia não valer a pena; como esperara tantos anos e que não houvera momento em que ela lhe tivesse saído do pensamento. A rapariga permanecia em silêncio, acariciando-lhe as costas da mão com o polegar, pensando e cismando. Disse-lhe que seria dona da casa e dos jardins, dos pomares e ameixieiras, dos terraços cheios de rosas, dos criados, de uma conta pessoal no banco;
e não teria mais trabalho que fazer, exceptuando o de ser sua esposa. O silêncio arrastou-se quando acabou de falar, até o grande relógio do bar dar as horas. Ela estendeu o pé para as cinzas tépidas, esticando os dedos; ele agarrou-o e acariciou-lhe a planta com os dedos: — Amo-te muito, Margaret – disse –, de verdade... Ela continuava parada, a olhar o vazio, de olhos opacos. E deixou escorregar o xaile dos ombros, expondo os seios de mamilos espetados contra a transparência da camisa de noite. Franziu a testa, apertou os lábios e voltou a olhar para ele. — Jesse – disse –, quando eu acabar de falar fazes-me uma coisa? Prometes? Ficou de repente sóbrio. A tontura e o calor desapareceram e ficou a tremer. Ouviu, sem sombra de dúvida, a locomotiva apitar em qualquer lado. — Sim, Margaret – respondeu –, se é isso que queres. Veio ter com ele e sentou-se a seu lado. — Chega-te para lá – disse, num murmúrio. – Estás a ocupar o espaço todo. – Depois viu-lhe a tremura e pôs-lhe a mão dentro do casaco, esfregando-o suavemente. – Pára com isso – disse. – Não o faças, Jesse. Por favor... O espasmo passou-lhe; retirou o braço, apanhou o xaile e enrolou a camisa em torno dos joelhos. — Quando te disser o que vou fazer, prometes ir-te embora? Em sossego e sem fazeres... problemas? Por favor, Jesse. Deixei-te entrar... — Está bem – respondeu. – Não te preocupes, Margaret, está tudo bem. – A voz soou-lhe como se pertencesse a um estranho. Não queria ouvir o que ela tinha para dizer; mas o escutá-la significava que podia permanecer a seu lado por mais algum tempo. E sentiu, de repente, o que seria receber o último cigarro antes de ser enforcado. Como cada fumaça representaria mais um segundo de vida. Ela entrelaçou os dedos e olhou para a carpete. — Quero... isto como deve ser – disse –, quero dizê-lo correctamente, Jesse, porque não quero magoar-te. Gosto demasiado de ti para o fazer. Já
o sabia, é claro, sempre o soube. Por isso te deixei entrar. Porque... gosto muito de ti, Jesse, e não queria magoar-te. E, agora, como vês, acreditei em ti e, portanto, não me deves deixar ficar mal. Não posso casar contigo, Jesse, porque não te amo. E nunca te amarei. Percebes? É horrivelmente duro saber... o que sentes, e tudo isso, e ter de te dizer isto apesar de tudo, mas tenho de o fazer porque não daria resultado. Sabia que isto aconteceria um dia, costumava ficar deitada, acordada, a pensar nisto, a pensar em ti, juro-te, mas não serviu de nada. Não daria resultado. É tudo. Por isso, não. Lamento muito, mas não. Como pode um homem basear toda a sua vida num sonho, como pode ser tamanho tolo? Como pode viver, uma vez perdido esse sonho?... Viu o rosto do rapaz mudar de novo e tomou-lhe a mão nas suas. — Jesse, por favor... Penso... que foi lindo teres esperado por mim todo este tempo, e sei da questão do dinheiro e por que razão o disseste, sei que apenas querias dar-me... uma boa vida. Foi lindo pensares tudo isso a meu respeito e sei que o farias. Mas não iria dar resultado... Oh, meu Deus, é horrível!... Tentas acordar do que sabes ser um sonho, mas não consegues. Porque já estás acordado, este é o sonho a que chamam vida. Moves-te no sonho e falas, mesmo quando algo dentro de ti quer contorcer-se e morrer. Acariciou-lhe o joelho, sentindo-lhe a doce firmeza e disse — Margaret, não pretendo apressar-te. Olha, voltarei dentro de dois meses e... A rapariga mordeu os lábios. — Sabia, também, que irias dizer isso. Mas... não, Jesse. Não vale a pena pensares nisso. Já tentei e não dá resultado. Não quero... voltar a passar por isto e magoar-te de novo. Por favor, não voltes a pedir-mo. Nunca mais. Pensou sombriamente que não a podia comprar. Não a podia conquistar, nem comprar. Porque não era homem bastante, eis a simples verdade. Não era o que ela queria. Soubera-o, desde sempre, lá muito no fundo, mas nunca o quisera enfrentar. Beijara a almofada muitas noites e murmurara o seu amor a Margaret, porque nunca ousara trazer a revista BANG! [ 130 ]
verdade à luz do dia. E agora tinha o resto dos seus dias para tentar esquecer... aquilo. Ela ainda o observava e prosseguiu — Por favor, compreende-me... E Jesse sentiu-se melhor. Deus lhe valesse, mas parecia-lhe que um peso lhe saíra de cima e o deixava falar. — Margaret – disse. – Isto parece muito estúpido, não sei que dizer... — Tenta... — Não quero prender-te. Seria egoísta... tal como se alguém... quisesse ter um pássaro numa gaiola... possuí-lo... Mas antes não pensava assim. Acho que... te amo de verdade, porque não quero que isso te aconteça. Nada faria para te magoar. Não te preocupes, Margaret, deixa estar. Agora já vou ficar bem. Acho que... bem, acho que desaparecerei da tua vida, apenas... Ela levou uma das mãos à cabeça e murmurou: — Meu Deus, é horrível, sabia que isto iria acontecer... Jesse, não... desapareças. Quero dizer, partir e... não voltar mais. Sabes, eu... gosto muito de ti, como amigo, e sentir-me-ia muito mal se procedesses assim. As coisas não podem continuar a ser como eram, quero dizer, não podes vir ver-me... como costumavas fazer? Não te vás já embora, por favor... Até isso, pensou, sou capaz de fazer, até mesmo isso. Ela levantou-se. — Agora vai, por favor... Acenou, entorpecido. — Tudo vai ficar bem... — Jesse – disse a rapariga – não quero... aprofundar mais nada, mas… – e beijou-o rapidamente. Desta vez não houve sentimento, não houve fogo. Ficou de pé até ela o soltar e depois encaminhou-se rapidamente para a porta. Escutou indistintamente o barulho das botas a retinir na calçada. Algures, muito longe, ouviu um suspiro vago, um murmurar; talvez fosse o sangue a bater-lhe nos ouvidos, talvez o mar. As ombreiras das casas e as janelas de portadas obscuras pareciam espreitá-lo, todas de comum acordo, e desapareceriam mal se afastasse. Sentia-se como um fantasma deveria sentir-se ao debater-se com a ideia da morte, tentando assimilar uma ideia revista BANG! [ 131 ]
demasiado grande para o seu entendimento. Já não havia nenhuma Margaret. Nenhuma Margaret. Agora, teria de deixar o mundo dos adultos, onde as pessoas amavam e se relacionavam e eram importantes umas para as outras. Teria de voltar de novo ao seu universo de criança, feito de óleo e aço. E os dias haviam de chegar e passar, até que num deles morreria. Atravessou a rua perto do hotel George, e logo que passou o arco da entrada subiu as escadas e abriu a porta do quarto. Apagou a luz, sentindo o odor fresco e acre dos lençóis de Goody Thompson. A cama estava fria como um túmulo. *
A
s peixeiras acordaram-no com os seus pregões de rua. Ouvia-se algures o bater das pás de fazer manteiga e das vozes crispadas pelo ar frio do pátio. Ficou quieto de barriga para baixo e houve um espaço de tempo vazio antes de sentir o gelo do desgosto. Lembrou-se de que estava morto; levantou-se e vestiu-se, sem sentir o ar gelado no corpo. Lavou e barbeou a cara pálida e olheirenta de um estranho e saiu em busca da Burrell. As cores brilhavam-lhe à pálida luz do sol, encimadas por uma pequena camada de geada. Abriu a fornalha, varreu o borralho com o ancinho e alimentou-a. Não tinha qualquer espécie de fome; em vez disso, desceu até ao cais e regateou, sem se dar conta, o peixe que queria comprar e combinou a entrega no George. Avistou os confessionários preparados para o serviço nocturno e ficou para se confessar. Nem sequer se aproximou da Sereia; agora, nada mais queria do que partir, pôr-se a caminho na estrada. Voltou a verificar tudo na Dama Margaret, poliu-lhe as placas com o nome, tampões e os cubos das rodas. Então, lembrou-se de ter visto uma coisa na janela de uma loja, que quisera comprar; um pequeno quadro da Virgem, de S. José, com os pastores de joelhos e o Menino Jesus na manjedoura. Bateu à porta do lojista, comprou-o e mandou-o embrulhar; a mãe apreciava muito aquelas coisas e ficaria muito bem sobre o aparador por alturas do Natal.
Já era hora de almoço. Obrigou-se a comer, engolindo alimentos que lhe souberam a palha. Ia a pagar a conta, quando se lembrou; agora ia para a conta da Strange & Filhos, de Dorset. Depois da refeição dirigiu-se a um dos bares perto do George e bebeu para tentar lavar o gosto acre da boca. No subconsciente não deixava de esperar; passos, uma voz, uma mensagem de Margaret dizendo-lhe que não fosse porque mudara de opinião. Era um mau estado de espírito em que se deixara cair, mas não o podia evitar. Porém, não chegou mensagem alguma. Eram quase três horas quando saiu e se dirigiu para a Burrell para criar pressão. Desengatou a Margaret e virou-a, amarrou a carga no atrelado e conduziu-a até à estrada. Um feito difícil, mas fê-lo sem pensar. Desengatou a locomotiva e voltou a trazê-la de volta, engatou, empurrou a alavanca de inversão de marcha para a frente e abriu o regulador. O troar das rodas começou por fim. Sabia que, mal saísse de Purbeck, não voltaria. Não seria capaz, apesar da promessa. Enviaria Tim ou um dos outros; a coisa que sentia dentro de si não ficaria morta se a visse de novo, e teria de voltar a matá-la. E uma vez já era mais do que suficiente. Tinha de passar pelo bar. A chaminé deitava fumo, mas não havia qualquer outro sinal de vida. Atrás dele o comboio abria caminho ruidosa e obedientemente. Serviu-se do apito durante cerca de 50 metros, repetidas vezes, acordando a imensa voz de ferro da Margaret e enchendo a rua de vapor. Era infantil, mas não podia deixar de o fazer. Finalmente, chegou a campo aberto. Swanage foi ficando para trás à medida que subia em direcção à campina. Aumentou a velocidade: estava atrasado e naquele outro mundo que parecia ter abandonado há tanto tempo, um homem chamado Dickon estaria por certo muito preocupado. Lá ao longe, à esquerda, um semáforo erguia-se, rígido, contra o céu. Apitou-lhe duas notas agudas seguidas, do prolongado chamamento que todos os fogueiros usavam. Por momentos, a máquina permaneceu inerte; depois viu-lhe os braços corresponderem ao sinal. Sabia que, algures lá longe, alguém teria os seus óculos «Zeiss» assestados sobre a Burrell. Os homens da Guilda tinham respon-
dido; em breve uma mensagem se lançaria para Norte percorrendo as torres da região. A Dama Margaret, locomotiva da Strange & Filhos, Durnovaria; vinda de Swanage a caminho de Corvesgeat, quinze horas e trinta. Tudo bem... A noite chegou depressa e com ela a geada cortante. Virou para oeste muito antes de Wareham, atravessando a campina a direito. A Burrell trepidava compassadamente agarrando-se à estrada, com as rodas de tracção de dois metros de diâmetro, deixando finas esteiras de vapor na escuridão atrás de si. Parou uma única vez para encher os tanques e acender as lanternas e voltou a precipitar-se campina adentro. Formava-se agora uma fina neblina ou fumo de geada; entranhava-se nos buracos do chão irregular e brilhava estranhamente à luz das lanternas laterais. O vento murmurava ameaçadoramente. A norte dos Purbecks, na estreita faixa costeira, o vento carregava com força e dureza; e na manhã seguinte a campina estaria impraticável com o trilho perdido sob uma camada de meio metro ou mais de neve. Passara já uma hora desde que saíra de Swanage e a Margaret continuava a emitir a sua incansável canção de poder. Jesse pensou entorpecidamente que ela pelo menos conservava a fé intacta. Os semáforos já a tinham perdido na escuridão; não haveria mais mensagens até que atingisse o ponto de partida. Podia bem imaginar o velho Dickon, em pé, à porta do estaleiro e à luz dos archotes, preocupado, inclinando a cabeça para ver se apanhava o trepidar de um escape a quilómetros de distância. A locomotiva passou por Wool. Em breve estaria em casa, no pouco conforto que lhe restasse... A abordagem apanhou-o quase completamente de surpresa. O comboio abrandou perto do topo de um monte, enquanto o homem corria a seu lado e tentava içar-se para o degrau da plataforma. Jesse ouviu o raspar de sapatos na estrada; um sexto sentido qualquer avisou-o da existência de movimento na escuridão. Ergueu a pá prestes a atingir com ela a cabeça do estranho ameaçador, quando escutou um uivo agónico: — Eh, meu velho, já não reconheces os amigos? revista BANG! [ 132 ]
Em equilíbrio precário, Jesse resmungou e agarrou-se ao volante. — Col... que diabo estás a fazer aqui? De la Haye, ainda arquejante, sorriu-lhe à luz das lanternas laterais. — Sou só mais um caminhante, meu amigo. E estou feliz por te ver aqui, podes crer. Tive alguns problemas e pensei que tinha de passar a noite na maldita campina... — Que problemas? — Bem, estava a caminho de um lugar meu conhecido – disse de la Haye –, um lugar perto de Culliford, uma quintinha. Umas ricas irmãs. Eh, Jesse, mas tu sabes, não? – E esmurrou amigavelmente o braço de Jesse, começando imediatamente a rir-se. Jesse apertou os lábios e perguntou: — O que aconteceu ao teu cavalo? — O diabo do bicho tropeçou, caiu e partiu a perna. — Onde? — Na estrada além, ao longe – respondeu de la Haye, descuidadamente. – Corteil’as goelas e atirei-o valeta abaixo. Nã queria qu’os malditos bandoleiros viessem coscuvilhar o meu caminho… Soprou nas mãos e aproximou-as da fornalha, tremendo, dramaticamente, no seu casaco de pele de cabra. — Diabo de frio, Jesse, frio para burro... Até onde vais? — Até casa, Durnovaria. De la Haye olhou-o com atenção. — Eh, tu não estás bem, pois não? Estás doente, meu velho Jesse? — Não. De la Haye abanou-lhe o braço insistentemente. — Qu’é que se passa homem? Alguma coisa que um amigo não possa ajudar? Jesse ignorou-o e os seus olhos pesquisaram cuidadosamente a estrada em frente. De repente, de la Haye rebentou a rir. — Foi a cerveja, não? Meu velho Jesse, o teu estômago encolheu! – E ergueu um punho fechado, estendendo-o depois ao alto. – Como o estômago de um bebé, não. Já não há ali o velho, pois não? Não vereis mais o velho Jesse. Ah, a vida é um inferno. revista BANG! [ 133 ]
Jesse olhou para a válvula e deu volta às torneiras do tanque do bojo da máquina, escutou o esparrinhar da água na estrada, tocou nos controlos de injecção e viu sair o jacto de vapor à medida que as bombas alimentavam a caldeira. O batimento não sofreu qualquer alteração. E disse, calmamente: — Acho que deve mesmo ter sido a cerveja a culpada. Acho que tenho de deixar de beber. ‘Tou a ficar velho. De la Haye olhou-o atentamente. — Jesse – continuou –, tens problemas, filho. Tens problemas. O que há? Vá, desembucha... Aquela maldita intuição não o deixara ainda. Acompanhara-o sempre desde os tempos do colégio; parecia conhecer sempre o que estava a pensar mal a ideia lhe chegava à cabeça. Era a grande arma de Col; usava-a para conquistar as mulheres. Jesse riu-se amargamente; e, de repente, toda aquela história lhe saiu pela boca. Não a queria contar, mas fê-lo até à última palavra. Assim que começou, sentiu-se incapaz de parar. Col escutou-o em silêncio e depois começou a tremer. E tremia de riso. Encostou-se para trás de encontro à antepara do veículo, agarrado a uma escora. — Jesse, Jesse, és um puto. Meus Deus, nunca hás-de mudar... Danado de saxão... – E rebentou de novo às gargalhadas, limpando os olhos. – Então... então ela virou-te o seu lindo rabinho, não foi? Jesse, és mesmo um puto; quando aprenderás? Então apresentaste-te com... com isto... – E bateu no apito da Margaret. – E com a tua cara muito honesta e enfarruscada, oh Jesse, imagino a tua cara. Homem, ela não quer para nada o teu corcel de aço. Valha-me Deus, nem pensar... Mas, vou-te dizer o que deves fazer... Jesse inclinou os cantos dos lábios para baixo. — Porque é que não te calas simplesmente?... De la Haye abanou-lhe um braço. — Não, escuta. Não te zangues e escuta-me. Tu... deves fazer-lhe a corte, Jesse; é disso que ela gosta. Entendes? Veste o fatinho domingueiro, arranja um carro vistoso e cobre-o a folha de ouro. Ela vai gostar. ... Mas não te sujeites a ser empurrado de novo e também não lhe peças mais nada.
Diz-lhe o que queres e que o vais conseguir... Paga a cerveja com uma moeda de ouro e diz-lhe que queres receber o troco no primeiro andar. Ela merece-o, Jesse, merece que alguém lho diga. Mas é bonita... — Vai para o diabo... — Não a queres? – De la Haye pareceu magoado. – ‘Tou só a tentar ajudar... meu caro... Já perdeste o interesse? — Sim — respondeu Jesse. – Perdi o interesse. — Ahhh... – Col suspirou. – É pena. Um amor jovem todo estragado... Mas digo-te uma coisa. – E sorriu manhosamente. – Deste-me uma grande ideia, velho Jesse. Já que não a queres, vou eu conquistá-la. ‘Tá bem? Quando ouvires os prantos que indicam que o teu pai está morto, as tuas mãos continuarão a limpar uma guia de cruzeta. Quando o mundo ficar de repente vermelho e flamejante, quando houver tambores a rufar na tua cabeça e os olhos olharem a estrada em frente com os dedos quietos no volante. Jesse ouviu a própria voz falar secamente. — És um maldito bastardo mentiroso, Col, sempre o foste. Ela não se apaixonaria por ti. Col estalou os dedos e ensaiou um passo de dança na plataforma. — Homem, já está a meio caminho. Oh, mas como ela é bonita... Aqueles olhinhos estavam a brilhar de mais na noite passada, não? É fácil, homem, fácil... Vou-te dizer: acho que é sádica na cama. Mas é bonita, ahhh, bonita... E os seus gestos deram, sabe-se lá como, uma ideia de êxtase. Hei-de possuí-la cinco vezes por noite – jurou — e enviar-te-ei provas. ‘Tá bem? Talvez ele não esteja a falar a sério. Talvez esteja a mentir, mas não está. Conheço o Col; e o Col não mente. Não acerca disto. O que diz que vai fazer fá-lo-á... Jesse sorriu apenas com os dentes. — Faz isso, Col. Dá conta dela. E depois eu tirar-ta-ei. ‘Tá bem? De la Haye sorriu e agarrou-o por um ombro. — Jesse, és um puto. Eh...? Eh... Viu-se uma luz brilhar brevemente à direita lá ao longe, bem para o interior da campina. Col girou sobre si próprio, olhou para onde tinha estado
e voltou a olhar para Jesse. — Viste aquilo? Jesse respondeu de modo sombrio. — Sim, vi. De la Haye olhou nervosamente em torno da plataforma. — Tens uma arma? — Porquê? — A maldita luz, os bandoleiros… — Não se luta contra os bandoleiros com uma arma de fogo. Col abanou a cabeça. — Eh, homem, espero bem que saibas o que estás a fazer... Jesse puxou as portas da fornalha num repelão, permitindo a saída de uma labareda ardente. — Alimenta-a... — O quê? — Alimenta-a… — OK, homem – respondeu de la Haye. – ‘Tá bem, OK... – E começou a atirar pazadas para a fogueira. Fechou depois as portas a pontapé e endireitou-se. — Gosto muito de ti, mas tenho de te abandonar. Quando passarmos os sinais, se passarmos os sinais... O sinal, se é que tinha sido um sinal, não se repetiu. A campina estendia-se a perder de vista, deserta e sombria. Em frente, havia uma longa série de socalcos; a Lady Margaret encaminhou-se para o primeiro, arfando pesadamente. Col olhou novamente em redor com receio e inclinou-se para fora da plataforma para olhar para trás o resto da composição. As altas arcadas das lonas eram apenas perceptíveis na escuridão. — Que carga levas, Jesse? – perguntou. – Transportas bens de valor? Jesse encolheu os ombros — Só faz volume: rações para o gado, açúcar, frutos secos. Nada que valha a pena. De la Haye acenou com ar preocupado. — O que vai no atrelado? — Aguardente e seda. Algum tabaco. Artigos de veterinária – castradores de animais. – E acrescentou, olhando de lado: – Laços de corda, sem derrame de sangue. Col pareceu novamente surpreendido, depois começou a rir. revista BANG! [ 134 ]
— Jesse, és mesmo um puto. Um puto sanguinário... Mas esta é uma boa carga. Boa escolha... Jesse concordou com a cabeça, sentindo-se completamente vazio. – Para aí umas 10 mil libras. Coisa de tirar mais ou menos 100 libras. De la Haye assobiou: — Sim, sim, é uma boa carga... Passaram a ponte onde a luz aparecera e deixaram-na para trás. Só faltavam cerca de duas horas. Agora já não havia muito mais caminho a percorrer. A Margaret acabou de descer a colina e principiou a subir uma segunda. A luz surgiu, deslizando, por detrás de uma nuvem, patenteando a longa fita de estrada que se estendia na distância. Já estavam quase a deixar a campina e Durnovaria prestes a surgir no horizonte. Jesse avistou um sulco de rodas recente que se dirigia para a esquerda ainda antes que a Lua, encobrindo-se, voltasse a deixar a estrada envolta em trevas. De la Haye apertou-lhe o ombro. – Já estás a salvo – disse – passámos os filhos da mãe... Já não terás problemas. Vou-me embora já, meu velho, e obrigado pela boleia. E lembra-te da mocinha. Entra a matar, faz o que te digo. OK, meu velho Jesse? Jesse voltou-se para o olhar. – Toma cuidado contigo, Col – disse. O outro deu uma reviravolta até ficar no degrau. – Vou ‘tar bem, óptimo. – E soltou as mãos desaparecendo na noite. Calculara mal a velocidade da Burrell. Rolou para a frente, deu um salto mortal na erva áspera e sentou-se, rindo-se. As luzes da carga da cauda da composição esbatiam-se já na distância. Ouviu barulho em seu redor; seis cavaleiros apareceram recortados no escuro de encontro ao céu. Traziam à arreata um sétimo cavalo de sela vazia. Col avistou o brilho da coronha de um revólver, a forma volumosa de um arco. Bandoleiros. Levantou-se ainda a rir e montou de um salto o cavalo disponível. Na sua frente, o comboio perdia-se nos bancos de nevoeiro. De la Haye ergueu o braço e incitou — Ao último vagão… – Depois esporeou o cavalo e levou-o a galope moderado. Jesse continuava a controlar as válvulas. A toda revista BANG! [ 135 ]
a força, 150 libras de pressão na caldeira. Os lábios ainda se mostravam arrepanhados de angústia. Não era o suficiente; depois da próxima descida e a meio da extensa encosta que se avizinhava, eis quando o apanhariam. Deslocou o regulador para a posição extrema; a Dama Margaret voltou a ganhar velocidade, oscilando quando as rodas batiam nos sulcos. Atingiu o fundo da encosta a 25 à hora e abrandou quando o motor acusou o peso da carga que rebocava. Qualquer coisa atingiu um dos lados da placa do apito, produzindo um ruído tilintante. Uma seta zumbiu por cima do comboio iluminando o céu no seu percurso. Jesse sorriu porque já nada mais lhe importava. A Margaret trepidava e arfava; já avistava os cavaleiros galopando de ambos os lados da composição. Um brilho pálido que bem podia ser de uma ponta de um casaco de pele de carneiro. Um outro impacto fê-lo inteiriçar-se à espera de um tiro de besta apontado às costas. Mas nunca veio. Era típico de Col de la Haye; roubar-te-ia a mulher, mas não a dignidade, a carga do comboio, mas não a vida. As setas voltaram a voar, mas não em direcção à locomotiva. Jesse, esticando o pescoço para olhar as arcadas dos vagões, avistou chamas que se propagavam rapidamente ao longo da última cobertura de lona. A Margaret continuava a arfar de raiva, subindo penosamente a encosta. Encontrava-se a meio e o fogo ganhava rapidamente terreno. Em breve alcançariam o vagão seguinte da composição. Jesse estendeu a mão para baixo e a contra-gosto a mão fechou-se-lhe sobre o comando de desengate de emergência. Ergueu-o e sentiu o atrelado desengatar-se e as batidas do motor abrandarem assim que a carga ficou solta. O vagão em chamas abrandou, oscilou, e começou a escorregar para trás afastando-se do resto do comboio. Os cavaleiros perseguiram-no a galope, à medida que ia adquirindo mais velocidade na descida e rodearam-no, procurando abafar as chamas com os capotes. Col ultrapassou-os na corrida e saltou da sela para cima do vagão. Um esforço para se equilibrar e um grito de triunfo. Depois os bandoleiros rebentaram a rir. Empoleirado sobre a carga em movimento, gesti-
culando com a mão livre, o chefe urinava valentemente contra as chamas. A Dama Margaret acabara de subir a encosta, quando o tecto de nuvens foi iluminado por um súbito clarão branco. A explosão estalou como uma chicotada monstruosa; a onda de choque investiu contra os vagões e desviou a locomotiva do seu curso. Jesse lutou para a voltar a endireitar enquanto escutava os ecos que se reflectiam nas colinas distantes. Inclinou-se para fora da plataforma e olhou para trás para lá dos vagões carregados. E avistou os fogos que brilhavam à distância, no local onde os dois barris de fina pólvora, acondicionados entre tijolos e sucata de ferro, tinham dizimado a vida dos que o haviam atacado no vale. A água estava baixa. Moveu os injectores e verificou a válvula de pressão. — Temos de viver como pudermos – disse, sem escutar as suas próprias palavras. – Temos todos de viver como pudermos. A firma dos Strange não tinha sido erguida com delicadezas; podiam muito bem ficar com o que conseguissem roubar-lhe! Algures um semáforo bateu um sinal de Atenção-Emergência, acendendo as tochas que lhe iluminavam os braços. A Dama Margaret, arrastando a sua composição, fugiu em direcção a Durnovaria, que se anichava em frente no cotovelo palidamente iluminado do Frome. BANG!
Se gostou de A «Dama Margaret», aventure-se com Pavana
Pavana Keith Roberts E se, em 1588, a bala de um assassino pusesse fim ao glorioso reinado da rainha Isabel de Inglaterra? A partir desse momento toda a história do mundo seria diferente. A Invencível Armada de Filipe II invade as ilhas britânicas. Os reis católicos tornam-se senhores incondicionais de Inglaterra. A Igreja Anglicana tomba por terra. O movimento da Reforma nunca chegará a acontecer. Mais tarde, a Revolução Industrial é estrangu-lada à nascença. Os todo-poderosos Papas ordenam autos-de-fé para reprimir os embriões da tecnologia, cessando assim todo o progresso científico. E o frenesim da história transforma-se numa lenta Pavana que agoniza através dos séculos. No século XX, a repressão à ciência ainda não desapareceu. A energia eléctrica e os motores de explosão continuam a ser segredos heréticos guardados nas caves do Vaticano. Carros à vela e locomotivas a vapor transportam penosamente as mercadorias atra¬vés de uma Inglaterra feudalizada. Semáforos gigantescos, semelhantes a moinhos de vento com vários braços, enviam mensagens secretas através da terra. E algures, uma mão cheia de revolucionários, artistas e homens de ciência, com¬batem pela salvação ou ruína da espécie humana. “Nenhuma história alternativa dos últimos trinta anos se aproxima sequer de Pavana.” George R. R. Martin “Brilhante! Uma narrativa tão verídica que se torna real para o leitor. Sou incapaz de imaginar alguém que, depois de terminar as últimas páginas deste livro, não continue a relêlas, porque simplesmente não consegue parar.” Science Fiction Review
Nascido em 1935 e falecido em 2000, Keith Roberts, escritor e ilustrador de grande talento, viveu no Sul de Inglaterra, no Dorset, país onde decorre grande parte da narrativa. BANG!
Saida de Emergência / 2007 ISBN: 9789896370145 Preço: 17.75€ Na página da editora: 15.97€
revista BANG! [ 136 ]
[ficção]
[tradução de Jorge Candeias]
A Sombra Deslizante Robert E. Howard Quase setenta anos depois de escrever (e morrer), aí está ele, ainda e sempre, a inspirar multidões de escritores imitadores, BDs, jogos de computador, grandes blockbusters de Hollywood. É Robert E. Howard, o lobo solitário que criou um género. E que nos deu Conan, uma daquelas personagens maiores do que a vida e nunca totalmente compreendida. Se nunca o leu... aproveite! I
O
deserto tremulava com as ondas de calor. Conan, o cimério, olhou aquela dolorosa desolação e passou involuntariamente as costas da poderosa mão por sobre os lábios enegrecidos. Erguia-se sobre a areia como uma imagem de bronze, aparentemente insensível ao sol assassino, embora o seu único vestuário fosse uma tanga de seda, cingida à cintura por um largo cinto de fivela de ouro, do qual pendia um sabre e um punhal de lâmina larga. Nos seus membros bem definidos havia sinais de feridas recém curadas. A seus pés jazia uma rapariga, que se agarrava ao seu joelho com um braço branco e descansava a cabeça loura no mesmo sítio. A pele branca da rapariga contrastava com os membros duros e bronzeados do homem, e a túnica curta de seda que trajava, decotada e sem mangas, apertada à cintura, acentuava a sua esbelta figura em vez de a esconder. Conan abanou a cabeça, pestanejando. O brilho do sol quase o cegava. Tirou um pequeno cantil do cinto e abanou-o, franzindo o sobrolho perante o ténue sacolejar que veio lá de dentro. A rapariga moveu-se mostrando fadiga, choramingando. — Oh, Conan, vamos morrer aqui! Tenho tanta sede! O cimério soltou um rosnido sem palavras, olhando de forma truculenta para os ermos que os
revista BANG! [ 137 ]
rodeavam, de maxilar projectado e com os olhos azuis em brasa, selvagens, sob a desgrenhada cabeleira negra, como se o deserto fosse um inimigo tangível. Inclinou-se e levou o cantil aos lábios da rapariga. — Bebe até que te diga para parar, Natala — ordenou. Ela bebeu em pequenos arquejos ofegantes, e ele não a parou. Só quando o cantil ficou vazio é que ela se apercebeu de que a deixara deliberadamente beber toda a água que tinham de reserva, por pouca que fosse. Jorraram lágrimas dos seus olhos. — Oh, Conan — gemeu, apertando as mãos — porque me deixaste bebê-la toda? Eu não sabia… agora não há nenhuma para ti! — Cala-te — resmungou ele. — Não desperdices as forças com choros. Endireitando-se, atirou o cantil para longe. — Porque fizeste isso? — sussurrou ela. Ele não respondeu, e ficou ali, em pé, imóvel, com os dedos a fechar-se lentamente em torno do punho do sabre. Não olhava para a rapariga; os seus olhos ferozes pareciam sondar as misteriosas névoas azuis da distância. Mesmo que dotado de todo o feroz amor do bárbaro pela vida e do seu instinto de sobrevivência, Conan, o cimério, sabia que tinha atingido o fim do seu percurso. Não chegara ainda aos limites da re-
sistência, mas sabia que mais um dia sob o sol sem misericórdia naqueles ermos sem água o derrubaria. Quanto à rapariga, já sofrera o suficiente. Era melhor um golpe de espada rápido e sem dor do que a demorada agonia que a esperava. A sua sede estava temporariamente saciada e seria uma falsa misericórdia deixá-la sofrer até que o delírio e a morte lhe trouxessem alívio. Lentamente, libertou o sabre da bainha. Parou de súbito, retesando-se. Muito longe no deserto, para sul, algo cintilou através das ondas de calor. A princípio pensou tratar-se de um fantasma, uma das miragens que tinham escarnecido dele e o tinham enlouquecido naquele maldito deserto. Defendendo do sol os olhos ofuscados, distinguiu coruchéus, minaretes e muros reluzentes. Ficou a observar, carrancudo, esperando que a imagem se desvanecesse e desaparecesse. Natala parou de soluçar, pôs-se de joelhos com dificuldade e seguiu-lhe o olhar. — É uma cidade, Conan? — sussurrou, com demasiado medo para ter esperança. — Ou não passa de uma sombra? O cimério não respondeu por algum tempo. Fechou e abriu várias vezes os olhos, afastou o olhar, e depois voltou a pousá-lo na cidade. Esta permanecia onde a vira da primeira vez. — Só o diabo saberá — resmungou. — Mas vale uma tentativa. Devolveu o sabre à bainha. Inclinando-se, ergueu Natala nos seus poderosos braços como se fosse uma criança. Ela resistiu fracamente. — Não gastes as tuas forças transportando-me, Conan — pediu. — Eu posso andar. — O solo aqui é mais rochoso — respondeu ele. — Em breve terias as sandálias feitas em tiras — deitou um relance pelo maleável calçado verde que ela trazia. — Além disso, se queremos chegar àquela cidade, teremos de o fazer rapidamente, e eu desta forma andarei mais depressa. A hipótese de sobreviver emprestara um vigor e uma elasticidade frescos aos músculos de aço do cimério. Caminhou em passos largos pelo ermo arenoso como se tivesse acabado de iniciar a viagem.
Bárbaro entre os bárbaros, eram suas a vitalidade e resistência do selvagem, assegurando-lhe a sobrevivência onde homens civilizados teriam perecido. Ele e a rapariga eram, tanto quanto sabia, os únicos sobreviventes do exército do Príncipe Almuric, aquela horda louca e heterogénea que, seguindo o príncipe rebelde e derrotado da Cótia, varrera as Terras de Shem como uma tempestade de areia devastadora e ensopara de sangue as zonas fronteiriças da Estígia. Com uma hoste estígia a morder-lhe os calcanhares, abrira caminho através do reino negro de Cush apenas para ser aniquilada na borda do deserto do sul. Conan, nos seus pensamentos, comparava-a a uma grande torrente, que ia diminuindo gradualmente à medida que corria para sul, até secar, por fim, nas areias do deserto nu. Os ossos dos seus membros — mercenários, proscritos, homens arruinados, foras-da-lei — jaziam espalhados desde as terras altas da Cótia até às dunas do deserto. Conan abrira caminho à força e fugira num camelo com a rapariga daquele massacre final, quando os estígios e os cushitas cercaram os restos encurralados do exército. Atrás deles, a terra estava repleta de inimigos; o único caminho que tinham livre era o deserto do sul. E foi nessas ameaçadores profundezas que mergulharam. A rapariga era uma britúnica que Conan encontrara no mercado de escravos de uma cidade shemita tomada, e de quem se apropriara. Ela não tivera qualquer voto na matéria, mas a sua nova posição era de tal modo superior à de qualquer mulher hiboriana num serralho shemita que a aceitou com gratidão. E assim partilhara as aventuras da horda condenada de Almuric. Fugiram pelo deserto durante dias, seguidos até tão longe por cavaleiros estígios que não se atreveram a voltar para trás quando aqueles abandonaram a perseguição. Em vez disso, avançaram, em busca de água, até que o camelo morreu. Seguiram a partir daí a pé. Durante os últimos dias, o seu sofrimento fora intenso. Conan defendera Natala tanto quanto conseguira, e a vida dura dos acampamentos tinha-lhe dado mais vigor e força do que a que uma mulher comum possui; mas mesmo assim, não estava longe do colapso. revista BANG! [ 138 ]
O sol batia ferozmente na juba negra e emaranhada de Conan. Ondas de tontura e náusea chegavam ao seu cérebro, mas ele cerrou os dentes e avançou sem vacilar. Estava convencido de que a cidade era uma realidade e não uma miragem. Mas não fazia ideia do que poderiam lá encontrar. Os habitantes poderiam ser hostis. Mesmo assim, tratava-se de uma hipótese, e isso era tudo o que pedira. O sol estava prestes a pôr-se quando pararam em frente do maciço portão, gratos pela sombra. Conan pôs Natala no chão e esticou os braços doridos. Acima deles erguiam-se os muros com cerca de dez metros de altura, feitos de uma substância lisa e esverdeada que brilhava quase como vidro. Conan examinou as ameias, esperando ser desafiado, mas não viu ninguém. Impaciente, gritou e bateu no portão com o cabo do sabre, mas só os ecos vazios troçaram dele. Natala aninhou-se mais junto do seu peito, atemorizada por aquele silêncio. Conan experimentou o portão e deu um passo para trás, desembainhando o sabre, quando ele se abriu silenciosamente para dentro. Natala abafou um grito. — Oh, olha, Conan! Logo após o portão jazia um corpo humano. Conan examinou-o com os olhos semicerrados, e depois olhou para mais além. Viu uma grande extensão aberta, como um pátio, fechada pelas portas em arco de casas construídas com o mesmo material esverdeado das paredes exteriores. Esses edifícios eram grandiosos e imponentes, encimados por cúpulas e minaretes brilhantes. Não havia sinal de vida. No centro do pátio erguia-se o parapeito quadrado de um poço, e aquela visão aguilhoou Conan, que sentia a boca como uma massa de pó seco. Tomando o pulso de Natala, fê-la atravessar o portão, e fechou-o atrás deles. — Ele está morto? — sussurrou ela, indicando timidamente o homem que jazia, flácido, em frente do portão. O corpo pertencia a um indivíduo alto e musculoso, aparentemente no auge da sua força; a pele era amarela, os olhos ligeiramente oblíquos; fora isso, o homem pouco diferia do tipo hibório. Trajava sandálias atadas a meio da perna e uma túnica de seda púrpura, e pendia do seu cinturão uma espada curta numa bainha de fio de ouro. Conan verificou a revista BANG! [ 139 ]
sua pele. Estava fria. Não havia sinal de vida no corpo. — Não tem nem uma ferida — resmungou o cimério — mas está tão morto como Almuric ficou com quarenta setas estígias espetadas. Por Crom, verifiquemos o poço! Se houver água nele, beberemos, com ou sem mortos. Havia água no poço, mas não beberam dela. O nível da água estava uns bons quinze metros abaixo do parapeito e nada havia que pudessem usar para a trazer para cima. Conan soltou pragas negras, enlouquecido por ver a água longe do seu alcance, e virou-se a fim de procurar algum modo de a obter. Então, um grito de Natala chamou-lhe a atenção. O homem que supostamente estaria morto corria na sua direcção, os olhos em brasa com uma vida indiscutível, e a curta espada a reluzir-lhe na mão. Conan praguejou, espantado, mas não perdeu tempo com conjecturas. Recebeu o ruidoso atacante com um formidável golpe de sabre que cortou através de carne e de osso. A cabeça do homem caiu sobre as lajes com um ruído surdo, o corpo cambaleou ebriamente com um arco de sangue a jorrar da jugular cortada, e de seguida caiu pesadamente ao chão. Conan olhou para baixo, praguejando com suavidade. — Este homem não está mais morto agora do que estava há alguns minutos. Até que casa de loucos deambulámos? Natala, que cobrira os olhos com as mãos ao ver o ataque, espreitou por entre os dedos e estremeceu de medo. — Oh, Conan, não nos matarão por causa disto as pessoas da cidade? — Bem — resmungou ele — esta criatura ter-nos-ia morto se não lhe tivesse podado a cabeça. Lançou um relance às arcadas que se abriam, vazias, nas paredes verdes acima deles. Não viu nenhuma sugestão de movimento, não ouviu nenhum som. — Não me parece que alguém nos tenha visto — murmurou. — Vou esconder as provas… Ergueu com uma mão a carcaça pelo cinturão, e agarrando na cabeça pelos longos cabelos com a
outra, meio carregou e meio arrastou os horríveis restos para o poço. — Visto que não podemos beber esta água — disse, rangendo os dentes vingativamente — vou assegurar-me de que ninguém mais se divirta a bebê-la. Para o diabo com um poço destes! — Ergueu o corpo sobre o parapeito e deixou-o cair, atirando a cabeça atrás dele. Ouviu-se um esparrinhar abafado muito abaixo. — Há sangue nas pedras — segredou Natala. — E haverá mais, a menos que eu encontre água em breve — grunhiu o cimério, com a pequena reserva de paciência quase esgotada. A rapariga quase olvidara a sede e a fome com o medo, mas Conan não. — Entremos por uma daquelas portas — disse ele. — Decerto encontraremos pessoas ao fim de algum tempo. — Oh, Conan! — lamentou-se Natala, aconchegando-se tanto ao bárbaro como foi capaz. — Tenho medo! Esta é uma cidade de fantasmas e de mortos! Voltemos ao deserto! Será melhor morrer aí do que enfrentar estes terrores! — Iremos para o deserto quando nos atirarem dos muros — rosnou ele. — Há água algures nesta cidade, e vou encontrá-la, nem que tenha de matar todos os seus homens. — Mas e se eles voltarem à vida? — sussurrou ela. — Então continuarei a matá-los até ficarem mortos! — explodiu ele. — Vem! Aquela porta é tão boa como qualquer outra! Fica atrás de mim, mas não fujas a menos que te diga para o fazeres. A rapariga murmurou um ténue assentimento e seguiu-o tão de perto que lhe pisava os calcanhares, para irritação do bárbaro. Caíra o crepúsculo, enchendo a estranha cidade de sombras purpúreas. Entraram pela porta aberta e acharam-se num aposento amplo, cujas paredes estavam cobertas com tapeçarias de veludo, trabalhadas em desenhos curiosos. O chão, as paredes e o tecto eram feitos da pedra vidrada verde, e as paredes estavam decoradas com frisos dourados. Almofadas de peles e cetim estavam espalhadas pelo chão. Havia várias portas que levavam a outras salas. Avançaram, e atravessaram vá-
rios aposentos, duplicados do primeiro. Não viram ninguém, mas o cimério grunhiu com suspeita. — Alguém esteve aqui não há muito tempo. Este canapé ainda está quente do contacto com um corpo humano. Aquela almofada de seda tem a impressão das ancas de alguém. E há um leve odor a perfume no ar. Uma estranha atmosfera irreal pairava sobre tudo. Atravessar aquele palácio sombrio e silencioso era como um sonho de ópio. Alguns dos aposentos não tinham iluminação e, a esses, evitavam-nos. Outros estavam banhados numa luz suave e estranha que parecia emanar de jóias incrustadas nas paredes em desenhos fantásticos. De súbito, quando entraram num desses aposentos iluminados, Natala soltou um grito e agarrou-se ao braço ao companheiro. Com uma praga, ele rodopiou, olhando em busca de um inimigo, confuso por não ver nenhum. — Que se passa? — rosnou. — Se voltas a agarrar no meu braço da espada, esfolo-te. Queres ver-me de garganta cortada? Estavas a gritar porquê? — Olha para ali — disse ela com voz insegura, apontando. Conan grunhiu. Sobre uma mesa de ébano polido encontravam-se vasilhas douradas, aparentemente contendo comida e bebida. Não estava ninguém na sala. — Bem, seja quem for aquele para quem este festim foi preparado — rosnou — esta noite terá de procurar comida noutro sítio. — Atrever-nos-emos a comê-lo, Conan? — aventurou-se a rapariga a dizer em voz nervosa. — As pessoas podem chegar, e… — Lir an mannanan mac lira — praguejou ele, agarrando-a pela parte de trás do pescoço e atirando-a sem grande cerimónia para uma cadeira dourada que estava numa das pontas da mesa. — Nós passamos fome e tu pões objecções! Come! Escolheu para si a cadeira da outra ponta e, agarrando numa taça de jade, esvaziou-a de um trago. Continha um licor carmesim semelhante a vinho, com um paladar peculiar, que não conhecia, mas era como néctar para a sua garganta ressequida. Com a sede aliviada, atacou com raro apetite a comida que estava à sua frente. Também ela lhe era estranha: revista BANG! [ 140 ]
frutos exóticos e carnes desconhecidas. As vasilhas eram de requintado fabrico, e também havia facas e garfos dourados. Conan ignorou os talheres, segurando as peças de carne com os dedos e rasgando-as com os seus fortes dentes. As maneiras do cimério à mesa eram sempre bastante lupinas. A sua civilizada companheira comia com mais elegância, mas de modo igualmente voraz. Ocorreu a Conan que a comida poderia estar envenenada, mas esse pensamento não lhe diminuiu o apetite; preferia morrer envenenado do que à fome. Com a fome satisfeita, recostou-se com um profundo suspiro de alívio. Que havia pessoas naquela cidade silenciosa era comprovado pela comida fresca, e era possível que cada canto escuro escondesse um inimigo à espreita. Mas não sentia qualquer apreensão quanto a isso, dado ter grande confiança nas suas qualidades de guerreiro. Começou a sentir-se sonolento, e pesou a ideia de se estender num canapé próximo e dormir um pouco. Mas Natala não. Já não tinha fome nem sede, mas não sentia nenhum desejo de dormir. Os seus belos olhos estavam na verdade muito abertos enquanto ela lançava relances tímidos às portas, fronteiras do desconhecido. O silêncio e mistério daquele estranho lugar afligiam-na. O aposento parecia maior e a mesa mais longa do que a princípio julgara, e apercebeu-se de que estava mais longe do seu sombrio protector do que desejava estar. Erguendo-se com rapidez, rodeou a mesa e sentou-se no seu joelho, olhando nervosamente para as portas arqueadas. Algumas estavam iluminadas, outras não, e eram para as que não estavam que ela olhava durante mais tempo. — Já comemos, bebemos e descansámos — insistiu. — Abandonemos este lugar, Conan. É maligno. Posso senti-lo. — Bem, até agora não sofremos nenhum dano — começou ele, quando um roçagar suave mas sinistro lhe despertou a atenção. Tirando a rapariga do joelho, ergueu-se com a facilidade rápida de uma pantera, puxando do sabre, virando-se para a porta de onde o som parecera vir. Não se repetiu, e ele avançou silenciosamente, seguido por uma Natala com o coração na boca. Ela sabia que o comrevista BANG! [ 141 ]
panheiro suspeitava de perigo. A cabeça projectada para diante do bárbaro estava afundada entre os seus gigantescos ombros, e ele deslizava em frente meio acocorado, como um tigre a caçar. Não fazia mais ruído do que um tigre teria feito. Na ombreira parou, com Natala a espreitar, temerosa, atrás. Não havia luz naquele quarto, mas estava parcialmente iluminado pelo brilho que vinha das suas costas, o qual atravessava daquele aposento e ia oferecer alguma luz a um terceiro. E, nesse quarto, um homem jazia sobre um estrado elevado. Estava banhado pela luz suave, e viram que era um duplicado do homem que Conan matara em frente do portão exterior, salvo que os seus trajos eram mais ricos e ornamentados com jóias que cintilavam àquela luz misteriosa. Estaria morto ou apenas a dormir? De novo soou aquele som ténue e sinistro, como se alguém tivesse afastado uma cortina. Conan recuou, arrastando consigo Natala. Pôs a mão sobre a boca dela mesmo a tempo de parar o seu grito. De onde estavam agora já não podiam ver o estrado, mas viam a sombra que ele lançava sobre a parede oposta. E, naquele momento, outra sombra se movia pela parede: um enorme borrão negro e sem forma. Conan sentiu o cabelo formigar de forma curiosa enquanto observava. Por mais distorcida que pudesse estar, o cimério sentiu que nunca vira homem ou animal que fosse capaz de projectar uma sombra assim. Estava consumido de curiosidade, mas um qualquer instinto deixava-o gelado e imóvel. Ouviu os arquejos palpitantes de Natala enquanto a rapariga observava de olhos dilatados. Nenhum outro som perturbava a tensa quietude. A grande sombra engoliu a do estrado. Por um longo instante só o seu negro volume foi arremessado contra a parede lisa. Então, lentamente, recuou e de novo se viu o estrado recortado, escuro, contra a parede. Mas o homem adormecido já não estava sobre ele. Um gorgolejo histérico subiu à garganta de Natala e Conan abanou-a num aviso. Estava consciente do frio glacial nas suas veias. Não temia inimigos humanos; qualquer coisa compreensível, por mais terrível que fosse, não provocava tremores no seu peito largo. Mas aquilo estava para lá do que conhecia.
Depois de algum tempo, porém, a curiosidade sobrepôs-se ao constrangimento, e ele voltou a encaminhar-se para o aposento não iluminado, pronto para tudo. Olhando para o outro quarto, viu que estava vazio. O estrado estava onde o vira da primeira vez, salvo que nenhum homem ornamentado de jóias nele jazia. Via-se apenas, sobre a sua cobertura de seda, uma única gota de sangue, que brilhava como uma grande pedra preciosa de cor carmesim. Natala viu-a e soltou um grito baixo e engasgado, pelo qual o bárbaro não a puniu. Sentia de novo a mão gelada do medo. Naquele estrado jazera um homem; algo se arrastara para o aposento e o levara dali. Conan não fazia nenhuma ideia do que esse algo seria, mas uma aura de horror contranatura pairava sobre aqueles quartos fracamente iluminados. Estava pronto a partir. Tomando a mão de Natala, virou-se, e então hesitou. Vindo de algures, de um dos aposentos que tinham atravessado, chegou-lhe o som de um passo. Um pé humano, nu ou calçado com algo suave, produzira aquele som e Conan, com a prudência de um lobo, virou rapidamente para um dos lados. Acreditava ser capaz de regressar ao pátio exterior e ao mesmo tempo evitar o quarto de onde o som parecera vir. Mas ainda não tinham atravessado o primeiro aposento da sua nova rota quando o roçagar de uma colgadura de seda os fez parar de súbito. Em frente de uma alcova coberta por cortinas estava um homem a olhá-los com intensidade. Era exactamente como os outros que tinham encontrado: alto, bem constituído, trajando de púrpura e com um cinto cravejado de jóias. Não havia nem surpresa nem hostilidade nos seus olhos de âmbar. Eram sonhadores como os de um comedor de lótus. Não puxou da espada curta que trazia à anca. Após um momento tenso, falou, num tom distante e desprendido, e numa língua que os ouvintes não compreendiam. Conan experimentou responder em estígio, e o estranho retorquiu na mesma língua: — Quem és tu? — Sou Conan, um cimério — respondeu o bárbaro. — Esta é Natala, da Britúnia. Que cidade é esta?
O homem não respondeu de imediato. O seu olhar sonhador e sensual pousou em Natala, e ele disse, em voz arrastada: — De todas as minhas ricas visões, esta é a mais estranha! Oh, rapariga das madeixas douradas, de que distante terra de sonho vens tu? De Andarra, ou Totra, ou da Cute do cinturão de estrelas? — Que loucura é esta? — rosnou o cimério em tom ríspido, não lhe agradando as palavras nem as maneiras do homem. O outro não lhe prestou atenção. — Já sonhei com belezas mais esplendorosas — murmurou; — ágeis mulheres com o cabelo sombrio como a noite, e olhos escuros de um mistério inexplorado. Mas a tua pele é branca como leite, os teus olhos claros como a alvorada, e há em ti uma frescura e delicadeza que são sedutoras como o mel. Vem até ao meu canapé, pequena rapariga de sonho! O homem avançou e estendeu a mão para ela, mas Conan afastou-a com uma força que poderia ter partido o braço. O homem recuou, agarrado ao membro entorpecido, os olhos a turvar-se. — Que rebelião de fantasmas é esta? — murmurou. — Bárbaro, ordeno-te: Fora! Extingue-te! Dissipa-te! Extingue-te! Desaparece! — Vou é fazer-te desaparecer a cabeça de cima dos ombros! — rosnou o enfurecido cimério, com o sabre a brilhar na mão. — É esta a tua maneira de receber estranhos? Por Crom, vou ensopar estas colgaduras de sangue! O devaneio tinha desaparecido dos olhos do outro, substituído por um ar desnorteado. — Thog! — disse de súbito. — És real! De onde vens? Quem és? Que fazes em Xutal? — Viemos do deserto — rosnou Conan. — Entrámos na cidade ao pôr-do-sol, famintos. Encontrámos um banquete preparado para alguém, e comemo-lo. Não tenho dinheiro para pagá-lo. No meu país, a nenhum homem com fome é negada comida, mas vocês, os civilizados, têm de ter a vossa recompensa… se fores como todos os outros que conheci. Não fizemos nenhum mal e estávamos já de saída. Por Crom, não gosto deste lugar, onde mortos se erguem e homens que dorrevista BANG! [ 142 ]
mem desaparecem nos ventres de sombras! O homem sobressaltou-se violentamente com o último comentário, a face amarela a tornar-se cor de cinza. — Que dizes? Sombras? Nos ventres de sombras? — Bem — respondeu cautelosamente o cimério — seja o que for que tira um homem de um estrado e deixa só uma gota de sangue. — Viste? Viste? — O homem tremia como uma folha, com a voz quebrada numa nota alta. — Só um homem a dormir num estrado e uma sombra que o engoliu — respondeu Conan. O efeito daquelas palavras sobre o outro foi horripilante. Com um terrível grito, o homem virou-se e fugiu do aposento. Na sua pressa cega, esbarrou contra a soleira da porta, endireitou-se e fugiu através dos aposentos adjacentes, ainda gritando a plenos pulmões. Espantado, Conan ficou a olhar para ele, e a rapariga tremia agarrada ao braço do gigante. Já não conseguiam ver a figura que fugia, mas ainda ouviam os seus medonhos gritos, esmorecendo com a distância, e ecoando como se se repercutissem em tectos abobadados. De súbito, soou um grito mais alto que os outros, que foi subitamente interrompido, seguindo-se um silêncio vazio. — Crom! Conan limpou a transpiração da testa com uma mão que não estava inteiramente firme. — Esta é, de certeza, uma cidade de loucos! Saiamos daqui antes que encontremos mais tresloucados! — É tudo um pesadelo! — lamuriou Natala. — Estamos mortos e perdidos! Morremos no deserto e estamos no inferno! Somos espíritos sem corpo… au! — O grito foi provocado por uma ressonante palmada da mão aberta de Conan. — Quando uma pancadinha te faz gritar assim, não és espírito nenhum — comentou, com o sombrio sentido de humor que se manifestava frequentemente em alturas inoportunas. — Estamos vivos, embora possamos deixar de estar se nos demorarmos neste edifício assombrado por demónios. Vem! Atravessaram apenas um único aposento anrevista BANG! [ 143 ]
tes de voltarem a parar abruptamente. Alguém ou algo se aproximava. Viraram-se para a porta de onde vinham os sons, esperando por algo que não sabiam o que seria. As narinas de Conan alargaram-se e os seus olhos estreitaram-se. Detectou o vago odor a perfume que já tinha notado naquela noite. Uma figura destacou-se da soleira da porta. Conan praguejou em surdina. Os lábios vermelhos de Natala escancararam-se. Era uma mulher que ali estava, olhando-os, espantada. Era alta, ágil, com as formas de uma deusa; trajava uma faixa estreita incrustada de jóias. Uma massa lustrosa de cabelo negro como a noite realçava a brancura do seu corpo de marfim. Os olhos negros, ensombrados por longas pestanas de penumbra, eram profundos e cheios de um mistério sensual. Conan prendeu a respiração perante tamanha beleza, e Natala olhou-a com olhos dilatados. O cimério nunca vira uma mulher assim; os traços do seu rosto eram estígios, mas não tinha a pele escura como as mulheres estígias que conhecera: os seus membros eram como alabastro. Mas quando falou, numa voz profunda, rica e musical, fê-lo em estígio. — Quem és tu? Que fazes em Xutal? Quem é essa rapariga? — Quem és tu? — retorquiu rudemente Conan, que era rápido a cansar-se de responder a perguntas. — Sou Thalis, a estígia — respondeu a mulher. — És louco por vires até aqui? — Tenho estado a pensar que devo ser — resmungou ele. — Por Crom, se sou são, estou deslocado aqui, porque todas estas pessoas são maníacas. Entramos na cidade, atordoados, vindos do deserto, morrendo de sede e de fome, e encontramos um homem morto que tenta apunhalar-me pelas costas. Entramos num palácio rico e luxuriante mas aparentemente vazio. Encontramos uma mesa posta mas sem ninguém a comer. Depois vemos uma sombra a devorar um homem adormecido… — observou-a com atenção e viu-a mudar ligeiramente de cor. — Então? — Então o quê? — perguntou ela, aparentemente recuperando o controlo.
— Estava à espera que desatasses a fugir pelas salas uivando como uma selvagem — respondeu ele. — Foi o que fez o homem a quem contei da sombra. Ela encolheu os magros ombros de marfim. — Então foram esses os gritos que ouvi. Bem, a cada homem o seu destino, e é uma tolice guinchar como uma ratazana na ratoeira. Quando Thog me quiser, virá buscar-me. — Quem é Thog? — quis saber Conan, desconfiado. Ela deitou-lhe um longo olhar avaliador que fez subir alguma cor ao rosto de Natala e a fez morder o estreito lábio vermelho. — Senta-te naquele divã e eu conto-te — disse ela. — Mas primeiro digam-me os vossos nomes. — Sou Conan, um cimério, e esta é Natala, filha da Britúnia — respondeu ele. — Somos refugiados de um exército destruído nas fronteiras de Cush. Mas não desejo sentar-me onde sombras negras possam esgueirar-se nas minhas costas. Com uma gargalhada ligeira e musical, ela sentou-se, esticando os flexíveis membros com um abandono estudado. — Descontrai-te — aconselhou. — Se Thog te quiser, levar-te-á, estejas onde estiveres. Aquele homem que mencionaste, o que gritou e fugiu… não o ouviste soltar um grande grito e depois cair no silêncio? No seu frenesim, deve ter corrido na direcção daquilo de que tentava escapar. Ninguém pode evitar o destino. Conan grunhiu sem se comprometer, mas sentou-se na ponta do canapé, com o sabre sobre os joelhos e os olhos a vaguear pelo aposento, desconfiados. Natala aninhou-se contra ele, agarrando-se-lhe com ciúme, sentada sobre as pernas. Olhava a estranha com suspeita e ressentimento. Sentia-se pequena, suja de pó e insignificante perante a beleza encantadora da outra, e não se iludia com o olhar daqueles olhos escuros, que devoravam todos os detalhes do corpo do gigante de bronze. — Que lugar é este e que gente é esta? — quis saber Conan. — A cidade chama-se Xutal; é muito antiga. Foi construída num oásis, que os fundadores de Xu-
tal encontraram nas suas viagens. Vieram do Leste há tanto tempo que nem mesmo os seus descendentes recordam a idade. — Decerto não há muitos; estes palácios parecem vazios. — Não; e no entanto, há mais do que poderás pensar. A cidade é, na realidade, um único grande palácio, com todos os edifícios dentro das muralhas intimamente ligados aos outros. Podes caminhar por estes aposentos durante horas sem ver ninguém. Noutras alturas, encontrarias centenas de habitantes. — Como assim? — inquiriu Conan, inquieto. Aquilo soava demasiado a feitiçaria para o seu conforto. — Durante a maior parte do tempo essas pessoas estão a dormir. A sua vida de sonho é tão importante (e para eles tão real) como a sua vida acordada. Ouviste falar da lótus negra? Cresce em alguns fossos na cidade. Foram-na cultivando ao longo dos tempos até que o seu sumo passou a induzir sonhos em vez da morte, sonhos magníficos e fantásticos. Passam a maior parte do tempo nesses sonhos. As suas vidas são vagas, erráticas e sem planos. Sonham, acordam, bebem, amam, comem e sonham de novo. Raramente terminam alguma das tarefas que iniciam e, em vez disso, deixam-na a meio e voltam a afundar-se na modorra da lótus negra. Essa refeição que encontraste? Sem dúvida que um deles acordou, sentiu a urgência da fome, preparou a refeição para si, e depois esqueceu-a e afastou-se para voltar a sonhar. — Onde arranjam os alimentos? — interrompeu Conan. — Não vi campos nem vinhedos fora da cidade. Têm pomares e currais dentro dos muros? Ela abanou a cabeça. — Fabricam a sua própria comida a partir dos elementos primevos. São magníficos cientistas quando não estão drogados com a sua flor dos sonhos. Os seus antepassados eram gigantes mentais que construíram esta maravilhosa cidade no deserto e, embora a raça se tenha tornado escrava das suas curiosas paixões, algum do seu soberbo conhecimento ainda persiste. Estas luzes não te despertaram curiosidade? São jóias fundidas com rádio. Tens de esfregá-las com revista BANG! [ 144 ]
o polegar para as fazer brilhar, e esfregá-las de novo, na direcção oposta, para as extinguir. Este é apenas um exemplo da sua ciência. Mas houve muito que já esqueceram. Sentem pouco interesse pela vida acordada, e escolhem permanecer a maior parte da vida num sono semelhante à morte. — Então o homem morto ao portão… — começou Conan. — Estava sem dúvida a dormir. Os que dormem pelo lótus são como mortos. A animação é aparentemente suspensa. É impossível detectar o mais ligeiro sinal de vida. O espírito deixa o corpo e deambula à vontade por outros e exóticos mundos. O homem ao portão é um bom exemplo da irresponsabilidade das vidas desta gente. Estava de guarda na entrada, onde o costume determina que deve ser mantida uma guarda embora nenhum inimigo tenha alguma vez avançado pelo deserto. Noutras partes da cidade poderás encontrar outros guardas, em geral a dormir tão profundamente como o homem do portão. Conan reflectiu sobre aquilo por algum tempo. — Onde estão agora as pessoas? — Espalhadas por várias partes da cidade; deitadas em canapés, em divãs de seda, em alcovas cheias de almofadas, em estrados cobertos por peles; todas envolvidas pelo véu brilhante dos sonhos. Conan sentiu a pele formigar entre os maciços ombros. Não o acalmava pensar em centenas de pessoas que jaziam, frias e imóveis, nos palácios cheios de tapeçarias, com os olhos vidrados a olhar para cima sem ver. Lembrou-se de algo mais. — Que coisa era aquela que se esgueirou pelos quartos e levou o homem do estrado? Um estremecimento contorceu os seus membros de marfim. — Isso era Thog, o Antigo, o deus de Xutal, que vive na cúpula submersa no centro da cidade. Sempre viveu em Xutal. Ninguém sabe se chegou com os antigos fundadores ou se já cá estava quando eles construíram a cidade. Mas o povo de Xutal adora-o. Durante a maior parte do tempo, dorme por baixo da cidade, mas por vezes, a intervalos irregulares, fica com fome, e então desliza pelos corredores serevista BANG! [ 145 ]
cretos e pelos aposentos fracamente iluminados, em busca de presas. Então, ninguém está a salvo. Natala gemeu de terror e agarrou-se ao pescoço poderoso de Conan como que a resistir a um esforço para a arrancar de junto do seu protector. — Crom! — explodiu ele, horrorizado. — Queres dizer-me que estas pessoas jazem calmamente a dormir com este demónio a rastejar entre elas? — É só ocasionalmente que ele fica com fome — repetiu ela. — Um deus deve ter os seus sacrifícios. Quando eu era criança, na Estígia, as pessoas viviam sob a sombra dos sacerdotes. Ninguém sabia nunca quando seria capturada e arrastada para o altar. Qual é a diferença entre serem os sacerdotes a dar uma vítima aos deuses ou ser o deus a vir buscá-la? — Esse não é o costume do meu povo — grunhiu Conan — nem do de Natala. Os hiborianos não sacrificam seres humanos ao seu deus, Mitra, e quanto ao meu povo… por Crom, gostaria de ver um sacerdote a tentar arrastar um cimério até ao altar! Derramar-se-ia sangue, mas não segundo as intenções do sacerdote. — És um bárbaro — riu Thalis, mas com um clarão nos olhos luminosos. — Thog é muito antigo e muito terrível. — Estas pessoas devem ser tolas ou heróicas — grunhiu Conan — para se deitarem e se porem a sonhar os seus sonhos idiotas, sabendo que podem acordar na sua barriga. Ela riu. — Não conhecem nada mais. Durante incontáveis gerações, Thog predou-os. Foi um dos factores que reduziu o seu número de milhares até centenas. Daqui a mais algumas gerações estarão extintos, e Thog terá de se aventurar no mundo em busca de novas presas, ou retirar-se para o submundo, de onde veio há tanto tempo. “Eles compreendem que estão condenados, mas são fatalistas, incapazes de resistência ou fuga. Ninguém da geração actual esteve para lá da vista destes muros. Há um oásis a um dia de viagem a pé, para sul; vi-o nos mapas antigos que os seus antepassados desenharam em pergaminho. Mas ninguém de Xutal o visitou nas últimas três gerações, e muito menos fez alguma tentativa de explorar as pastagens
verdes que ficam a um dia de marcha para lá desse oásis. São uma raça que desaparece rapidamente, afogada em sonhos de lótus, estimulando as horas que passam acordados através do vinho dourado que sara as feridas, prolonga a vida e revigora o mais saciado dos pervertidos.” “E no entanto, agarram-se à vida e temem a deidade que adoram. Viste como um deles enlouqueceu ao saber que Thog vagueava pelos palácios. Vi a cidade inteira gritar e arrancar os cabelos, e correr em frenesim para fora dos portões, agachando-se fora dos muros e tirar à sorte para ver quem seria amarrado e atirado de volta através das portadas arqueadas a fim de satisfazer a luxúria e fome de Thog. Se não estivessem agora todos a dormir, a notícia da sua chegada fá-los-ia atravessar de novo os portões exteriores num frenesim e aos gritos.” — Oh, Conan! — pediu Natala histericamente. — Fujamos! — A seu tempo — murmurou Conan, com os olhos a arder sobre os membros de marfim de Thalis. — E que fazes tu aqui, uma mulher estígia? — Vim para cá quando era uma rapariguinha — respondeu ela, recostando-se voluptuosamente para trás, sobre o divã de veludo, e entrelaçando os seus dedos esguios atrás da cabeça morena. — Sou a filha de um rei e não uma mulher vulgar, como podes ver pela minha pele, tão branca como aí a da tua lourinha. Fui raptada por um príncipe rebelde, o qual, com um exército de arqueiros Cushitas, avançou para sul através dos territórios sem vida, em busca de uma terra a que pudesse chamar sua. Ele e os seus guerreiros morreram no deserto, mas um deles, antes de morrer, pôs-me sobre um camelo e caminhou a seu lado antes de cair e morrer no caminho. O animal prosseguiu viagem, e eu, por fim, entrei em delírio devido à sede e à fome, e acordei nesta cidade. Disseram-me que fui vista dos muros, cedo de madrugada, jazendo sem sentidos ao lado de um camelo morto. Foram buscar-me e ressuscitaram-me com o seu magnífico vinho dourado. E só a visão de uma mulher os teria levado a aventurar-se até tão longe dos seus muros. “Como era natural, estavam muito interessados em mim, especialmente os homens. Como não
sabia falar a sua língua, aprenderam a falar a minha. São muito rápidos e intelectualmente capazes; aprenderam a minha língua muito antes de eu aprender a deles. Mas estavam mais interessados em mim do que na minha língua. Fui, e sou, a única coisa pela qual um dos seus homens porá de parte durante algum tempo os seus sonhos de lótus.” A mulher soltou uma gargalhada malévola, lançando a Conan um audacioso olhar cheio de significado. — Claro que as mulheres têm ciúmes de mim — prosseguiu tranquilamente. — São razoavelmente bonitas ao jeito da sua pele amarela, mas são sonhadoras e incertas como os homens, e estes apreciam-me não só pela minha beleza, mas também pela minha realidade. Não sou um sonho! Embora tenha sonhado os sonhos do lótus, sou uma mulher normal, com emoções e desejos terrestres. Com estes, aquelas mulheres amarelas de olhos de lua não se podem comparar. “É por isso que será melhor para ti cortar a garganta dessa rapariga com o teu sabre antes que os homens de Xutal acordem e a capturem. Testarão a sua habilidade em coisas que ela nunca sonhou! É demasiado débil para suportar aquilo em que eu tenho prosperado. Sou uma filha de Luxur, e antes de completar quinze verões fui levada aos templos de Derketo, a deusa sombria, e fui iniciada nos mistérios. E não é que os meus primeiros anos em Xutal tenham sido anos de um prazer inalterado! As pessoas de Xutal esqueceram mais coisas do que aquelas que as sacerdotisas de Derketo alguma vez sonharam. Vivem apenas para os prazeres sensuais. Sonhando ou acordados, as suas vidas estão cheias de êxtases exóticos que estão para lá do conhecimento dos homens comuns. — Malditos degenerados! — rosnou Conan. — Tudo depende do ponto de vista — sorriu Thalis languidamente. — Bem — decidiu ele — estamos meramente a perder tempo. Vejo que este não é lugar para simples mortais. Estaremos longe antes que os teus idiotas acordem ou Thog venha devorar-nos. Julgo que o deserto será mais clemente. Natala, cujo sangue coagulara nas veias ao ourevista BANG! [ 146 ]
vir as palavras de Thalis, concordou com fervor. Falava estígio de forma imperfeita, mas compreendia a língua suficientemente bem. Conan pôs-se de pé, puxando-a para o seu lado. — Se nos mostrares o caminho mais próximo para fora desta cidade — resmungou — vamo-nos embora. — Mas o seu olhar demorou-se nos membros lisos e nos seios de marfim da estígia. Ela não deixou de reparar nesse olhar, e sorriu enigmaticamente enquanto se erguia com o flexível à-vontade de uma grande gata preguiçosa. — Sigam-me — ordenou e indicou o caminho, consciente dos olhos de Conan fixos na sua figura elástica e no seu porte perfeitamente aprumado. Não seguiu o caminho que eles tinham usado ao entrar, mas antes que as suspeitas de Conan tivessem tempo de se levantar, parou num aposento revestido de marfim e apontou para uma minúscula fonte que gorgolejava no centro do chão de marfim. — Não queres lavar a cara, criança? — perguntou a Natala. — Está manchada de poeira, e há pó no teu cabelo. Natala corou, ressentida com a sugestão de malícia presente no tom levemente trocista da estígia, mas obedeceu, perguntando a si própria, infeliz, quanto dano teria o sol e o vento do deserto causado à sua tez — uma característica pela qual as mulheres da sua raça eram justamente dignas de nota. Ajoelhou-se junto à fonte, atirou o cabelo para trás, despiu a túnica até ao peito e começou a lavar não só o rosto, mas também os braços e os ombros. — Por Crom! — resmungou Conan. — Uma mulher parará para prestar atenção à beleza mesmo que o próprio diabo a persiga de perto. Despacha-te, rapariga; estarás de novo poeirenta antes de perdermos de vista esta cidade. E, Thalis, ficarei agradecido se nos forneceres um pouco de comida e bebida. Em resposta, Thalis encostou-se-lhe, passando um braço branco em torno dos seus ombros de bronze. O seu macio flanco nu fez pressão contra a coxa do bárbaro e o perfume do seu cabelo de espuma subiu-lhe às narinas. — Porquê arriscar o deserto? — segredou ela com urgência. — Fica aqui! Ensinar-te-ei os costumes de Xutal. Proteger-te-ei. Amar-te-ei! Tu és um revista BANG! [ 147 ]
homem real: estou farta destes patetas que suspiram, sonham e acordam e voltam a sonhar. Tenho fome da paixão dura e limpa de um homem da terra. O fogo nos teus olhos vibrantes faz o meu coração bater no peito, e o toque do teu braço com tendões de ferro enlouquece-me. Fica aqui! Farei de ti rei de Xutal! Mostrar-te-ei todos os antigos mistérios, e os caminhos exóticos para o prazer! Eu… Ela atirara ambos os braços em torno do seu pescoço e estava de bicos de pés, com o corpo sensual a tremer de encontro ao dele. Sobre o seu ombro de marfim, o bárbaro viu Natala a atirar para trás o seu cabelo molhado e desgrenhado, imobilizar-se de repente, com os belos olhos a dilatar-se e os lábios vermelhos a abrir-se num O chocado. Com um grunhido embaraçado, Conan soltou-se dos braços de Thalis e pô-la de lado com um braço maciço. A estígia atirou um relance rápido sobre a rapariga britúnica e sorriu enigmaticamente, parecendo acenar com a sua magnífica cabeça em misteriosas reflexões. Natala ergueu-se e subiu a túnica com gestos sacudidos, os olhos a arder, os lábios num trejeito zangado. Conan soltou uma praga em surdina. Não era de natureza mais monógama do que o mercenário típico, mas havia nele uma decência inata que constituía a melhor protecção de Natala. Thalis não insistiu. Acenando-lhes com a mão esguia para que a seguissem, virou-se e atravessou o aposento. E aí, perto da parede coberta de tapeçarias, parou de súbito. Conan, que a observava, perguntou a si próprio se teria ouvido os sons que poderiam ser produzidos por um monstro sem nome que se esgueirava por aposentos de meia noite, e a sua pele formigou com a ideia. — Que ouves? — perguntou. — Vigia aquela porta — respondeu ela, apontando. Ele virou-se sobre os calcanhares, de espada pronta. Só o arco vazio da entrada lhe devolveu o olhar. Então soou atrás de si um rápido e ténue ruído de briga, um arquejo meio sufocado. Rodopiou. Thalis e Natala tinham desaparecido. A tapeçaria assentava de novo no seu lugar, como se tivesse sido afastada da parede. Enquanto ele abria a boca, con-
fuso, atrás daquela parede atapetada soou um grito abafado com a voz da rapariga britúnica.
II
Q
uando Conan se virou, obedecendo ao pedido de Thalis, para olhar para a porta atrás de si, Natalia estava mesmo atrás dele, perto do flanco da estígia. No instante em que as costas de Conan se viraram para ela, Thalis, com uma rapidez de pantera quase inacreditável, pôs a mão sobre a boca de Natala, abafando o grito que a rapariga tentou soltar. Ao mesmo tempo, o outro braço da estígia foi passado em torno do peito flexível da jovem loura, e ela foi atirada de encontro à parede, que pareceu ceder quando o ombro de Thalis exerceu pressão contra ela. Uma secção da parede girou para dentro e Thalis deslizou com a sua cativa através de uma ranhura que se abriu na tapeçaria, mesmo no momento em que Conan rodopiava. Lá dentro, quando a porta secreta se fechou, ficou um negrume absoluto. Thalis fez uma breve pausa para procurar qualquer coisa às apalpadelas, pareceu empurrar uma cavilha para o seu lugar e, como tirou a mão da boca de Natala para desempenhar essa tarefa, a rapariga britúnica começou a gritar a plenos pulmões. A gargalhada de Thalis foi como mel envenenado na escuridão. — Grita o que quiseres, tolinha. Só servirá para encurtar a tua vida. Ao ouvir aquilo, Natala calou-se de súbito e acocorou-se, com todos os membros a tremer. — Porque fizeste isto? — choramingou. — Que vais fazer? — Vou levar-te por este corredor ao longo de uma curta distância — respondeu Thalis — e deixar-te para aquele que mais tarde ou mais cedo virá à tua procura. — Ohhhhhh! — A voz de Natala quebrou-se num soluço de terror. — Porque haverias de me fazer mal? Nunca te feri! — Quero o teu guerreiro. E tu estás no meu caminho. Ele deseja-me… li-o nos seus olhos. Se não fosses tu, estaria disposto a ficar aqui e ser o meu
rei. Quando tiveres sido afastada, ele seguir-me-á. — Ele vai cortar-te a garganta — respondeu Natala com convicção, conhecendo Conan melhor do que Thalis. — Veremos — respondeu friamente a estígia, confiante no seu poder sobre os homens. — Seja como for, tu não chegarás a saber se ele me apunhalará ou beijará, porque serás a noiva daquele que vive nas sombras. Vem! Meio enlouquecida de terror, Natala lutou como um animal bravio, mas não tirou qualquer proveito disso. Com uma força ágil que a rapariga não julgara possível numa mulher, Thalis ergueu-a do chão e levou-a pelo corredor negro como se fosse uma criança. Natala não voltou a gritar, recordando as palavras sinistras da estígia; os únicos sons eram a sua respiração rápida e desesperada e o suave riso sarcástico e lascivo de Thalis. Então, a mão agitada da britúnica fechou-se sobre qualquer coisa na escuridão: um cabo de punhal cravejado de jóias que se projectava do cinto incrustado de pedras preciosas de Thalis. Natala puxou-o e atacou cegamente com toda a sua força de rapariga. Um grito soltou-se dos lábios de Thalis, felino na sua dor e fúria. Recuou, e Natala escapou ao amplexo que relaxava, magoando os seus tenros membros no chão liso de pedra. Erguendo-se, correu para a parede mais próxima e ali ficou, com a respiração entrecortada e tremendo, encolhendo-se de encontro às pedras. Não conseguia ver Thalis, mas podia ouvi-la. A estígia estava viva com toda a certeza. Soltava uma corrente firme de pragas, e a sua fúria era tão concentrada e mortal que Natala sentiu os ossos transformar-se em cera e o sangue em gelo. — Onde estás tu, diabinha? — arquejou Thalis. — Deixa-me voltar a pôr-te as mãos em cima e vou… — Natala ficou agoniada com a descrição de Thalis dos danos corporais que pretendia infligir na rival. As palavras escolhidas pela estígia teriam envergonhado a mais dura das cortesãs de Aquilónia. Natala ouviu-a apalpar no escuro, e então surgiu uma luz. Era evidente que por maior que fosse o medo do corredor negro que Thalis sentia, revista BANG! [ 148 ]
fora submerso pela ira. A luz vinha de uma das gemas de rádio que adornavam as paredes de Xutal. Thalis esfregara-a, e agora estava banhada no seu brilho avermelhado: uma luz diferente daquela que as outras emitiam. Uma mão fazia pressão contra o flanco, e sangue abria caminho entre os dedos. Mas ela não parecia enfraquecida ou seriamente ferida, e os seus olhos ardiam diabolicamente. A pouca coragem que Natala mantinha dissolveu-se ao ver a estígia iluminada por aquele estranho brilho, com a bela face contraída numa emoção que não era menos que infernal. Agora avançava com passos de pantera, afastando a mão do flanco ferido e sacudindo impacientemente o sangue dos dedos. Natala viu que não tinha ferido gravemente a rival. A lâmina tinha sido desviada pelas jóias do cinto de Thalis, e infligira uma ferida muito superficial, suficiente apenas para despertar a desenfreada fúria da estígia. — Dá-me esse punhal, estúpida! — grasnou esta, caminhando a passos largos para a rapariga agachada. Natala sabia que devia lutar enquanto tinha hipótese, mas simplesmente não era capaz de reunir a coragem necessária. Nunca fora muito lutadora, e a escuridão, violência e horror da aventura tinham-na deixado exangue, mental e fisicamente. Thalis recuperou o punhal dos seus dedos frouxos, e atirou-o com desprezo para longe. — Sua porca! — disse, rangendo os dentes, esbofeteando rancorosamente a rapariga com as duas mãos. — Antes de te arrastar pelo corredor e te atirar às maxilas de Thog, tomarei um pouco do teu sangue para mim! Atreveste-te a esfaquear-me… pois bem, pagarás por tal audácia! Agarrando-a pelos cabelos, Thalis arrastou-a pelo corredor ao longo de uma curta distância, até ao limite do círculo de luz. Via-se uma argola de metal na parede, acima do nível da cabeça de um homem. Um cordão de seda estava aí pendurado. Como se estivesse num pesadelo, Natala sentiu a túnica a ser-lhe arrancada, e no instante seguinte Thalis puxava os seus pulsos para cima e atava-os à argola, de onde ficou pendurada, nua como no dia em que nascera, com os pés a tocar o chão só ao de revista BANG! [ 149 ]
leve. Virando a cabeça, Natala viu Thalis tirar de um suporte na parede, junto à argola, um chicote com o cabo cravejado de jóias. As pontas consistiam de sete cordões redondos de seda, mais duros mas mais maleáveis do que tiras de couro. Com um silvo de gratificação vingativa, Thalis puxou o braço para trás e Natala gritou quando os cordões se enrolaram em torno dos seus rins. A rapariga torturada estremeceu, contorceu-se e puxou em agonia pelas tiras que aprisionavam os seus pulsos. Esquecera a ameaça escondida que os seus gritos poderiam invocar e aparentemente o mesmo se passara com Thalis. Cada chicotada originava gritos de angústia. As vergastadas que Natala recebera nos mercados de escravos shemitas desapareciam na insignificância quando comparadas com aquilo. Nunca imaginara o poder punitivo de cordões de seda fortemente entrançados. As suas carícias eram mais requintadamente dolorosas do que as de quaisquer galhos de vidoeiro ou tiras de couro. Assobiavam venenosamente enquanto cortavam o ar. Então, quando Natala virou o rosto manchado de lágrimas para gritar por misericórdia, algo congelou os seus gritos. A agonia cedeu lugar nos seus belos olhos a um horror paralisante. Despertada pela expressão da rapariga, Thalis imobilizou a mão erguida e rodopiou rápida como uma gata. Tarde demais! Um grito horrível soltou-se dos seus lábios quando balançou para trás, com os braços atirados para cima. Natala viu-a por um instante, uma figura branca de medo recortada contra uma grande massa negra sem forma que se elevava sobre ela, e depois a figura branca foi levantada no ar, a sombra recuou com ela, e Natala ficou sozinha, pendurada no círculo de luz, meio desmaiada de terror. Das sombras negras vieram sons incompreensíveis e de gelar o sangue. Ouviu a voz de Thalis a suplicar num frenesim, mas nenhuma voz lhe respondeu. Não havia qualquer som, excepto a voz arquejante da estígia, a qual se ergueu de súbito em gritos de agonia, e depois se quebrou num riso histérico misturado com soluços. Estes diminuíram até se transformarem num respirar rápido e con-
vulsivo, e em breve também este cessou e um silêncio mais terrível pairou sobre o corredor secreto. Nauseada de horror, Natala torceu-se e atreveu-se a olhar, temerosa, na direcção em que a forma negra carregara Thalis. Nada viu, mas sentiu um perigo invisível, mais sinistro do que era capaz de compreender. Lutou contra uma maré de histeria. Os seus pulsos magoados, o corpo que lhe doía com uma dor aguda, foram esquecidos perante aquela ameaça que sentia vagamente destruir-lhe não apenas o corpo, mas também a alma. Forçou os olhos a penetrar o negrume que ficava para lá do limite da fraca luz, tensa com o medo do que poderia ver. Um arquejo lamuriento escapou dos seus lábios. A escuridão ganhava forma. Algo enorme e volumoso surgia do vazio. Viu uma grande cabeça disforme emergir à luz. Pelo menos julgou tratar-se de uma cabeça, embora não fosse nada que pudesse pertencer a uma criatura sã ou normal. Viu um grande rosto semelhante ao de um sapo, cujos traços eram tão obscuros e instáveis como os de um espectro visto num espelho de pesadelo. Grandes lagoas de luz que poderiam ser olhos piscavam na sua direcção, e ela estremeceu com a luz cósmica que ali viu reflectida. Não era capaz de distinguir nada do corpo da criatura. O seu contorno parecia oscilar e alterar-se subitamente enquanto o olhava; e no entanto a sua substância era aparentemente sólida. Nada havia nela de brumoso ou fantasmagórico. Quando a coisa se aproximou, Natala não foi capaz de dizer se andava, coleava, fluía ou rastejava. O seu método de locomoção estava absolutamente para lá da sua compreensão. Quando emergira das sombras, a rapariga ficara incerta quanto à sua natureza. A luz da gema de rádio não a iluminava como teria iluminado uma criatura normal. Por mais impossível que parecesse, aquele ser parecia quase insensível à luz. Os seus detalhes ainda eram obscuros e imprecisos mesmo quando parou tão próximo dela que quase lhe tocou a pele que se retraía. Apenas o lampejante rosto de sapo se destacava com alguma nitidez. A coisa era uma mancha para a visão, um borrão negro de sombras que a luz normal nem dissipava nem iluminava.
Decidiu que estava louca, porque não era capaz de decidir se o ser a olhava de baixo para cima ou pairava acima dela. Era incapaz de decidir se o sombrio rosto repelente piscava os olhos para ela a partir das sombras que havia a seus pés, ou a olhava de uma altura imensa. Mas se a visão a convencera de que, fossem quais fossem as suas características mutáveis, o monstro era mesmo assim composto de substância sólida, o tacto deu-lhe maior certeza desse facto. Um membro escuro semelhante a um tentáculo deslizou em torno do seu corpo, e ela gritou com a sensação daquele toque na pele nua. Nem era quente nem frio, nem rugoso nem liso; não era como nada que a tivesse tocado antes, e com aquela carícia sentiu mais medo e vergonha do que alguma vez sonhara ser possível. Toda a obscenidade e a devassa infâmia geradas na imundície dos fossos abissais da Vida pareceram afogá-la em mares de sujidade cósmica. E nesse instante soube que fosse qual fosse a forma de vida que aquela coisa representava, não era um animal. Começou a gritar incontrolavelmente, e o monstro puxou-a como se a quisesse arrancar da argola através de pura força; então algo partiu-se sobre as suas cabeças, e uma forma precipitou-se pelo ar, caindo sobre o chão de pedra.
III
Q
uando Conan rodopiou e viu a tapeçaria a assentar no seu lugar e ouviu o grito abafado de Natala, atirou-se contra a parede com um rugido enlouquecido. Ressaltando de um impacto que teria estilhaçado os ossos de um homem mais fraco, rasgou a tapeçaria, revelando o que parecia ser uma parede vazia. Fora de si com a fúria, ergueu o sabre como se pretendesse desbastar a pedra, mas então um som súbito fê-lo parar, com os olhos em fogo. Uma vintena de figuras encarava-o, homens amarelos em túnicas púrpura, com espadas curtas nas mãos. Quando se virou, correram para ele com gritos hostis. Não fez qualquer tentativa de conciliação. Enlouquecido com o desaparecimento da revista BANG! [ 150 ]
amante, o bárbaro regressou à sua condição original. Um rosnido de gratificação sanguinária rasgou a sua garganta de touro quando saltou, e o primeiro atacante, com a curta espada ultrapassada pelo sabre que zunia, caiu a jorrar miolos do crânio aberto. Rodopiando como um gato, Conan apanhou no fio da arma um punho que descia, e a mão que segurava a espada curta voou pelo ar, espalhando uma chuva de gotas rubras. Mas Conan não parara nem hesitara. Uma contorção de pantera e uma deslocação do corpo evitaram a corrida cega de dois espadachins amarelos, e a lâmina de um, ao falhar o objectivo, foi acolhida pelo peito do outro. Soou um grito de consternação perante aquele infortúnio, e Conan permitiu-se soltar um breve latido de riso enquanto saltava para o lado, esquivando-se a uma estocada sibilante e lançava um golpe para lá da guarda de mais um dos homens de Xutal. Um longo esguicho carmesim seguiu a sua lâmina cantante e o homem ruiu, gritando, com os músculos da barriga trespassados. Os guerreiros de Xutal uivaram como lobos enlouquecidos. Não acostumados à batalha, eram ridiculamente lentos e desastrados em comparação com o tigre bárbaro, cujos movimentos eram manchas de rapidez apenas possíveis graças a músculos de aço unidos a um perfeito cérebro de lutador. Os homens debatiam-se e tropeçavam, embaraçados pelo seu próprio número; atacavam demasiado depressa ou cedo demais, e cortavam apenas ar vazio. Conan nunca estava imóvel ou no mesmo sítio por mais do que um instante: saltando, dando passos para o lado, rodopiando, torcendo-se, oferecia às espadas dos seus inimigos um alvo em mutação constante, enquanto a sua própria lâmina curva cantava a morte em torno das orelhas dos atacantes. Mas por mais falhas que tivessem, aos homens de Xutal não faltava a coragem. Aglomeraram-se em torno do cimério gritando e golpeando, e acorreram mais pelas portadas arqueadas, despertados dos seus sonos por aquele extraordinário clamor. revista BANG! [ 151 ]
Conan, sangrando de um golpe na têmpora, abriu por um instante um espaço com um devastador golpe circular do seu gotejante sabre, e atirou em torno uma rápida olhadela, em busca de uma via de fuga. Naquele instante, viu a tapeçaria numa das paredes a ser afastada para o lado, revelando uma escada estreita. Nesta estava um homem que envergava um manto rico, de olhos vagos e pestanejantes, como se tivesse acabado de acordar e ainda não tivesse varrido do cérebro as poeiras do sono. A visão e acção de Conan foram simultâneas. Um salto de tigre levou-o sem ser tocado através do anel de espadas que o cercava, e correu para a escada com a matilha a ladrar atrás de si. Três homens enfrentaram-no na base dos degraus de mármore, e ele atingiu-os com um ensurdecedor estrondo de aço. Houve um instante frenético em que as espadas flamejaram como relâmpagos de Verão; então o grupo desfez-se e Conan saltou pelas escadas. A horda que o seguia tropeçou em três homens que se contorciam na base dos degraus: um jazia de borco numa confusão nauseante de sangue e miolos; outro apoiava-se nas mãos, com sangue a jorrar, negro, das veias cortadas da garganta; o outro uivava como um cão moribundo, agarrado ao toco carmesim que em tempos fora um braço. Quando Conan se apressou a subir a escada de mármore, o homem no seu topo sacudiu a letargia e puxou de uma espada que cintilou de forma gelada à luz do rádio. Lançou uma estocada para baixo quando o bárbaro se aproximou. Mas no momento em que a lâmina zuniu na direcção da sua garganta, Conan baixou-se profundamente. A lâmina do outro homem cortou a pele das suas costas, e Conan endireitou-se, erguendo o sabre como se fosse uma faca de carniceiro, com toda a força dos seus poderosos ombros. Tão tremendo era o seu ímpeto que enfiar o sabre até aos copos na barriga do inimigo não o parou. Carambolou contra o corpo do desgraçado, batendo-lhe de lado. O impacto fez Conan esmagar-se contra a parede. O outro, depois do sabre lhe rasgar o corpo, caiu de cabeça pelas escadas,
aberto até à espinha desde as virilhas até ao esterno partido. Numa horrível confusão de entranhas que se derramavam, o corpo tombou sobre os homens que subiam as escadas, arrastando-os consigo. Meio atordoado, Conan apoiou-se na parede por um instante, olhando os outros homens; depois, sacudindo em desafio o sabre que pingava, subiu as escadas. Ao chegar a um aposento superior, parou apenas durante o tempo suficiente para ver que estava vazio. Atrás dele, a horda gritava com tão intenso horror e raiva que soube que tinha morto ali na escada algum notável, provavelmente o rei daquela fantástica cidade. Correu à sorte, sem um plano. Desejava desesperadamente encontrar e socorrer Natala, a qual, com toda a certeza, precisava muito de ajuda; mas, perseguido como era por todos os guerreiros de Xutal, só podia correr em frente, confiando na sorte para os despistar e a encontrar. Naqueles aposentos superiores escuros ou fracamente iluminados, perdeu rapidamente todo o sentido de orientação, e não foi estranho que acabasse por entrar, às cegas, num aposento ao qual os seus inimigos estavam mesmo a chegar. Os outros gritaram com vingança nas vozes e correram para ele e, com um rosnido de repugnância, o bárbaro virou-se e fugiu pelo caminho de onde viera. Ou pelo menos aquele que julgava ser o caminho de onde viera. Mas rapidamente, ao entrar a correr num aposento particularmente ornamentado, compreendeu o seu erro. Todos os aposentos que tinha atravessado desde que galgara a escada tinham estado vazios. Este tinha um ocupante, que se ergueu com um grito quando o bárbaro avançou. Conan viu uma mulher de pele amarela, carregada de ornamentos e jóias mas de outro modo nua, que o olhava de olhos esbugalhados. Não teve tempo para mais do que um relance antes que ela erguesse a mão e puxasse uma corda de seda que pendia da parede. Então, o chão fugiu-lhe debaixo dos pés, e nem toda a sua aguda coordenação foi capaz de evitar que caísse no negro abismo que se abriu por baixo de si.
Não caiu uma grande distância, embora fosse a suficiente para quebrar os ossos das pernas de um homem que não fosse feito de molas de aço e barbas de baleia. Atingiu o chão como um gato, sobre os pés e uma mão, mantendo instintivamente agarrado o punho do sabre. Um grito familiar ressoou nos seus ouvidos quando ressaltou sobre os pés, como um lince, de colmilhos à mostra e a rosnar. E assim, Conan, espreitando por baixo da sua juba desgrenhada, viu a figura branca e nua de Natala a contorcer-se, sob o libidinoso amplexo de um pesadelo negro que só poderia ter sido gerado nos fossos perdidos do Inferno. A visão daquela forma horrível, se isolada, poderia ter paralisado o cimério de medo. Mas ver também a rapariga enviou uma onda vermelha de fúria assassina pelo cérebro de Conan. No meio duma névoa carmesim, golpeou o monstro. A forma deixou cair a rapariga, rodopiando na direcção do seu atacante e o sabre do enlouquecido cimério, zunindo pelo ar, penetrou sem resistência na massa negra e viscosa e ressoou no chão de pedra, originando uma chuva de centelhas azuis. Conan caiu sobre os joelhos com a fúria do golpe; a aresta da espada não encontrara a resistência que esperara. E quando se ergueu, a coisa estava em cima de si. Erguia-se acima dele como uma nuvem negra. Parecia fluir em seu redor em ondas que eram quase líquidas, envolvê-lo e submergi-lo. O sabre, que golpeava loucamente, trespassou-a uma e outra vez, o punhal rasgou-a e lacerou-a; foi atingido por um dilúvio de um líquido viscoso que devia ser o vagaroso sangue da coisa. Mas a fúria do monstro não diminuiu em nada. Conan não saberia dizer se golpeava os membros da nuvem negra, ou se aderia ao seu volume, que se cerrava atrás da lâmina que golpeava. Era atirado para cá para lá na violência daquela terrível batalha, e tinha uma sensação confusa de estar a lutar não com uma criatura letal, mas com um agregado delas. A coisa parecia estar a mordê-lo, arranhá-lo, apertá-lo e bater-lhe, tudo ao mesmo tempo. Sentiu presas e garras a rasgar a sua carne, revista BANG! [ 152 ]
cabos flácidos, que no entanto eram rijos como ferro, rodearam os seus membros e corpo e, pior que tudo, algo semelhante a um pedipalpo caiu uma e outra vez sobre os seus ombros, costas e peito, arrancando-lhe a pele e enchendo-lhe as veias com um veneno que era como fogo líquido. Tinham rebolado para lá do círculo de luz, e era num negrume total que o cimério batalhava. Por uma vez afundou os dentes, como um animal, na substância flácida do seu inimigo, rebelando-se-lhe as entranhas quando aquilo estremeceu e se contorceu como borracha viva para fora das suas maxilas de ferro. Naquele furacão de luta, rolavam e rolavam, cada vez para mais longe naquele túnel. O cérebro de Conan titubeava com a punição que recebia. A sua respiração chegava em arquejos sibilantes por entre os dentes. Bem alto acima dele, viu um rosto semelhante ao dum sapo, vagamente iluminado por um clarão arrepiante que parecia emanar do próprio rosto. E com um grito ofegante que era meio praga, meio arquejo de extrema agonia, lançou um golpe na sua direcção, atacando com toda a força que lhe restava. O sabre afundou-se até aos copos, algures abaixo do medonho rosto, e um estremecimento convulsivo abalou o vasto volume que quase envolvia o cimério. Com uma explosão vulcânica de contracção e expansão, a coisa tombou para trás, rolando agora pelo corredor com uma pressa frenética. Conan seguiu com ela, magoado, ferido, invencível, agarrando-se como um buldogue ao cabo do sabre que não conseguia puxar, rasgando e dilacerando a tremente massa com o punhal que trazia na mão esquerda, esfolando-a às tiras. Toda a coisa brilhava agora com uma estranha radiância fosfórea, e este brilho atingiu os olhos de Conan, cegando-o, até que de súbito a massa ondulada e palpitante caiu de debaixo dele, e o sabre soltou-se e manteve-se preso à sua mão cerrada. Esta mão e o braço respectivo pendiam num espaço vazio, e muito abaixo dele o corpo brilhante do monstro caía como um meteoro. Conan compreendeu confusamente que jazia à beira de um grande poço redondo, cuja borda era feita de revista BANG! [ 153 ]
pedra viscosa. Ficou ali a observar o ressoante brilho que diminuía mais e mais até que desapareceu numa superfície escura e brilhante que pareceu erguer-se para o acolher. Por um instante um fogo fátuo que enfraquecia brilhou naquelas profundezas sombrias; depois desapareceu, e Conan ficou a olhar para baixo, para o negrume do derradeiro abismo de onde não vinha nenhum som.
IV
P
uxando em vão pelos cordões de seda que lhe cortavam os pulsos, Natala procurava penetrar com o olhar nas trevas que se estendiam para lá do círculo iluminado. A sua língua parecia colada ao céu da boca. Vira Conan desaparecer naquele negrume, num combate mortal com o demónio desconhecido, e os únicos sons que chegaram aos seus ouvidos esforçados foram os arquejos ofegantes do bárbaro, o impacto de corpos em luta, e os ruídos surdos e rascantes de golpes selvagens. Mas estes tinham terminado, e Natala oscilava entontecida nos cordões, quase a desmaiar. Um passo acordou-a da sua apatia de horror, e viu Conan emergir da escuridão. Ao vê-lo, reencontrou a voz num guincho que ecoou pelo túnel abobadado. Os maus tratos que Conan recebera eram terríveis de contemplar. Pingava sangue a cada passo. O seu rosto estava esfolado e magoado como se tivesse sido espancado com uma moca. Os seus lábios estavam reduzidos a polpa, e sangue escorria-lhe lentamente pela cara, proveniente de uma ferida no couro cabeludo. Havia profundos golpes nas suas coxas, barrigas das pernas e braços, e tinha grandes pisaduras nos membros e no tronco, provenientes de impactos contra o chão de pedra. Mas os seus ombros, costas e músculos da parte superior do peito eram os que mais tinham sofrido. A carne estava pisada, inchada e lacerada, a pele pendia em faixas soltas, como se tivesse sido chicoteada com chicotes de arame. — Oh, Conan! — soluçou Natala. — Que te aconteceu? Ele não tinha fôlego para conversas, mas os
seus lábios esmagados retorceram-se quando se aproximou, no que poderia ter sido um humor sombrio. O peito peludo, reluzente de suor e sangue, elevava-se com os seus arquejos. Lenta e penosamente, ergueu as mãos e cortou os cordões que a prendiam, e depois caiu contra a parede e apoiou-se aí, com as pernas trémulas muito abertas. Ela correu sobre os pés e as mãos de onde caíra, e envolveu-o num frenético abraço, soluçando histericamente. — Oh, Conan, estás ferido de morte! Oh, o que faremos? — Bem — arquejou ele — não é possível combater um diabo vindo do inferno e sair do combate com a pele inteira! — Onde está ele? — sussurrou ela. — Mataste-o? — Não sei. Caiu a um poço. Estava transformado em farrapos sangrentos, mas não sei se pode ser morto pelo aço. — Oh, as tuas pobres costas! — gemeu ela, torcendo as mãos. — Aquilo vergastou-me com um tentáculo — ele fez uma careta, praguejando quando se moveu. — Cortava como arame e queimava como veneno. Mas foi o seu maldito aperto que me tirou o fôlego. Foi pior que uma pitão. Ou muito me engano, ou metade das minhas tripas estão trituradas e fora do sítio. — O que faremos? — choramingou ela. O cimério lançou uma olhadela para cima. O alçapão estava fechado. Nenhum som de lá vinha. — Não podemos regressar pela porta secreta — murmurou. — Aquele quarto está cheio de mortos, e sem dúvida que há lá guerreiros a montar guarda. Eles devem ter pensado que o meu destino estava traçado quando mergulhei pelo chão, ou então não se atrevem a seguir-me por este túnel. Quando regressei às apalpadelas pelo corredor senti que havia arcadas que se abriam para outros túneis. Seguiremos a primeira que encontrarmos. Pode levar-nos a outro poço, ou ao ar livre. Temos de arriscar. Não podemos ficar aqui a apodrecer. Natala obedeceu, e segurando na mão esquerda o minúsculo ponto de luz e na direita o sabre, Co-
nan pôs-se a caminho pelo corredor. Movia-se lenta e rigidamente, e só a sua vitalidade animal o mantinha em pé. Havia um brilho vazio nos seus olhos injectados de sangue, e Natala viu-o lamber involuntariamente, de vez em quando, os maltratados lábios. Sabia que o seu sofrimento era terrível mas, com o estoicismo dos selvagens, ele não se queixou. Em breve, a ténue luz brilhou sobre uma arcada negra, e foi para aí que Conan virou. Natala retraiu-se perante o que poderia ver, mas a luz revelou apenas um túnel semelhante àquele que tinham acabado de abandonar. A rapariga não fazia ideia de quanto teriam avançado antes de trepar uma longa escada e chegar a uma porta de pedra, trancada por um ferrolho dourado. Hesitou, olhando Conan de relance. O bárbaro oscilava sobre as pernas, e a luz na sua mão insegura enviava fantásticas sombras de um lado para o outro, na parede. — Abre a porta, rapariga — murmurou ele com voz espessa. — Os homens de Xutal estarão à nossa espera, e não os quero desapontar. Por Crom, a cidade nunca viu sacrifício como o que farei! Ela sabia que ele estava meio delirante. Nenhum som vinha do outro lado da porta. Tomando a pedra de rádio da mão manchada de sangue do cimério, a rapariga abriu o ferrolho e puxou o painel para dentro. O seu olhar pousou sobre o avesso de uma tapeçaria de fio de ouro e ela afastou-a e espreitou, de coração na boca. Estava a olhar para um aposento vazio, no centro do qual uma fonte prateada cantava. A mão de Conan caiu, pesada, sobre o seu ombro nu. — Afasta-te, rapariga — murmurou. — Agora é o banquete das espadas. — Não está ninguém no aposento — respondeu ela. — Mas há água… — Ouço-a. — O bárbaro lambeu os lábios enegrecidos. — Beberemos antes de morrermos. Parecia cego. Ela tomou a sua mão manchada de escuro e levou-o através da porta de pedra. Ia em bicos de pés, esperando a todo o instante uma invasão de figuras amarelas através das arcadas. revista BANG! [ 154 ]
— Bebe enquanto eu fico de guarda — murmurou ele. — Não, não tenho sede. Deita-te ao lado da fonte e eu limpo-te as feridas. — Então e as espadas de Xutal? — Ele passava continuamente o braço pelos olhos como que para limpar a visão enevoada. — Não ouço ninguém. Está tudo em silêncio. Ele caiu, às apalpadelas, e mergulhou a cara no jacto cristalino, bebendo como se não se saciasse nunca. Quando ergueu a cabeça, havia sanidade nos seus olhos injectados de sangue e esticou os membros maciços no chão de mármore como ela pedira, embora mantivesse o sabre na mão e os olhos se desviassem continuamente para as arcadas. Ela lavou a sua carne rasgada e ligou as feridas mais profundas com faixas arrancadas de uma colgadura de seda. Estremeceu ao ver-lhe as costas; a carne estava descolorada, manchada e pintalgada de negro, azul e de um amarelo doentio, onde não estava em carne viva. Enquanto trabalhava, procurou freneticamente uma solução para o problema. Se ficassem onde estavam, acabariam por ser descobertos. E não sabia se os homens de Xutal vasculhavam os palácios à sua procura ou se tinham regressado aos seus sonhos. Quando terminou a tarefa, ficou gelada. Sob a colgadura que escondia parcialmente uma alcova, viu uma mão travessa de pele amarela. Nada dizendo a Conan, ergueu-se e atravessou o aposento em silêncio, empunhando o punhal do bárbaro. O bater do coração sufocava-a quando afastou cautelosamente o tecido. No estrado jazia uma jovem mulher amarela, nua e aparentemente sem vida. Junto à sua mão estava um jarro de jade quase cheio de um peculiar líquido dourado. Natala concluiu que devia tratar-se do elixir descrito por Thalis, que emprestava vigor e vitalidade à degenerada Xutal. Inclinou-se por cima da forma inerte e pegou no recipiente, mantendo o punhal a pairar sobre o peito da rapariga. Esta não acordou. Com o jarro na sua posse, Natala hesitou, compreendendo que o mais seguro seria pôr a rapariga adormecida para lá da possibilidade de acordar revista BANG! [ 155 ]
e fazer soar um alarme. Mas não se conseguiu levar a mergulhar o punhal cimério naquele peito imóvel, e por fim afastou a colgadura e regressou para junto de Conan, que jazia onde o deixara, parecendo estar só parcialmente consciente. Inclinou-se e levou-lhe o jarro aos lábios. Ele bebeu, a princípio de forma mecânica, mas depois com um interesse subitamente despertado. Para espanto da rapariga, o bárbaro sentou-se e tomou-lhe o recipiente nas mãos. Quando ergueu o rosto, os olhos estavam límpidos e normais. Muito do aspecto macilento tinha desaparecido dos seus traços, e a sua voz já não era o murmúrio do delírio. — Crom! Onde arranjaste isto? Ela apontou. — Naquela alcova, onde dorme uma rapariga amarela. Ele voltou a enfiar o nariz no líquido dourado. — Por Crom — disse com um suspiro profundo — sinto uma nova vida e uma nova força a correr-me como fogo pelas veias. Isto é certamente o próprio elixir da Vida! — Devíamos regressar ao corredor — sugeriu Natala nervosamente. — Seremos descobertos se ficarmos aqui por muito tempo. Podemos esconder-nos aí até que as tuas feridas sarem… — Eu não — resmungou ele. — Não somos ratos para nos escondermos em tocas escuras. Vamos sair agora desta cidade diabólica, e que ninguém tente parar-nos. — Mas as tuas feridas! — gemeu ela. — Não as sinto — respondeu o bárbaro. — Pode ser uma força falsa que este licor me tenha dado, mas juro que não estou consciente nem de dor nem de fraqueza. Com uma resolução súbita, Conan atravessou o aposento até uma janela que ela não notara. Natala olhou para fora sobre o ombro do homem. Uma brisa fresca sacudiu as suas madeixas desgrenhadas. Acima deles, via-se o escuro céu de veludo, salpicado de estrelas. Por baixo estendia-se uma vaga extensão de areia. — Thalis disse que a cidade era um grande palácio — disse Conan. — É claro que alguns dos
quartos estão construídos como torres na muralha. Este está. A sorte orientou-nos bem. — Que queres dizer? — perguntou ela, lançando um relance apreensivo por sobre o ombro. — Está um jarro de cristal naquela mesa de marfim — respondeu ele. — Enche-o de água e ata uma faixa daquela colgadura à volta da sua boca enquanto eu rasgo esta tape-çaria. Ela obedeceu sem fazer perguntas, e quando terminou a tarefa e se virou, viu Conan a atar com rapidez as longas e resistentes fitas de seda para fazer uma corda, uma extremidade da qual prendeu à perna da maciça mesa de marfim. — Vamos arriscar o deserto — disse ele. — Thalis falou de um oásis a um dia de marcha para sul, e de pastagens para lá dele. Se atingirmos o oásis, poderemos descansar até que as minhas feridas sarem. Este vinho é como feitiçaria. Há bocado era pouco mais que um homem morto; agora estou pronto para tudo. E aqui tens de sobra seda suficiente para fazeres uma vestimenta. Natala esquecera a sua nudez. O simples facto não lhe causava escrúpulos, mas a sua pele delicada necessitaria de protecção contra o sol do deserto. Enquanto atava o pano de seda em torno do seu corpo flexível, Conan virou-se para a janela e com um sacão cheio de desprezo arrancou as barras de ouro maleável que a revestiam. Então, rodeando as ancas de Natala com a ponta solta da corda de seda, e prevenindo-a para se segurar com as duas mãos, ergueu-a pela janela e baixou-a os cerca de dez metros que os separavam do solo. Ela saiu do laço e ele, depois de o puxar de volta, atou os recipientes de água e de vinho e baixou-os também. Então seguiu-os, deslizando rapidamente até ao chão. Quando o cimério chegou a seu lado, Natala soltou um suspiro de alívio. Estavam sós na base da grande muralha, com as estrelas que empalideciam sobre as cabeças e o deserto nu à sua volta. Não podiam saber que perigos ainda os esperavam, mas o coração da rapariga cantava de alegria porque estavam no exterior daquela cidade fantasmagórica e irreal. — Eles talvez encontrem a corda — grunhiu
Conan, atirando os preciosos recipientes por sobre os ombros, estremecendo com o contacto com a sua maltratada pele. — Talvez até nos persigam, mas ajuizando pelo que Thalis disse, duvido. O sul é por ali — um musculoso braço de bronze indicou o rumo — e portanto algures naquela direcção fica o oásis. Vem! Tomando-lhe a mão com uma amabilidade que não era habitual nele, Conan pôs-se a caminho pela areia, ajustando os passos às pernas mais curtas da companheira. Não olhou para a cidade silenciosa que cismava, sonhadora e fantasmagórica, atrás deles. — Conan — aventurou-se por fim Natala a dizer — quando lutaste com o monstro e, depois, quando regressaste pelo corredor, viste algum sinal de… de Thalis? Ele abanou a cabeça. — Estava escuro no corredor, mas ele estava vazio. A rapariga estremeceu. — Ela torturou-me… e no entanto tenho pena dela. — Foram umas boas-vindas bem quentes, as que recebemos naquela amaldiçoada cidade — rosnou o cimério. E então, o seu sombrio sentido de humor regressou. — Bem, suponho que eles recordarão a nossa visita durante bastante tempo. Há miolos, entranhas e sangue a limpar dos ladrilhos de mármore, e se o seu deus ainda está vivo, tem mais feridas do que eu. Acabámos por nos sair bem: temos vinho e água e uma boa hipótese de chegar a um país habitável, mesmo que eu pareça ter passado por um pilão e tu tenhas umas nódoas negras. — E é tudo culpa tua — interrompeu ela. — Se não tivesses olhado durante tanto tempo e de forma tão admiradora para aquela gata estígia… — Por Crom e seus demónios! — praguejou o cimério. — Até quando os oceanos afogarem o mundo as mulheres encontrarão tempo para os seus ciúmes. Que o diabo carregue a sua vaidade! Terei dito à estígia para se apaixonar por mim? Afinal de contas, ela era apenas humana! BANG! revista BANG! [ 156 ]
Se gostou de A Sombra Deslizante, aventure-se com Conan
Conan - O Povo do Círculo Negro Robert E. Howard Robert Ervin Howard (1906 - 1936) escreveu fundamentalmente fantasia e aventuras históricas. Nasceu em Peaster, Texas, filho do Dr. Isaac Howard e de Jane Ervin Howard. Começou a escrever aos 9 anos (inspirado nas histórias de Harold Lamb e Talbot Mundy) mas só em 1924 teve a sua primeira história publicada (o conto Spear and Fang) na edição de Julho de 1925 da revista Weird Tales. Muitas de suas histórias vieram a ser publicadas nessa revista, tendo a honra da primeira capa em 1926. Escreveu histórias de muitos estilos mas as suas criações mais famosas são as do género sword and sorcery - um género de fantasia caracterizado pela ênfase em combates violentos e intervenções sobrenaturais (deuses, monstros, magos, etc.). Howard criou uma das personagens mais populares de sempre: o bárbaro Conan, que fez a sua estreia no conto The Phoenix on the Sword em Dezembro de 1932. Para hospedar essa criação Howard inventou a Era Hiboriana, que se trata da própria Terra mas num passado pré-cataclísmico do qual a história actual não guarda lembranças. Outros personagens célebres incluem o rei Kull, o aventureiro puritano Salomão Kane e o picto Bran Mak Morn. Um outro campo em que Howard foi bem-sucedido foi o do horror sobrenatural, no qual emprestou muitas ideias do seu correspondente e amigo H. P. Lovecraft. Com uma prosa directa, rica e mais excitante do que perspicaz, Howard sempre tentou entreter e não instruir, conseguindo-o fazer com uma grande dose de sofisticação. BANG! revista BANG! [ 157 ]
O Bárbaro mais famoso da literatura fantástica está de volta! Na sua curta mas marcante carreira, Robert E. Howard criou sozinho o género que ficaria conhecido como fantasia heróica e trouxe à vida uma das personagens mais marcantes da literatura fantástica: Conan, o cimério — bárbaro, ladrão, pirata, rei. Quem conhece Conan apenas dos filmes ou da banda desenhada vai ficar surpreendido. Os contos de Howard, escritos na década de trinta do século XX, são verdadeiros hinos à aventura, ao exotismo, cheios de vida, enredos rápidos e caracterizações subtis e credíveis. Não será exagero dizer que Robert E. Howard está para a literatura fantástica como Dashiell Hammett está para os policiais. Não só deu novo vigor a um género, como mostrou um caminho para o desenvolvimento das suas possibilidades. “Se vai ler Conan pela primeira vez, então tenho inveja de si!” -Charles de Lint “A escrita de Howard está tão carregada de energia que quase solta faíscas.” -Stephen King Saida de Emergência / 2008 ISBN: 9728839154 Preço: 16.91€ Na página da editora: 15.22€
[artigo]
[texto de Sofia Moreiras]
À Descoberta do Fórum Fantástico De 2 a 5 de Outubro Vem aí o evento que os fãs da grande literatura fantástica não podem perder. É a oportunidade de conhecer autores portugueses e grandes nomes do mercado internacional. É o Fórum Fantástico, claro!
E
m 2003, Rogério Ribeiro, então editor do fanzine Dragão Quântico, a par da sua actividade como investigador na área de Biologia, juntou-se aos fóruns de discussão na Internet sobre ficção científica onde viria a conhecer Safaa Dib, então estudante da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Apesar dos backgrounds diferentes, os dois fãs do género fantástico tornaram-se amigos e cedo desenvolveram planos de organização de um evento que permitisse congregar escritores, académicos, leitores e jornalistas e chamar-lhes a atenção para a riqueza e diversidade da literatura. Desde o início, trabalharam para montar a sua primeira convenção, que viria a ser conhecida como o 1º Encontro Literário de Fantasia e Ficção Científica realizado na Faculdade de Letras em Maio de 2004. Novas amizades e parcerias formaram-se, uma nova associação foi criada para permitir projectos mais ambiciosos (a Épica – Associação Portuguesa do Fantástico nas Artes), mas foi essencialmente esse encontro de 2004 que possibilitou o 1º Fórum Fantástico a Novembro de 2005.
T
rês edições depois, o Fórum volta mais uma vez este ano, desta vez antecipado para as datas de 2 a 5 de Outubro, mês em que espera assentar nas suas futuras edições. «As pessoas surpreendem-se como ainda revista BANG! [ 158 ]
continuamos determinados a organizar o Fórum Fantástico todos os anos, apesar dos obstáculos e tribulações» diz Safaa Dib quando lhe perguntam se ainda se sente com a mesma motivação com a qual começaram a organizar o Fórum. «Mas há este compromisso, nunca verbalmente assumido, de que temos que continuar a organizar o Fórum, apesar de tudo. Tem sido um projecto que nos possibilitou reunir uma base ávida por um ponto de encontro que lhes permitisse conhecer escritores que admiram, ou simplesmente, tentar compreender melhor o que se tem feito e que se poderia fazer mais em Portugal. Já tem sido plataforma de lançamento para novos projectos». Após passagem por vários auditórios em Lisboa, foi possível eleger este ano, com o contributo de alguns estudantes de artes, a Faculdade de BelasArtes de Lisboa como palco do Fórum Fantástico. «As peças do puzzle acabaram por se encaixar todas. Este foi o ano que decidimos dedicar a nossa atenção a novas formas de arte, novas formas de fundir as artes audiovisuais com as pictóricas. Convidámos uma série de cineastas para apresentarem as suas curtas-metragens na área do fantástico e não prescindimos da Banda-Desenhada, uma área que sempre mostrou uma grande vitalidade. Não é por acaso que duas homenagens deste ano serão ao cineasta e escritor António de Macedo e a Nelson Dias, por via da BD Wanya – Escala em Orongo, reeditada no ano passado pela Gradiva. E que melhor local que a própria Faculdade de BelasArtes?»
C
ontando com uma forte presença internacional em edições anteriores, este ano o Fórum apresenta o escritor britânico Richard K. Morgan como cabeça de cartaz. Autor de reputação no género da ficção científica, Morgan virá a Portugal para lançar a obra Carbono Alterado, com o apoio da editora Saída de Emergência. «O público habituou-se a uma forte presença internacional no nosso evento, mas este ano será decididamente um fórum nacional, uma decisão provocada pe-
revista BANG! [ 159 ]
las limitações e cortes de orçamentos das instituições públicas que normalmente nos apoiavam», responde Safaa Dib, quando lhe perguntam sobre uma diminuída presença de escritores internacionais no Fórum. Um fórum certamente mais nacional que irá contar com a apresentação do novo livro de David Soares, Lisboa Triunfante, bem como a presença de Ricardo Fontinha, autor de Chichen Itza – A Fonte da Juventude, Ana Cristina Luz, autora de Contos a Oeste, e o colectivo de autores de BD Murmúrios das Profundezas, inspirado na obra de Lovecraft. Um painel de autores infanto-juvenis, um género em claro crescimento em anos recentes, irá também participar no Fórum e debater as particularidades da literatura fantástica para crianças. A ficção científica aparentemente não foi negligenciada, uma vez que será promovido um debate no dia de abertura do Fórum sobre o futuro dos livros a nível tecnológico moderado pelo autor Luís Filipe Silva, com a presença de escritores, jornalistas e escritores. Alguns autores que já participaram no Fórum Fantástico:
Nick Sagan Zoran Zivkovic Paul McAuley Christopher Priest Rudolfo Martínez Juan Miguel Aguilera Gérson Lodi-Ribeiro Blanca Riestra Elia Barceló Bruce Holland Rogers Léon Arsenal C. B. Cebulski Edward James
As novidades não se irão limitar à BD e literatura. Uma série de curtas-metragens realizadas recentemente por portugueses irão ser exibidas no Fórum Fantástico. Encontra-se também em preparação um monster workshop em que vários ilustradores irão revelar os truques e manhas da arte de criação de monstros. «Tentou-se criar um fórum mais ecléctico este ano, representativo de todas as facetas do fantástico. E, para não variar, são muitos od projectos nacionais de qualidade a descobrir.» Projectos estes que demonstram que o género em Portugal ainda dá cartas. O número de livros
fantásticos publicados por ano pelas mais diversas editoras, desde as grandes companhias às independentes, é um sinal de que ainda se justifica a realização do Fórum Fantástico? Pergunta esta a que Safaa Dib responde, «Isso é uma questão que tentaremos responder no balanço anual que irá ser pela primeira vez realizado no Fórum. Vamos destacar a ficção traduzida e nacional publicada no último ano e discutir os principais eventos que têm marcado o género.»
P
ara mais informações sobre o programa do Fórum Fantástico, consultem regularmente a página forumfantastico.wordpress.com BANG!
[entrevista]
[por Stuart Carter]
«O optimismo é algo muito difícil de manter!» Entrevista a Richard Morgan Uma das vozes mais frescas, competentes e surpreedentes da fc vem a Portugal, ao Fórum Fantástico, lançar o bestseller Carbono Alterado. Fique a conhecê-lo um pouco melhor... antes de autografar o seu exemplar.
C
arbono Alterado foi o primeiro trabalho de ficção científica de Richard Morgan, publicado em 2002. Para um primeiro romance era ultra-violento e sagaz e foi realmente muito bem recebido. Ah, e os direitos para o filme foram direitinhos para Hollywood e conseguiram realmente uma boa verba, permitindo a Richard deixar o emprego como professor de Inglês na Escócia para se concentrar a tempo inteiro na escrita. Carbono Alterado retratava uma futura Terra mesquinha e governada pelo mundo empresarial onde os ricos eram realmente imortais
graças a uma tecnologia conhecida como «sleeving» e segundo a qual a nossa consciência pode ser transferida do nosso corpo e armazenada ou implantada num corpo novo (ou não tão novo assim). Takeshi Kovacs era uma personagem principal cansado da vida e moralmente comprometido que tinha assassinado centenas de pessoas e «morrido» mais de uma vez; tinha sido contratado para investigar uma morte verdadeira por causa do seu status enquanto antigo «Envoy» ou super-soldado magnificamente treinado. O segundo romance de Richard, Broken revista BANG! [ 160 ]
Angels, com o mesmo protagonista alguns anos depois e num planeta diferente, conseguiu a mesma aclamação no início deste ano, provavelmente porque a fórmula dura e muito noir do primeiro romance foi de novo empregue mas num contexto mais vasto que revelou um pouco mais sobre o futuro ambiente social de Takeshi Kovacs e sobre o tipo de pessoas que sobrevivem nele. Os livros de Richard utilizam frequentemente uma violência muito gráfica que, nas mãos erradas, pode ser vista como uma glamorização do homicídio e do caos, mas, apesar da impressionante frieza inicial, a pura intensidade da violência – para não mencionar os desfechos habituais – deixam claro que se trata de uma actividade terrível e frequentemente contraproducente.
S
C: Qual foi a sua primeira reacção quando soube do negócio de Hollywood relativamente aos direitos para o filme de Carbono Alterado? RM: Por estranho que pareça, fiquei extraordinariamente calmo. Tudo aconteceu lentamente, durante um período de algumas semanas – primeiro tive um executivo cinematográfico londrino a tecer elogios a um eventual filme de Carbono Alterado, depois ouvi dizer que uma agência de Los Angeles é que tinha ficado com os direitos, depois disseram-me que vários nomes importantes estavam interessados, depois ZÁS! Mas nessa altura eu já tinha tido tempo para me habituar à ideia e,
revista BANG! [ 161 ]
para ser sincero, já estava a ficar sem adrenalina. As minhas glândulas supra-renais tinham estado em constante actividade desde que CA foi publicado e teve tantas críticas positivas. Foi um pouco como comprar uma casa, quando finalmente se faz a escritura. Não é tanto uma explosão de alegria, mas mais um prazer culminante. SC: Acha que este sucesso o modificou de alguma forma? Comprou algum Ferrari ou uma banheira em ouro ou contratou algum mordomo? RM: Bem… não. A maior extravagância que cometi desde que recebi o dinheiro de Hollywood (isto é, para além de ter desistido do meu emprego) foi comprar as primeira e segunda séries completas dos Sopranos no mesmo dia. Ainda conduzo o mesmo Renault 11 espanhol de 16 anos (com volante à esquerda), porque ainda funciona que é uma maravilha e tem um enorme valor sentimental, ainda vivemos no mesmo apartamento em Glasgow que comprámos quando eu estava a trabalhar na Universidade de Strathclyde e ainda temos os mesmos períodos de férias no estrangeiro (aproximadamente dois por ano). Aos 37 anos de idade, acho que o sucesso veio um pouco tarde demais para banheiras cheias de cocaína e carros de luxo. Uma pena, realmente. SC: Tem grandes expectativas para uma eventual
versão em filme de Carbono Alterado? Já há alguma novidade sobre o filme?
SC: Anseia reconhecimento fora dos círculos de FC enquanto… digamos… um artista «a sério»?
RM: Nada de novo. Sei que existe algures um guião, que anda de trás para a frente entre estúdio e argumentista, e sei, através de uma série de fontes não relacionadas, que existe grande entusiasmo em volta do projecto, mas isso não significa obviamente nada até sabermos que vão começar a filmar. Tento não pensar demasiado nisso – melhor continuar simplesmente com a minha escrita a tempo inteiro e depois se verá. Quanto ao tipo de filme que poderá sair de CA… bem, temos o produtor responsável pelo Matrix e pelo Predador e o argumentista que trabalhou na versão mais recente do Rollerball. Eu diria que são muito boas credenciais para qualquer potencial filme de FC.
RM: Não. Para ser totalmente sincero, a única coisa que desejo nesse sentido é o volume de vendas que os autores mais comerciais conseguem obter. Nunca me ralei muito com o reconhecimento sob qualquer tipo de forma e posso certamente viver sem a aclamação do Mainstream Critical Thought. De qualquer forma, esses tipos são sempre os últimos a reparar no que é que está realmente a acontecer.
SC: Acha que as anteriores traduções de livros de FC para cinema foram bem sucedidas? RM: Bem… «bem-sucedido» aqui é um conceito um bocado elástico. Quero dizer, o Bladerunner, o meu filme de FC favorito, continua a ser o ponto de referência para qualquer outra coisa no género em termos de qualidade, mas é questionável se se trata de uma boa «tradução» do romance inicial de Dick (embora conste que ele viu o guião antes de morrer e que gostou). De modo idêntico, o Starship Troopers de Paul Verhoeven é um filme brilhante, mas podemos estar certos de que o velho Robert A. Heinlein está às voltas no túmulo por causa dessa tradução particular. Como sempre, o que se pode fazer no cinema e o que se pode fazer num livro são coisas radicalmente diferentes, por isso não é provável que os produtos finais sejam muito parecidos. Não se consegue condensar com sucesso um romance de 400 páginas num filme de duas horas (ou, se se consegue, é porque à partida o romance não era grande coisa) – o que temos de esperar é que a essência do livro sobreviva. Depois de ver o novo Rollerball estou bastante satisfeito por John Pogue, o argumentista que ficou responsável pelo CA, ter um razoável sentido da essência que procuro. Por isso… vivemos em esperança.
SC: Ainda dentro do mesmo assunto, incomoda-o que os escritores «a sério», como Margaret Atwood, escrevam flagrantes romances de FC e neguem o género como base? Refiro-me a uma afirmação feita por ela numa New Scientist recente: MA: Oryx & Crake não é ficção científica. É um facto dentro da ficção. A ficção científica é quando temos foguetões e substâncias químicas. A ficção especulativa é quando temos todos os materiais para realmente a fazermos… Eu não gosto de ficção científica à excepção da ficção científica dos anos 30, o género monstro bug-eyed no seu esplendor. (revista New Scientist) Enquanto escritor de ficção científica, o que acha disto (se é que acha alguma coisa)? RM: Sim, eu li o artigo. Acho que é muito triste que uma escritora respeitada e inteligente como Atwood faça gala em exibir (ou possivelmente fingir) a sua ignorância em relação à FC como se fosse algo digno de orgulho. Afinal, o Handmaid’s Tale ganhou o prémio Clarke e ela não pode ignorar esse facto nem o contexto em que o romance o ganhou. Talvez seja receio de ser denegrida pela comunidade de críticos, talvez seja uma fobia profunda ao Star Trek. É interessante que ela decida delirar com a FC dos anos 30, talvez porque ache que isso já foi há muito tempo para mais alguém ter lido e, por conseguinte, seja suficientemente esotérica para ser exclusiva. No mundo literário mais comercial existe uma tendência clara para este tipo de exclusão. Qualquer coisa acessível tem tendência para ser severamente punida sem demora porque elimina a necessidade da interrevista BANG! [ 162 ]
pretação crítica e, por conseguinte, a chance dos críticos afirmarem uma superioridade de sofisticação sobre o resto do mundo. E eu acho, infelizmente, que ela está a fazer-se para esse grupo particular. Quanto à afirmação «Oryx & Crake não é ficção científica», bem, vejamos: a acção decorre no futuro, lida com biotecnologia avançada e centra-se em volta de uma nova raça de seres geneticamente manipulados. Desculpa, Maggie… mas vais começar a ser mais comedida, ou quê? SC: A actual «Guerra ao Terrorismo»: alguma opinião? RM: Credo, Scooby! Vamos fugir? A sério, eu podia falar pela Grã-Bretanha nessa matéria, mas, para ser franco, isso já foi tão convincentemente comentado por tantos outros escritores (Julian Barnes, John Le Carre, Arundhati Roy, e por aí fora) que seria bastante supérfluo. Basta dizer que me sinto nauseado com a duplicidade moral dos nossos políticos e com a sua incapacidade (ou talvez apenas má vontade) em abordar as verdadeiras causas do terrorismo. Para ser muito directo, o Bin Laden é culpa deles e eles deviam tratar convenientemente do problema e não tentar vender-nos contos de fadas sobre o assunto. SC: Faz referência a John Pilger no início de Broken Angels, e a violência nos seus livros tem uma moralidade muito clara, especialmente comparada com muita da FC mais militarista (ou, atrevo-me a dizer, americana); vê-se a escrever deliberadamente contra essa tradição heróica e beligerante da FC imperialista? RM: Sim, Pilger é um pouco um herói para mim. É um homem que levou um tipo de vida guiada pela moral e socialmente construtiva que eu poderia ter ambicionado se tivesse ganho juízo mais cedo. É bom saber que há por aí gente como ele. Quanto a Broken Angels, eu estava a escrever sobre guerra, e qualquer escritor inteligente nessa matéria vai ver que o ângulo belicoso tem credibilidade zero. Tanto ao nível cultural como ao nível do universo de leitores, acho que já ultrapassámos isso. Por isso, revista BANG! [ 163 ]
assim como eu não esperaria que os meus leitores levassem a sério homenzinhos verdes, também não lhes podia pedir que acreditassem numa guerra travada entre o Bem e o Mal. Temos de criar algo mais convincente que isso. E, tendo eu as tendências políticas que tenho, foi fácil projectar os vários interesses empresariais/políticos existentes por detrás da luta. Depois, no que toca à violência, tentei apenas torná-la o mais realista possível e resultou bastante bem. A violência real é horrível, por isso a ficcional também precisa de ser. No que diz respeito à questão americana, não tenho a certeza que não estejamos a ser muito simplistas – é verdade que a FC no outro lado do Atlântico tem por vezes um tipo de abordagem muito mais optimista, do tipo os-mais-velhos-estão-aqui-e-está-tudo-bem (ou vai ficar bem) com-o-mundo, mas isso é deixar de fora grandes talentos norte-americanos como Joe Haldemann e toda a malta do cyberpunk (Gibson, Sterling, Stephenson, etc…). SC: Leu alguma FC de Kim Stanley Robinson, especialmente a série «Marte», que me parece ser um exemplo mais optimista para o nosso futuro, em contraposição aos seus romances mais pessimistas mas «pelo-menos-ainda-aqui-estamos». O seu próximo livro, Market Forces, parece-me ser mais do mesmo (de todo uma coisa má!) mas alguma vez sentiu a necessidade de escrever um exemplo idêntico de quão boas poderiam ser as coisas em vez um severo alerta de quão más podem vir a ser? RM: Não, nunca li KSR – para ser sincero, não gosto muito de séries longas, elenco de milhares, seguindo gerações e por aí fora, o que me parece ser a especialidade dele. Não que haja alguma coisa de errado com isso; de facto, quando se pinta numa tela tão vasta, não se tem realmente muita escolha. Mas eu estou demasiado interessado em entrar nas cabeças dos personagens individuais para estar disposto a deixá-los ir com essa facilidade. A minha impressão superficial da série Marte é de que o único personagem central verdadeiro dos livros é o próprio Planeta Vermelho, e isso é demasiado grande para mim.
Para mim, a ideia de escrever um melhor (ou bom) futuro não faria qualquer sentido. Quando olhamos para a História, não vejo qualquer evidência da humanidade tirar o melhor partido das coisas e acho que é uma aposta bastante segura que se trata de uma tendência contínua. Num certo sentido, o Protectorado de Kovacs é exactamente isso. Não é um caso de pessimismo – é apenas uma extrapolação das actuais tendências humanas. E é por isso (diz ele modestamente) que me parece que soa a realidade. Até os romances Cultura de Banks não fogem a esta necessidade – a Cultura só funciona porque máquinas superpoderosas e (na sua maioria) altruístas impõem um paraíso hedonístico, e mesmo aí sempre existiu uma Circunstância Especial. Se nos deparamos com este futuro do conselho dos mais velhos em que toda a gente é sábia e feliz e realizada (não que eu esteja a dizer que KSR faz isto, porque não sei), tudo vai soar terrivelmente falso em termos humanos. Por isso teríamos de escrever sobre não-humanos. E, vá por mim, já tenho muito trabalho a lidar com personagens humanas. Lamento. SC: Tanto Carbono Alterado como Broken Angels são bastante pessimistas sobre o nosso futuro e a humanidade em geral – isto reflecte a sua visão do mundo? RM: Sim, acho que sim. Enquanto espécie, somos do tipo sobrevivente – vencedores evolutivos, o que, por definição, nos torna bastante desagradáveis. E agora que ficámos sem espaço onde sermos desagradáveis, temos de aprender a ter uma nova abordagem em relação uns aos outros e ao nosso meio envolvente, o que é difícil de fazer rapidamente. Por isso temos alguns séculos de pensamento humanista coerente contra um milhão de anos de evoluída tendência simiana assassina. Ninguém vai apostar muito no humanismo, pois não? Pior ainda, face ao nosso conhecimento recente do quão complexo e difícil é realmente o universo, a reacção da maioria das pessoas parece ser recuar para modos de operação simplistas e irracionais. A religião fundamentalista está por toda a parte, uma espécie de ética de «orgulho-em-ser-ignorante» prevalece no mundo desenvolvido, e até as
almas mais bondosas entre nós parecem mais inclinadas em seguir a treta da New Age do que em enfrentar construtivamente os factos. Kurt Vonnegut propôs certa vez, no livro Cat’s Cradle, que devíamos deixar uma mensagem para eventuais extraterrestres exploradores que pudessem chegar à Terra depois de nos termos extinguido através da destruição do meio ambiente. Esculpida na parede do Grand Canyon, a mensagem seria: «Podíamos Tê-la Salvo, Mas Éramos Demasiado Reles». Eu acrescentaria a frase «E Era Demasiado Complicado». Contra essa perspectiva bastante desesperante, eu tento concentrar-me na velocidade com que conseguimos progredir em questões de complexidade que demonstrámos no último século e pensar que afinal ainda tenhamos alguma hipótese. De repetidas guerras mundiais até às Nações Unidas e uma economia de mercado globalmente interdependente em menos de um século – isso deve augurar alguma coisa de positivo, por muito desumano que o produto final ainda possa ser. As nossas comunicações e tecnologia de transporte tornam cada vez mais difícil as velhas tendências simiescas de violência e opressão ocorrerem sem contestação e existe pelo menos um conceito geral de genuína responsabilidade democrática. Mas também temos a nação mais poderosa do mundo que se recusa terminantemente a assinar ou a aceitar a jurisdição de qualquer corpo de governo ou lei supranacional (e o Reino Unido a latir das linhas laterais como o pit bull do rufía do bairro), um domínio corporativo global sobre os media e um vasto fastio e desinteresse pelo processo democrático por parte das pessoas que mais têm a perder se ele desaparecer. O optimismo é algo muito difícil de manter! SC: Acha que alguma vez conseguiremos transformar o espaço num empreendimento sustentável e continuado? RM: Ah, sim. Se me está a falar de sair da Terra para outros planetas, sem dúvida. Não há mais nenhum sítio para onde ir, pois não? E, mais cedo ou mais tarde, se entretanto não nos exterminarmos, vamos ter de fugir do próximo asteróide invasor, do próxirevista BANG! [ 164 ]
mo maxi-evento vulcânico, da reversão polar, etc. O sucesso evolutivo que gira em volta destes acontecimentos vai exigir uma mobilidade, no mínimo, à escala interplanetária. Ou fugimos ou morremos, e até agora temos provado ser bastante tenazes face às ameaças ambientais externas. Não vejo motivos para isso se alterar – o problema é o que se passa cá dentro. SC: Acha que se daria bem com Takeshi Kovacs se se conhecessem? Obviamente não ia querer irritar o homem, mas acha que ia gostar dele e vice-versa? RM: Bem, o sujeito deve-me a vida, por isso ia ter de se comportar. Partindo do princípio que nos embebedávamos o suficiente para nos abrirmos um com o outro, desconfio que ele acharia que eu era um diletante estúpido mimado e eu acharia que ele era um psicopata perigosamente instável. Mas isso não evitaria que viéssemos a gostar um do outro. Por estranho que pareça, temos o mesmo senso de humor e, a um nível teórico, ideias semelhantes sobre o poder e a política. Também me parece (e já constatei pessoalmente) que existe uma atracção curiosa entre pessoas emocionalmente estáveis e instáveis – parece que, até certo ponto, precisam umas das outras. Por isso, sim, talvez nos déssemos bem. Eu sou uma pessoa bastante estável. SC: Um amigo pergunta: «Embora eu goste de ter o livro (Carbono Alterado), será um crime que ainda não o tenha lido muito embora mo tenha sido oferecido de presente?» RM: De todo, desde que alguém o tenha pago. De facto, esse amigo devia conseguir que lhe oferecessem já o Broken Angels (edição de capa dura, de preferência). E também não há necessidade de ler esse se ele não quiser. SC: Que lei Britânica estabeleceria se tivesse poder para isso? RM: Algum tipo de sistema de percentagem obrigatória em relação às despesas governamentais, segunrevista BANG! [ 165 ]
do o qual os gastos militares estariam indexados aos gastos na Saúde, Serviço de Emergência e Educação, em proporções sensatas. Se nos podemos dar ao luxo de travar guerras constantes no Médio Oriente, podemos muito bem pagar adequadamente aos nossos bombeiros, enfermeiros e professores, construir escolas e hospitais decentes e mandar os nossos filhos para a universidade sem os castrar com décadas de dívidas. SC: Acredita na vida após a morte? Acredita na reencarnação? RM: Não. Bem… é uma resposta pouco profunda, não é? Eu sou o que se poderia chamar um ateu funcional, mas um agnóstico teórico. Claro que não tenho a certeza do que poderá existir por aí, por isso, em teoria, poderá existir um deus e algum tipo de continuação existencial. Mas, ao mesmo tempo, sei muito bem que nenhuma da treta que a religião humana inventou é digna de qualquer tipo de consideração séria, por isso, funcionalmente… SC: Sente-se inquieto com a ideia da eventual morte do universo? RM: Bem, já não é provável que eu ande por cá, por isso tenho de admitir que a minha preocupação é limitada. Contudo, Bertrand Russell ficou bastante perturbado com o facto. Ele achava que o facto de o universo ter de acabar tornava completamente inúteis todos os esforços humanos, ou, pelo menos, tornava difícil preocupar-se com a humanidade enquanto projecto de vida. Não li o suficiente dele para saber se acabou por resolver essa crise do destino humanístico, mas acho que é bastante remoto, mesmo para um filósofo. Quando lá chegarmos (se lá chegarmos) estou convencido que teremos a tecnologia para lidar com o problema. Somos do tipo sobrevivente, não se esqueça. SC: Quando é que dançou pela última vez? RM: Numa festa carnavalesca brasileira de caridade, em Fevereiro. A 14 de Fevereiro, para ser mais preciso.
SC: O que é que mais o irrita? RM: A intolerância. SC: Quem admira? RM: John Pilger (supracitado) e o meu pai. Arundhati Roy. Todos os que trabalham para a Amnistia Internacional. Pessoas com princípios que se empenham em aplicá-los para benefício dos outros. SC: Que ideias ou tipo de ideias está a magicar para o próximo livro? RM: O próximo livro, Market Forces, está pronto. É um afastamento em relação aos outros dois – vou dar férias a Kovacs. Market Forces ocorre pouco mais do que daqui a uns cinquenta anos e passa-se no contexto do mundo financeiro internacional. Os pontos relevantes são o facto de serem as instituições financeiras corporativas quem governa agora o mundo, até ao controlo total militar e político. A CIA foi privatizada, grandes unidades políticas como a OPEC e a China foram balkanised e a alteração de regime é decidida com base nos possíveis benefícios comerciais. É um mundo amoral e que necessita de agentes amorais, por isso as pessoas que trabalham na área são assassinos frios que resolvem questões de negócio e promoções travando duelos nas ruas que estão agora desertas porque uma severa legislação ambiental fez com que apenas os mais ricos possam ter carro. Ao mesmo tempo, estas pessoas são seres humanos e por isso podemos ver as suas vidas do lado de dentro e compreender algumas das suas motivações. Imaginem Os Sopranos na cidade de Londres com um pouco de Mad Max e Rollerball. Depois disto vou voltar a Takeshi e ao Protectorado. O terceiro romance de Kovacs passa-se no Mundo de Harlan, o que nos dá a oportunidade de ter uma ideia das influências que transformaram Takeshi naquilo que ele é, e de complementar alguns pormenores do am-
biente dos outros dois livros. Esperem deparar-se com a elite governante do Mundo de Harlan, os Millsport yakuza, seitas religiosas lunáticas, sistemas automatizados de armas que enlouqueceram e as equipas de mercenários fora do activo cujo objectivo é desligá-las, surfistas revolucionários, Quellist cadres e sérios problemas de crise de identidade para Takeshi. Agora só tenho de dar uma certa ordem a isto tudo. SC: Agora que não precisa mesmo de trabalhar, trabalha? RM: Neste momento ainda estou a gozar a novidade – só me demiti do emprego há cerca de oito meses. Às vezes ainda sinto falta de dar aulas, mas acho que não o suficiente para querer regressar. Foi uma carreira de catorze anos e, para ser franco, acho que quando saí já tinha dado tudo o que podia dar. Este Verão vou dar formação a professores como uma espécie de adeus final. Depois acho que vou olhar em redor e ver que tipo de trabalho de voluntariado/caridade posso fazer. Talvez alguma coisa para a Amnistia Internacional – gostava de sentir que finalmente vou dar alguma coisa, porque já tive certamente bastante em termos de sorte e apoio ao longo dos anos. SC: O que é que tem hoje no leitor de CD? Ouve música enquanto escreve? RM: Hum… espere, vejamos. Ani diFranco – Little Plastic Castle, Sisters of Mercy – Floodland e um grupo espanhol espantoso de hip-hop/flamenco chamado Ojos de Bruja. A minha colecção de CD é uma das poucas obsessões duradouras e eu oiço quase de tudo. Tenho um pouco de tudo, desde Pavarotti até Cypress Hill e, sim, escrevo sempre a ouvir música. Não me tinha apercebido do porquê até há alguns meses numa conversa com James Lovegrove e Adam Roberts eles me dizerem que faziam o mesmo para diminuírem os seus filtros afectivos e esquecerem o que estavam realmente a fazer. E é exactamente isso – a música consegue alhear-nos do que estamos a farevista BANG! [ 166 ]
zer, desinibe-nos e permite-nos perdermo-nos na escrita. Comigo funciona! SC: «Hip-hop flamenco»??? RM: Sim, a sério. É difícil explicar. Imagine a guitarra flamenca normal com montes de turntable scratch e vozes que algumas vezes são rap e que de resto são flamenco tradicional. É muito fixe, e acho que é um bocado difícil de encontrar neste país – a minha mulher é espanhola e eu arranjei isto em Madrid. Talvez haja na Amazon ou numa boa secção de Música do Mundo de uma Virgin Megastore. De resto, tentem na FNAC on-line. BANG!
Não perca, na página a seguir, crítica extensa por João Seixas
Carbono Alterado
E, para o resolver, Kovacs terá de destruir alguns inimigos do passado, resistir às perseguições de metade dos senhores do crime, suportar as investidas da sedutora mulher do multimilionário, confiar numa IA que se projecta na forma de Jimi Hendrix e lidar com a atracção que sente por Kristin Ortega, a mulher que amava o corpo onde ele agora se encontra. Num mundo onde a tecnologia já oferece o que a religião apenas promete, onde os interrogatórios em realidade virtual significam que se pode ser torturado até à morte e depois recomeçar de novo e onde existe um mercado negro de corpos, Kovacs acaba de descobrir que a última bala que lhe desfez o peito é apenas o começo dos seus problemas…
«Esta união coerente entre o cyberpunk puro e uma história policial bem estruturada é um espantoso romance de estreia.» — Londontimes «Uma obra espantosa… uma maravilhosa ideia de fc… carbono alterado começa a correr e continua sempre a acelerar. Intrigante e inventiva em proporções idênticas, recusa-se a abrandar até à última página.» — Peter hamilton «Um emocionante híbrido de fc e crime, com um enredo intrincado (mas sempre plausível), uma poderosa atmosfera noir e suficiente acção explosiva para satisfazer o fã mais exigente de romances policiais.» — FC Site
Richard Morgan O Denso e movimentado XXXX é uma mistura intrigante da imaginação de William Gibson, da violência do cinema japonês, da envolvência do Roman Noir e do charme de Bladerunner. No século XXV é difícil morrer para sempre. Os humanos têm um stack cortical implantado nos corpos onde a consciência é armazenada, podendo ser feito um download para um novo corpo se necessário. E enquanto o Vaticano tenta banir essa actividade para os católicos, o secular multimilionário Laurens Bancroft contrata Takeshi Kovacs (antigo agente especial das Nações Unidas) para descobrir quem assassinou o seu último corpo. A polícia diz que foi suicídio, mas Bancroft sabe que nunca se mataria. A consciência de Kovacs, cujo último corpo acabara de ter uma morte violenta a muitos anos de luz da Terra, é inserida no corpo de um polícia para investigar este estranho caso. revista BANG! [ 167 ]
«Uma aventura entusiasmante e dinâmica… o que faz de carbono alterado um vencedor é a qualidade da prosa de morgan. Para cada segmento de acção à john woo há um segmento espantoso de descrição reflexiva, um ambiente envolvente e toneladas de excelentes boas saídas.» — Sfx magazine «Brilhante. Impossível de largar. E montes de clichés, só que neste caso todos verdadeiros. Adorei.» — Adam roberts «Carbono negro noir com acção e sagacidade, um enredo consistente e uma história de fundo que deixa o leitor a desejar uma sequela…» — Ken Macleod
Mais informações em www.saidadeemergencia.com
[crítica]
5 Estrelas João Seixas recomenda “Carbono Alterado” «Morgan decepa irrevogavelmente o cordão umbilical que prende o eu à carne, solta-o para viajar através do Tempo e do Espaço, prometendonos a vida eterna, sem deus e sem religião.»
H
á livros que têm cheiro. Não é o cheiro do papel, nem da cola, nem da tinta que cobre a superfície branca com as pegadas hesitantes de ideias incertas. Não é o fedor intolerável das planícies de celulose onde morre a originalidade. Nem é o cheiro a bolor que se vai adensando à medida que penetramos, exaustos, passo após passo, no deserto árido de algumas sagas intermináveis. Falo do cheiro que fica do livro depois de pormos de parte a narrativa, as contorções estruturais, as personagens batidas, os floreados da linguagem ou a gramática torturada: e, pondo tudo isso de parte, é o cheiro da Verdade que se exala ao fecharmos este Carbono Alterado. Não me refiro, é claro, à verdade absoluta, à verdade da vida, que enquanto abstracções são desprovidas de sentido, nem à verdade científica, que não se exige de uma obra de ficção; refiro-me àquela verdade que é o sangue da literatura, que é o alimento da obra, a verdade da convicção, a verdade que fica quando tudo o mais já soçobrou. Poder-me-ão dizer que Carbono Alterado não é um grande livro de ficção científica, e que nunca vai figurar ao lado de clássicos como Dune (1965), Foundation (1941) ou Neuromancer (1984). Que nem sequer é um livro muito bem escrito, como são bem escritos os livros de Simmons ou Wolfe. Mas é uma daquelas raras obras que surgem de tempos a tempos, emergindo da memória colectiva do género, construídas de fragmentos de tropos já explorados, das carcaças vazias de histórias que já passaram, dos
motores desmontados de ideias outrora fulgurantes, e que com pintura nova, motor melhorado e aceleração impetuosa, rasgam caminho pelo cemitério de ideias e erguem-se como marcos – não como lápides – sobre a terra revolta. São obras de síntese, que agregam em si a essência de um momento histórico da evolução do género; são obras que anunciam a transição, o renascer, que fazem a súmula do que ficou para trás e mostram o que pode ainda fazer-se com o que se pensava já ultrapassado. E, tal como o Hyperion Cantos (1989-1990) de Simmons e o Book of the New Sun (1980-1983) de Wolfe formam o destilar da história da ficção científica, e enquanto tal são a própria ficção científica, este Carbono Alterado é a essência destilada da FC do virar do milénio. Quiçá mesmo, das preocupações culturais do milénio, informado de tal forma pela guerra ao terrorismo, a violência nos media, a corrupção política, a ignorância científica e o atavismo religioso, e as respostas requeridas do indivíduo que assiste, inútil, ao desabar do estado social, que se poderia dizer pura encarnação literária do zeitgeist. E – foi dito acima – como revista BANG! [ 168 ]
livro que é, preocupado com a verdade, assume a forma clássica do policial negro para reclamar domínio sobre o Future Noir, sub-género que podemos remontar a Algys Budris e Alfred Bester. É provável que agora que Carbono Alterado dá finalmente às costas lusitanas, seis anos após a sua publicação original e já com duas sequelas no mercado (Broken Angels e Woken Furies, cuja publicação, espero, os leitores saberão exigir da Saída de Emergência) o motor da narrativa e o novum da obra seja já familiar. Pelo menos, tão familiar quanto a icónica personagem que Morgan criou como reacção ao zeitgeist de que falávamos supra: Takeshi Kovacs, exEnviado do Protectorado da UN, arrastado até Bay City desde a sua terra natal (o deliciosamente chamado Mundo de Harlan – Ellison?) para investigar o “suicídio” de um milionário virtualmente imortal. As personagens, pouco mais do que estereótipos, os poderosos corruptos (Kawahara) ou redimidos (Bancroft), os Matusas de longa idade que se portam como crianças (Miriam), as vamps misteriosas (Trepp) e o anti-herói torturado pela infância difícil e delinquente, pediu-as Morgan emprestadas ao leque de arquétipos do policial. Mas o Universo ainda prenhe de potencialidades, de mundos colonizados, baleias inteligentes, Marcianos desaparecidos e orbitais ameaçadores de origem desconhecida, esse é exclusivo da FC. E aí reside o grande mérito deste primeiro romance de Morgan – e nunca é demais referir tal facto num mercado editorial que parece fascinado pelos autores imberbes de fantasias prépubescentes: o urdir exímio de um mundo no outro, construindo uma arquitectura em perfeito equilíbrio entre as exigências genéricas; o mistério central do livro – a essência do policial – não seria possível sem o novum cientifico-ficcional. Morgan consegue, de forma aparentemente fácil (pelo menos para quem ignorar que o livro foi concluído em 1997, rejeitado por várias editoras, até o autor proceder a uma reescrita parcial, que levou à sua aceitação por parte de Carolyn Whitaker, editora da Gollancz) obter o santo Graal da fusão dos géneros. O novum tecnológico de Morgan – a possibilidade de se proceder à digitalização da personalidade humana, que pode depois ser imangada quer num corpo sintético, quer revista BANG! [ 169 ]
no corpo de um humano condenado a cumprir pena numa pilha de memória – suscita problemas legais e abre oportunidades a crimes engenhosos (duplo imangamento, mergulho em transmissões por needlecast, “roubando” fragmentos da memória de alguém, uso de ambientes RV onde o sujeito pode ser torturado até à morte, uma e outra vez, e uma miríade de outras possibilidades afloradas com a casualidade que serve para dar corpo ao cenário); e o crime que Kovaks é chamado a investigar apenas é possível por causa dessa nova tecnologia. A própria resolução do mistério, encontra-se intimamente ligada às premissas científico ficcionais, tornando a história numa narrativa que apenas pode existir de forma coerente enquanto ficção científica. Morgan escreve o seu mundo pela voz do protagonista, uma voz com ecos de Lawrence Block, Robert Crais, Raymond Chandler e Dashiel Hammett, mas o mundo da Terra no século XXVII abre-se aos nossos olhos como se escrito por Dick pedrado de anfetaminas, pródigo em pequenos detalhes que se fixam na mente do leitor e sugerem constelações de possibilidades de histórias dentro da história, ideias que orbitam em torno do sol narrativo como novas à espera de deflagrarem. Mas eu disse-vos que o livro, despido das personagens, da narrativa e da linguagem cheirava ainda a verdade, como uma arma desmontada cheira ainda a óleo de linhaça e sugestões de cordite. Cheira àquela verdade que nós intuímos quando falamos da alma… e do corpo… da dualidade filosófica que compõe o indivíduo, aquela puxando para as estrelas, aquele arrastando para as profundezas da Terra. Morgan decepa irrevogavelmente o cordão umbilical que prende o eu à carne, solta-o para viajar através do Tempo e do Espaço, prometendo-nos a vida eterna, sem deus e sem religião. Afinal, a religião só existe porque existe a morte. A religião é necrófila… a religião é necrófaga. No universo do Protectorado, só os românticos perguntam ainda Who wants to live forever? Afinal, é tão fácil prescindir daquilo que não podemos ter. Eu, por mim, quero um lugar na primeira fila, para espreitar o fim do universo. De preferência em companhia de Takeshi Kovacs. BANG!
[artigo]
Muito mais do que Murmúrios Rui Ramos Murmúrios das Profundezas é uma BD, edição de autor, da autoria de um grupo de jovens que nem se conheciam quando começaram a trabalhar. O tema: Lovecraft.
T
udo começou com um susto. Não um susto qualquer de quem é surpreendido por um cão ou carro que nos vai atropelar. Não. Quando digo um susto, quero dizer, o Susto; daqueles que nos gelam o sangue e nos eriçam o cabeço da nuca. Depois de ter experimentado essa terrível sensação, a expressão pôr os cabelos em pé ganhou novos contornos. Nunca pensei que pudesse acontecer mesmo! Mas acontece! Passado o susto daquela noite de verão que tinha tudo para ser banal, a vida continuou sem me preocupar mais com o assunto, até que um dia, num exercício de escrita criativa, fui forçado a recordar tudo de novo. “Descreve o maior susto que apanhaste na vida, ou episódio sobrenatural que vivenciaste”, ordenava o exercício e como que impulsionados como uma mola, os eventos daquela noite projectaram-se de novo à minha frente. A caneta na minha mão ganhou vida e antes que tivesse tempo para pensar, já o acontecimento se transformara em tinta escrita sobre a folha. O episódio foi narrado para todos na aula, roubando sorrisos nervosos a alguns, e olhares de dúvida e fascínio a outros. “Será possível?” “É um brincalhão!”, lia nos seus olhares. Contudo, o professor, homem de grande sensibilidade para os fenómenos do oculto, disse-me: “Desculpa, mas agora terás que desenvolver
esse tema. O teu conto final tem que ser sobre isso! Não tens outra hipótese.” “Bestial!”, pensei satisfeito. E assim foi, o meu susto ganhou uma dimensão maior do que poderia ter imaginado. As sensações que me assaltaram naquela noite de lua cheia, alimentaram as personagens que foram surgindo da minha imaginação e por fim, o conto estava pronto. Foi lido e comentado, criticado, avaliado e finalmente publicado. Durante todo este longo processo, desde as primeiras linhas, até à fase de editar o texto, o meu professor aconselhou-me vários livros, vários autores, mas de todos os nomes apenas fixei um: Lovecraft. “Nunca leste?” “Lovecraft? O que é isso?” Na minha ignorância era o nome de uma banda de metaleiros qualquer. “Tem tudo a ver contigo.”, respondeu-me o professor cheio de entusiasmo. “Pois sim, vou pensar no assunto.” O curso de escrita criativa chegou ao fim. O conto foi compilado num livro ao lado dos contos dos meus colegas e assim ficou perdido e abandonado nas prateleiras de livrarias pouco visitadas. Tudo parecia indicar que iria ficar por aqui, mas aquele nome não me saía da cabeça. “Lovecraft. Tem tudo a ver comigo? Hmm, dá que pensar.” revista BANG! [ 170 ]
Já não me lembro ao certo quando foi mas algures no princípio do ano de 2007 peguei num exemplar de contos do misterioso autor e fiquei de imediato agarrado à leitura! Cada frase despertava a minha imaginação galopante para um mundo infinito de possibilidades. Quantas histórias ganharam forma ao ler Lovecraft? Quantas vezes não tive de voltar a ler parágrafos inteiros, pois já não estava a prestar atenção à história; a minha mente estava ocupada a criar situações novas, inspiradas naquelas palavras escritas há 80 anos atrás! Foi uma experiência fenomenal! Depois de ter devorado o primeiro volume não descansei enquanto não arranjei o segundo. Virei o Porto do avesso para encontrar o último exemplar disponível da Saída de Emergência. Li-o como quem inspira antes de mergulhar e nunca mais deixei sair o ar. A imaginação febril necessitava de um escape. Era preciso soltar as histórias que tinham vontade de vir cá para fora. Impunha-se tomar medidas. Foi então que em Maio, no festival de Banda Desenhada de Beja, em conversa animada com Paulo Monteiro, surgiu a ideia de fazer banda desenhada baseada no imaginário inesgotável lovecraftiano. Acedi ao fórum da Central Comics e comecei a procurar por gente interessada em fazer BD. Após algumas tentativas goradas, acabei em Agosto por reunir um grupo de talentosos amadores, oriundos de locais desde Braga a Faro, passando pelos Açores, dispostos a explorar o lado mais negro das suas almas para desenvolver as suas próprias histórias lovecraftianas. O arranque foi lento e esteve em riscos de não ir para a frente. Em Agosto, éramos sete (Rui Ramos, Diogo Campos, Flávio Gonçalves, Vanessa Bettencourt, Luís Belerique, Carneiro e um russo que fazia tatuagens). No fim de Dezembro, já tinham desistido o Carneiro e o russo, que foram substituídos pelo phermad (que conheci no Festival de BD da Amadora) e pelo Ricardo Reis (convidado pelo Belerique para o ajudar no seu conto). Nessa altura, apenas o conto da Vanessa e do Flávio estava concluído. Tudo apontava para o fracasso do projecto. revista BANG! [ 171 ]
A nossa motivação estava a esfumar-se, gradualmente, contudo, em Janeiro, com o novo ano, deu-se a grande viragem. A vontade de criar e a perseverança mantiveram o grupo unido e levaram a melhor. Em Fevereiro, começaram a surgir as primeiras pranchas dos restantes contos. Impusemos como meta a publicação do livro em Maio, aquando do Festival de BD de Beja. Estávamos a trabalhar como furiosos à frente dos computadores, pedimos reforços ao Diogo Carvalho, o oitavo passageiro, indicado pelo phermad, que se juntou às fileiras na recta final, mas o atraso que levávamos não nos permitiu cumprir o nosso objectivo e falhamos. Contudo, o que deveria ter sido a nossa estreia, transformou-se numa verdadeira campanha de marketing com exibição de um trailer que deixou toda gente com água na boca. A boa recepção com que a audiência nos brindou deu-nos ainda mais alento para terminar os Murmúrios. O livro ainda não estava pronto e já tínhamos convites para exposições no Porto e Almada e para participar em novos projectos de BD. A nossa motivação estava ao rubro. Finalmente, após longas noitadas à frente do monitor a escrever e desenhar contos, a combinar estratégias e a dar apoio moral aos camaradas, os Murmúrios das Profundezas concretizaram-se. Demasiado especial para ficar à espera que uma editora decidisse o seu futuro, decidimos lançar-nos na edição de autor, recorrendo aos serviços POD de uma gráfica espanhola. No 26 de Julho de 2008, durante o VI Troféus do Central Comics, e após grande publicidade dos meios de comunicação social, o público pode por fim ter acesso aos Murmúrios das Profundezas. Só no primeiro dia venderam-se 100 livros. Na primeira semana a primeira edição estava praticamente esgotada. Tivemos que reter o stock para garantir livros para o evento em Almada. As primeiras críticas fizeram-se sentir em blogues, emails e conversas pessoais. De um modo geral, a recepção foi bastante positiva e entusiasta. Elogiaram o nosso trabalho e esforço e encorajaramnos a realizar mais projectos.
Apesar da sua humildade, os Murmúrios das Profundezas foram coroados de sucesso. O investimento foi pago, fizemos lucro e acima de tudo agradamos a maioria dos leitores. Que mais poderíamos pedir? Este projecto serviu-nos de rampa de lançamento para o mundo da BD. Aprendemos a ser artistas, argumentistas, gestores de marketing, promotores, relações públicas, editores, vendedores, negociadores e muito mais. Em suma, foi uma grande experiência para nós que somos estreantes nestes assuntos. Apercebemo-nos que ainda temos muito caminho pela frente para virmos a ser os artistas que queremos ser, mas acho que começamos com o pé certo. Já estamos a trabalhar num novo projecto a publicar em 2009, chama-se Voyager e o tema é totalmente diferente, deixamos o horror para explorar o género ficção-científica. Desta experiência, acima de tudo, ficou a amizade que criamos entre elementos da equipa que não se conheciam e entre apoiantes ao projecto que nos deram uma grande ajuda. Nada disto teria sido possível sem o valioso contributo de todos os intervenientes. Criamos um grupo unido e determinado, que se apoiou sempre nos momentos mais difíceis. Não posso terminar sem referir que o Murmúrios das Profundezas existe porque há 80 anos atrás, um homem escreveu contos que ainda hoje nos intrigam, fascinam e despertam a nossa imaginação para a criação de novos contos, novos mundos, novos… horrores. Contudo, Lovecraft foi apenas um catalisador. Um pretexto para juntar um grupo. Na verdade, tudo isto aconteceu porque numa bela noite estival de lua cheia, eu apanhei um susto de morte. Mas isso já é matéria para outro conto. BANG!
[banda desenhada]
Murmúrios das Profundezas Vários artistas
Rui Ramos natural da cidade Invicta, licenciou-se, tirou um Mestrado em Geologia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e está actualmente a terminar o Doutoramento em Geologia. Sempre com desejo de conhecer mais, tirou ainda os cursos de escalada, teatro, workshop de teatro de marionetas, Yoga e fez um interrail pelo sul da Europa até às paisagens exóticas da Capadócia. Inspirado pelas suas viagens e aventuras como Geólogo, Rui decidiu investir na sua formação de contador de histórias e frequentou os cursos de BD no CIEAM em Lisboa, o curso de BD e Ilustração na FBAP, workshop de Guionismo para BD, curso de Ilustração Infantil, curso de escrita criativa, workshop: oficina de criação de personagens, curso de empreendedorismo na EGP. Reuniu duas equipas distintas de novos artistas (vinte no total) e juntos estão a dar corpo a novos projectos de Banda Desenhada. Os Murmúrios das Profundezas são apenas a primeira pedra de um edifício que está a nascer... aos poucos. BANG! revista BANG! [ 172 ]
revista BANG! [ 173 ]
revista BANG! [ 174 ]
revista BANG! [ 175 ]
revista BANG! [ 176 ]
revista BANG! [ 177 ]
revista BANG! [ 178 ]
revista BANG! [ 179 ]
revista BANG! [ 180 ]
[crítica]
5 Estrelas Safaa Dib recomenda “Os Leões de Al-Rassan” «Kay é um escritor notável e sabe como criar uma narrativa convincente, com a medida certa de intensidade emocional e lírica.»
A
História do nosso mundo tem acontecimentos de sobra para intrigar escritores. Guerras, massacres, traições, alianças e derrotas pesadas enchem páginas de romances em que os costumes da época, por vezes civilizados, por vezes bárbaros, sempre fascinantes, regressam à vida, consoante o talento do autor. Kay é um desses talentosos escritores que não só se dedica a uma descrição minuciosa de uma época, mas também a evoca com um lirismo pungente, tornando-a vívida na nossa imaginação. Os factos históricos a que Kay recorreu são sobejamente conhecidos. A conquista árabe que se iniciou em 711 com a invasão mourisca comandada por Tárik ibn Ziyad, um líder berbere que viria a dominar toda a Península nos anos seguintes, destroçou a decadente monarquia visigótica reinante na Hispânia. Opondo-se aos habitantes cristãos da Península, mas longe de os oprimir, os árabes estabeleceram um sistema tolerante que permitiu a convivência, por vezes pacífica, por vezes turbulenta, entre as religiões de Cristo e Maomé. E é dessa convivência que Kay retirou a essência da história que criou em Os Leões de Al-Rassan. Numa narrativa que antecipa o choque de civilizações que tanto tem vindo a marcar o nosso próprio tempo, Kay recorre à fantasia para recriar a sua própria versão dos eventos. Os cristãos transformam-se nos Jaditas, os muçulmanos tornam-se
revista BANG! [ 181 ]
Os Leões de Al-Rassan Guy Gavriel Kay Imagine uma Península Ibérica de fantasia, durante o período sangrento e apaixonante da Reconquista, onde realidade e fantasia se entrelaçam numa história poderosa e comovente Inspirado na História da Península Ibérica, Os Leões de Al-Rassan é uma épica e comovente história sobre amor, lealdades divididas e aquilo que acontece aos homens e mulheres quando crenças apaixonadas conspiram para refazer – ou destruir – o mundo. Lar de três culturas muito diferentes, Al-Rassan é uma terra de beleza sedutora e história violenta. A paz entre Jaddites, Asharites e Kindath é precária e frágil, mas é precisamente a sombra que separa os povos que acaba por unir três personagens extraordinárias: o orgulhoso Ammar ibn Khairan – poeta, diplomata e soldado, o corajoso Rodrigo Belmonte – famoso líder militar, e a bela e sensual Jehane bet Ishak – física brilhante. Três figuras cuja vida se irá cruzar devido a uma série de eventos marcantes que levam Al-Rassan ao limiar da guerra. “Um trabalho épico sem falhas na apresentação, de cortar a respiração na narrativa e construção de personagens” -The Evening Telegram Saida de Emergência / 2008 Preço: 22.94€ Na página da editora: 20.65€
Asharitas e os judeus são Kindates, numa terra chamada Al-Rassan. Em cada cultura uma personagem é destacada que representa o melhor da sua nação. Ammar ibn Khairan, livremente inspirado na figura do poeta e soldado árabe Ibn Ammar de Silves, é uma figura central nas intrigas políticas que estão prestes a mudar Al-Rassan para sempre. Ao serviço do novo rei Asharita, ele é traído e enviado para o exílio onde mais tarde será recrutado como mercenário na corte de Ragosa. Jehane bet Ishak, uma kindate física, salva um mercador de uma sentença à morte, mas põe em risco a sua própria vida, forçando-a a fugir da ira do rei. Rodrigo Belmonte, inspirado na lendária figura de El Cid, é um líder militar Jadita forçado a submeter-se aos impostos e ao domínio dos Asharitas. Os três são unidos pelo destino e cedo formam uma ligação especial de admiração, amor e respeito mútuo. Mas os eventos postos em marcha em Al-Rassan levam inevitavelmente ao confronto religioso, cultural e político e nem todos terão a capacidade para sobreviver num jogo cruel onde os vencedores podem tornar-se subitamente os vencidos… Kay é um escritor notável e sabe como criar uma narrativa convincente, com a medida certa de intensidade emocional e lírica, suspense de cortar a respiração, e um enorme talento para estabelecer uma ligação profunda entre o leitor e as personagens. E acredito que se superou em Ammar ibn Khairan of Aljais e Rodrigo Belmonte. Ao mesmo tempo que Kay retrata a faceta mais cruel e violenta desses homens, tempera-a com a compaixão e misericórdia dignas das grandes lendas que pertenceram às civilizações antigas. E se para algumas culturas ouve-se o canto do cisne, outras se insurgem e assimilam o passado, num ciclo infindável de conquistas, derrotas e novas conquistas. Os Leões de Al-Rassan poderá ser uma fantasia histórica, mas é, acima de tudo, um épico emocionante e realista que encarna as maiores virtudes, assim como vícios, dos povos que representa. E acaba inevitavelmente por expor também o verdadeiro sentido do termo choque de civilizações. BANG!
Deixe a sua opinião em: bang.saidadeemergencia.com
Bang! 5 Setembro 2008 - Trimestral
Uma publicação Saída de Emergência. Todos os direitos reservados. Redacção Av. da República, 861, Bloco D, 1º Dto. 275-274 Parede Editores Luís Corte Real Design Saída de Emergência Copyrights Textos e ilustrações, propriedade da editora e/ou dos respectivos autores revista BANG! [ 182 ]